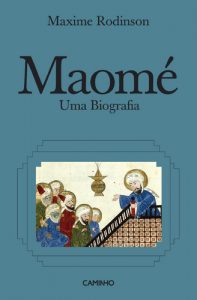Gravado em apenas duas noites, a 7 e 8 de janeiro de 1969, Com que Voz demorou 14 meses a chegar ao público, embora nunca estivesse em causa a genialidade de uma obra que ficará para sempre marcada na música portuguesa como o mais feliz encontro da voz de Amália com a música de Alain Oulman. Escreve Frederico Santiago, no booklet que acompanha esta nova edição do disco, que foram “duas noites triunfais”, o “apogeu de outras, onde se preparou (e conquistou) um milagroso culminar.”
Aos 12 temas que compõem o álbum original (todos eles com poemas de grandes nomes da poesia portuguesa, de Camões a David Mourão-Ferreira, passando por Ary dos Santos, Alexandre O’Neill, Pedro Homem de Melo, Cecília Meireles e Manuel Alegre), esta edição junta ao inolvidável conjunto do disco original nove faixas, intituladas “à maneira do Com que Voz”, como Amor sem Casa (com poema de Teresa Rita Lopes, que se crê ter sido gravada a pensar, precisamente, no álbum, muito embora não figure no seu alinhamento), Amêndoa Amarga (numa versão inédita, de 69, ano da gravação do disco) ou a praticamente desconhecida versão com quatro guitarras de Cravos de Papel (poema de António de Sousa).

Mas, este Com que Voz 2019 guarda mais e vibrantes surpresas, nomeadamente a primeira versão de Trova do Vento que Passa (apenas tocada por Fontes Rocha e Pedro Leal, e, segundo consta, a que mais agradava a Oulman) ou o “único take alternativo que sobreviveu” de Madrugada de Alfama. Como se não bastassem estas e outras preciosidades, a presente edição inclui um excelente ensaio do pianista clássico Nuno Vieira de Almeida onde, após uma detalhada análise tema por tema, se conclui estarmos perante “’’um’ disco perfeito.”
No ano em que passam 20 anos sobre a morte da inigualável Amália e antecedendo o centenário do seu nascimento, Com que Voz regressa às lojas em edição cd (em breve, também em vinil) e é disponibilizado nas plataformas digitais Apple Music, Spotify e YouTube.
O DESCOLA é uma provocação para todos os que concebem a educação como um ato de liberdade. Resultado do trabalho conjunto e da aposta continuada da Câmara Municipal de Lisboa na dimensão educativa do património cultural e artístico da cidade, este programa de atividades reflete a vontade de o fazer chegar a todos, e ao longo da vida, como fonte de inspiração e sentido de pertença. Dirigido especificamente ao público escolar, o DESCOLA representa um desafio assumido pelas equipas educativas municipais, da EGEAC e Direcção Municipal da Cultura, no sentido de desenvolver um programa de actividades criativas sustentado em colaboração estreita com mediadores, artistas e professores.
As actividades propostas pelo DESCOLA – alinhadas, repensadas e criadas de raiz –, tiveram sempre o Perfil do Aluno do séc. XXI como referência, e o património cultural e artístico de Lisboa como campo de pesquisa, de questionamento e de criatividade.
No DESCOLA estão mais de vinte agentes culturais municipais – museus, teatros, arquivos e bibliotecas – que acreditam na força educativa das artes e da cultura e querem participar, com professores e alunos, na construção de escolas que se afirmem como comunidades de aprendizagem, abertas e interventivas.
Programa integral
Inscrição na newsletter
O Dia Aberto do DESCOLA é a oportunidade para professores e educadores experimentarem algumas das atividades preparadas para o ano letivo 2019/20 e conhecerem as linhas orientadoras da programação. O Dia Aberto acontece a 21 de setembro, sábado, das 14h às 18h30, na Biblioteca Palácio Galveias.
Inscrições aqui.
Mais informações: descola@cm-lisboa.pt | T. 218 173 624
DESCOLA 2019/2020
por ciclo e por tipologia de atividades:
Introdução
Professores e educadores
Pré-escolar
1.º ciclo
2.º ciclo
3.º ciclo
Secundário
Serviços e equipamentos, informações e contactos para marcação
Isabel Abreu explica a génese do projeto. Tudo começa na admiração mútua existente entre ela e a fadista Aldina Duarte. Nasceu uma “vontade grande de nos juntarmos e de podermos trabalhar juntas. A Aldina falou de quatro fados que já faziam parte do repertório dela (no disco Contos de Fados, 2011): Ainda Mais Triste, letra de Manuela de Freitas (inspirado por Longa Jornada Para a Noite, texto de Eugene O’Neill do qual é protagonista Mary Tyrone), Branca, Branca, letra da mesma (baseado em Um Eléctrico Chamado Desejo, peça de Tennessee Williams, onde a figura principal é Blanche DuBois), Fado Com Dono, escrito por Maria do Rosário Pedreira (servindo-se do mito de Orfeu e Eurídice) e À Espera de Redenção, letra, uma vez mais de Manuela de Freitas (partindo da tragédia Medeia, de Eurípides). Às duas mulheres, a atriz e a fadista, reuniram-se dois homens: o ator, dramaturgo e encenador Miguel Loureiro, com quem Isabel Abreu já tinha trabalhado, e o pianista Filipe Raposo, trazido por Aldina Duarte de outras aventuras musicais.

O trabalho fez-se de uma sucessão de encontros para onde cada um trazia propostas que levaram à reflexão conjunta. As letras dos fados existentes proporcionavam uma primeira dramaturgia. Juntaram-se os textos canónicos das quatro personagens. Miguel Loureiro escreveu ainda um texto para as mesmas personagens. Finalmente a música trazida por Filipe Raposo, de sua autoria e também dos colossos Johann Sebastian Bach e Kurt Weill. “Tivemos uma gestão do tempo completamente diferente do habitual”, refere Isabel Abreu. “Tínhamos semanas em que nos encontrávamos dois dias.” Acrescenta o encenador: “Elas tiveram esta ideia há dois anos, depois surgiram as conversas iniciais, e houve um tempo para desenvolver a parte da escrita. Do que havia nestas personagens, três delas feitas no palco pela Manuela de Freitas, e a da Maria do Rosário que é uma personagem mais mitológica, Eurídice.”
Quatro pilares, quatro figuras que conduziram Miguel Loureiro às fontes da sua proveniência. Os autores, os textos que fizeram evoluir a sua escrita específica para o espetáculo. Um recital de músicas e palavras, com uma dramaturgia que faz incidir a luz nas zonas de sombra. “Fui descrevendo sensações numa espécie de itinerário com vento doentio, as notas musicais entendidas como condições atmosféricas que envolvessem os textos, e de gradações de desgraça: Blanche Dubois presa num colete de forças; Mary Tyrone viciada na morfina; Medeia lidando com a morte, com o assassínio; Eurídice num estado post mortem, no Inferno.”

O espetáculo abre com uma pontuação kurt weilliana de duas irmãs, ambas chamadas de Anna, e que são na verdade uma desdobrada em dois corpos, que amparadas uma pela outra avançam pelo cenário despido de tudo o mais, além do piano, de algumas cadeiras, e do equipamento necessário à apresentação da música, atravessado por uma iluminação bastante crua. Elas entram às cegas, para depois serem possuídas pelas quatro identidades que surgem da complementaridade ao trabalho de ambas. Uma atriz e uma fadista. “Não há nem houve nunca a intenção de ir fazer o que o outro faz. Vive-se mais da sensação do encontro e da comunhão. Podes servir o outro, mas nunca procurar fazer o que o outro faz.” Palavras, uma vez mais, de Isabel Abreu, que remete para a dinâmica pedida de empréstimo ao ballet satírico Sete Pecados Mortais, de Bertolt Brecht e Kurt Weill. O piano de Filipe Raposo dá o ponto de gravidade no palco, lança a noção de périplo e chega a deslocar-se em cena tal como as duas mulheres que darão voz e funcionarão como silhuetas das outras quatro.
“Não se trata propriamente do desejo erótico”, esclarece Miguel Maia antes de explicar que O Barão, a partir do texto de Branquinho da Fonseca com excertos do ensaio As Portas da Perceção de Aldous Huxley, é o primeiro tomo daquilo “que poderá ser um díptico ou, quem sabe, uma trilogia” de Estudos sobre o desejo.
Falemos então desse “desejo” que o encenador define como “um conceito que é fulcral na criação artística, por ser a força motriz de qualquer ato consciente ou inconsciente de criação”. Aqui, ele é moldado em cena, fazendo do “palco o lugar do desejo”, onde Inês Garrido, Isac Graça, Rita Marques e Telmo Mendes “competem por personagens como se fosse o ato de amor que cada um nutre por elas.”
Venham! De 11 a 21 Julho – Armazém 16 – Reservas: www.cepatorta.org/barao
Posted by Companhia Cepa Torta on Thursday, 4 July 2019
O ponto de partida é O Barão, para muitos a obra-prima de Branquinho da Fonseca, publicada em 1942, onde o escritor narra a chegada de um inspetor escolar a uma remota aldeia transmontana, tomando conhecimento da misteriosa e intimidante figura do Barão. Cada personagem do conto (desde os gatos vadios à Professora que apresenta o Inspetor ao Barão) permite aos atores encetar “um exercício de agilidade, transformando-se aos olhos do público numa e noutra personagem”, refere Isac Graça.
Este é o trabalho de ator no jogo teatral, o qual neste primeiro tomo dos Estudos sobre o desejo é encetado como um campo de pesquisa e experimentação. “Aquilo que lhes exigi foi que conseguissem contar a história do Branquinho da Fonseca”, sublinha o encenador acerca desta “cocriação dirigida”.
Mas, à obra do escritor beirão, Maia acrescentou ainda mais uma variável ao jogo: excertos do ensaio de Huxley sobre as suas experiências com mescalina. “Um modo de explorar o inesperado, de chegar à verdade das coisas para que exista a perceção de que não é só o corpo dos atores que se mostra. É, sobretudo, a sua mente ”, explica.
A partir destas “regras”, “cada um de nós foi livre para trazer-se a si mesmo ao jogo”, e a Branquinho, Huxley e outras referências “que convocámos em conversas e discussões sobre o desejo de criar este espetáculo”, juntaram-se palavras de cada um dos atores. Estudo sobre o desejo – Tomo I: O Barão transforma-se então numa viagem ao fazer teatral.
Em estreia num armazém industrial de Marvila Velha, com comboios a passar a poucos metros de distância, o espetáculo está em cena, de quinta a domingo, até 21 de julho. Em outubro, tem atuações agendadas para as Caldas da Rainha e para o antigo Cinema Passos Manuel, no Porto.
A amizade de 20 anos juntou as atrizes e criadoras Anabela Almeida, Cláudia Gaiolas e Sílvia Filipe num projeto que partiu da urgência de serem mulheres. Queriam evocar aquelas que se bateram pelos seus direitos, usar as palavras de personagens femininas que trespassam séculos e séculos de história com uma força indómita, mesmo na tragédia que ainda hoje continua a assolar milhares e milhares de mulheres vítimas de violência doméstica, abusos e assédio sexual e preconceito. Pretendiam juntar tantas e tantas autoras, como Virginia Woolf, Clarice Lispector ou Simone de Beauvoir, que marcaram todo um discurso no feminino, e feminista.

Mas, durante o processo criativo, e com a ajuda preciosa na dramaturgia de Alex Cassal e Judite Canha Fernandes, acabaram por acrescentar a tudo isso “qualquer coisa mais pessoal”, em que as personagens que interpretaram como atrizes e a cumplicidade que criaram enquanto amigas e mulheres penetram no diálogo. As três sozinhas torna-se assim um exercício íntimo e de exposição de sentimentos e emoções, habitado pela Anabela, pela Cláudia e pela Sílvia, e por toda uma multidão de mulheres que ecoam nas suas palavras e nos seus corpos, e fazem parte de cada uma delas.
Sobre um tapete de rebuçados de mentol, num misto de brilho festivo e doçura com a dor profunda que inflige quem os pisa, as atrizes oferecem um espetáculo muito pessoal, feminino (mesmo que assumam “não saber o que isso é”) e objetivamente feminista. Para partilhar com todas as mulheres, e com os homens também.
As três sozinhas integra a programação do 36.º Festival de Almada e está em cena até 14 de julho.
A correspondência será meramente simbólica, mas a retrospetiva quase integral da obra de Jean-Claude Brisseau (1944-2019) que a Cinemateca Portuguesa fará durante o mês de julho (de 2 a 30), remete-nos para a iniciativa semelhante de há ano e meio, ainda era vivo o cineasta, que a congénere francesa acabou por adiar e nunca vir a realizar.
O anátema sofrido por Brisseau tem origem na preparação do filme que o deu a conhecer em Portugal, e não só: Coisas Secretas (2002) assinala a última vez que o realizador dispôs de valores de produção ditos padrão, que se mantiveram na primeira meia-dúzia de longas-metragens para o cinema que dirigiu – de Un Jeau Brutal (1983) até Coisas Secretas – uma vez que o trajeto brisseauniano descreve uma curva bastante irónica onde observamos no começo e no final a mesma condição de amadorismo. Se, no início, isso tinha a ver com a experimentação de alguém que se situava fora do meio do cinema e que não dispunha dos recursos de um realizador profissional, anos mais tarde seria consequência de ter sido colocado fora do mesmo, na conclusão de um processo de assédio que resultaria o pagamento de uma indemnização e a condenação a um ano de pena suspensa. Um dos seus melhores filmes, Coisas Secretas, foi, assim, aquele que amaldiçoou o resto da sua carreira.

Jean-Claude Brisseau foi sempre um nome periférico na história da cinematografia francesa. O realizador nunca escondeu a maior influência que sentia da parte do cinema de fora do seu país (Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick ou Luis Buñuel) e os filmes que realizou mostraram sempre elementos idiossincráticos que os demarcavam de uma dominante realista feita do cuidado com que eram dados os aspetos sociais das suas histórias.
Desse período inicial, mas já na qualidade de realizador de profissão, destacam-se os títulos De bruit et de fureur (1988) e Noce blanche (1989), que refletem igualmente a atividade de professor de liceu que Brisseau desempenhou até aos 40 anos. Mas havia ali já uma dimensão sobrenatural, mística ou metafísica, que se acentuou decisivamente com um dos seus principais filmes, Céline (1992), e que trouxe uma marca tão individual que não mais abandonaria a obra de Brisseau.
Esta espécie de ligação ao cosmos, a outras dimensões, realidades e vidas, à figuração de fantasmas, que são na prática de Brisseau como que obscuros objetos do desejo, acompanhada de uma especulação científica e teológica que bebe das mais heterogéneas culturas e fontes do conhecimento, seria ainda reforçada nos seus últimos filmes, alguns de carácter doméstico, no sentido literal, porque filmados parcialmente na própria casa do realizador. São os casos de A Rapariga de Parte Nenhuma (2012), belíssimo filme-testamento que lhe granjeou o prémio máximo no Festival de Locarno, e o derradeiro Que o Diabo Nos Carregue (2018) de que Portugal foi um dos dois ou três países a estreá-lo comercialmente.

Esta completíssima retrospectiva da obra de Jean-Claude Brisseau dirige-se a iniciados e até aos maiores conhecedores da sua obra. Teremos a oportunidade muito rara de ver os seus filmes feitos para a televisão, La Croisée des Chemins (1975) e La Vie Comme Ça (1978), pela primeira vez mostrados na Cinemateca e em cópias digitais, e todos os restantes títulos por ele assinados que existem num suporte que permite a exibição, num total de 14 títulos, mais o documentário-entrevista com o realizador, Brisseau – 251 Rua Marcadet (2018), de Laurent Achard.
Aceitemos pois o desafio de procurar neste vasto obscuro, objetos partilháveis do desejo, que é uma outra forma de dizer em poucas palavras aquilo que constitui a essência do ato de ver cinema.
Desaparecido em maio passado, aos 75 anos, Jean-Claude Brisseau foi um cineasta muito falado nos últimos anos da sua vida, pelas piores razões. Muito falado, mas pouco visto: grande parte da sua obra, iniciada nos anos 70, permanece totalmente inédita em Portugal, e ao circuito comercial português os seus filmes só começaram chegar com regularidade a partir de CHOSES SÈCRETES, já anos 2000. Esta retrospetiva, que mostra todas as longas-metragens de Brisseau de que exista cópia física em condições de projeção, realizada agora na sequência da sua morte mas nos planos da Cinemateca há tempo considerável, será portanto uma revelação: pela primeira vez, em Portugal, um olhar de conjunto sobre uma obra crucial do cinema contemporâneo.Mais informações em: http://www.cinemateca.pt/CinematecaSite/media/Documentos/brisseau.pdf
Posted by Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema on Tuesday, 2 July 2019
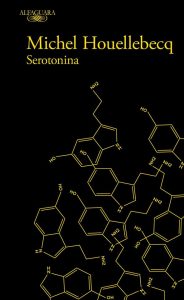
Michel Houellebecq
Serotonina
Habituámo-nos a procurar nos romances de Houellebecq sinais premonitórios ou sintomas de algo que se poderá manifestar através de um acontecimento traumático, e relativamente a Serotonina não tardou a aproximação justificada ao movimento dos coletes amarelos em França. No entanto, o aspeto mais radical do livro é outro e anuncia-se na página 48: “Os números eram impressionantes: por ano, mais de doze mil pessoas em França escolhem desaparecer, abandonar a família e refazer as suas vidas, às vezes do outro lado do mundo, às vezes sem mudarem de cidade.” É o que fará o protagonista deste livro: abandonar tudo, o trabalho, o apartamento, a atual companheira, e viver uma outra vida, não deixando nunca de ser quem é. Florent-Claude Labrouste deambulará pela França e pelas memórias das mulheres da sua vida, numa sucessão de encontros onde impera a frustração e o desespero. É uma personagem que busca uma réstia de humanidade e que testa a cada momento a sua capacidade de se desumanizar. A marca do pessimismo houellebecquiano volta a ser muito forte, mas perante tudo o que testemunham as suas personagens, podemo-nos perguntar se não será ele o último dos humanistas. Alfaguara

Maxime Rodinson
Maomé
Fundamentado a oportunidade de mais uma biografia de Maomé, o profeta do Islão, o autor esclarece que não apresenta nenhum facto novo. Procura, com base nos factos já conhecidos, refletir sobre as constantes das ideologias e dos movimentos de base ideológica e na forma com se manifestam nos acontecimentos que relata. Seguindo atentamente as controvérsias atuais sobre a explicação de uma vida pela história pessoal do herói na sua juventude e pelo seu micromeio, reconcilia-as com o ponto de vista marxista sobre a causalidade social das biografias individuais. E conclui: “Em suma, procurei ser ao mesmo tempo narrativo e explicativo”. A edição desta obra de referência permite ao leitor português, herdeiro de um forte contributo árabe na sua história, conhecer melhor esta civilização que volta a marcar os destinos do mundo, ultrapassando as crescentes perplexidades que ela desperta, alimentada de ideias simplistas ou demasiado genéricas. O rigor e a erudição do historiador aliam-se à formação do sociólogo e do orientalista, num texto que “narra e explica” exemplarmente. Caminho

Herman Hesse
As mais Belas Histórias
Hermann Hesse (1877/1962), prosador e poeta alemão, um dos mais importantes do século XX, cedo revelou a vocação literária que o faria abandonar os estudos de teologia e a carreira religiosa. Laureado com o Prémio Nobel de Literatura em 1946, deixou uma obra em que, sob influência da psicanálise e das religiões orientais, procura uma solução espiritual para os problemas e contradições da natureza e da cultura humanas. O Lobo das Estepes, Narciso e Goldmundo, O Jogo das Contas de Vidro, Peter Camenzind ou Sidarta são títulos de alguns dos seus principais e mais famosos romances. Certos críticos consideram, no entanto, que os seus contos atingem uma beleza e uma perfeição raramente igualada nas suas obras de maior fôlego. A presente seleção apresenta treze contos de diferentes temáticas, mas todos reportados a experiências pessoais vividas por protagonistas de quem nos sentimos próximos por nada possuírem de heróico, revelando um amplo espectro dos paradigmas do comportamento humano. Dom Quixote

Natália Correia
Antologia de Poesia Erótica e Satírica
De Martim Soares (1241?) a Dórdio Guimarães (1938- 1997), esta célebre antologia, com selecção, prefácio e notas de Natália Correia, reúne oito séculos de poesia portuguesa erótica e satírica. Depois vários livros seus terem sido apreendidos pela Censura do Estado Novo, a autora aceitou o convite do visionário editor da Afrodite, Fernando Ribeiro de Mello, para organizar esta Antologia. Publicada em dezembro de 1965, prometia “a poesia maldita dos nossos poetas”, “as cantigas medievais em linguagem actualizada”, “dezenas de inéditos” e “a revelação do erotismo de Fernando Pessoa”. O escândalo foi enorme e a obra apreendida pela PIDE, com vários dos intervenientes julgados e condenados em Tribunal Plenário, num processo que se arrastou durante anos. Republicada pela primeira vez com as ilustrações originais de Cruzeiro Seixas, incluindo novos textos introdutórios e reproduções de documentos que contextualizam este marco histórico na edição em Portugal, fundamental para todos os que acreditam no poder transgressor e subversivo da poesia. Ponto de Fuga
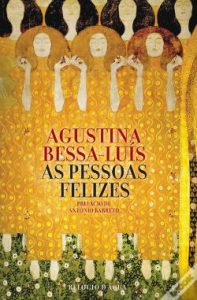
Agustina Bessa-Luís
As Pessoas Felizes
Nascida em 1922, desde cedo ficou patente a vocação literária de Agustina. A “Sibila”, de 1954, constitui um enorme sucesso e revela a sua mestria na arte do romance através da criação de “atmosferas onde se vão tecendo e emaranhando redes de factos semiperturbados por memórias ou pressentimentos que se adensam em personagens quase sempre estranhas, seja por antigos vícios de temperamento, seja por um irracionalismo quase predestinado das atitudes”. Recebeu em 2004 o Prémio Camões pelo conjunto da sua obra. Este romance tem por tema a família Torri, do Douro, que à semelhança de outras famílias burguesas do Porto, se sentia feliz nos anos cinquenta, mas que começa a perceber a ruina do seu país na década que precede a revolução do 25 de Abril. “É um romance que quase não tem enredo. Nem aquilo que se chama plot. Tem ambiente e tem história recordada. Não tem factos e até os sítios são poucos. Os locais de Agustina são as memórias, os sentimentos ou as consequências do real”, escreve António Barreto no prefácio à presente edição. Relógio D´Água

Ivo Meco
Jardins de Lisboa
O livro Jardins de Lisboa é mais do que um guia, é um conjunto de histórias de espaços, plantas e pessoas. É um convite a explorar o espaço e a vegetação de seis dos emblemáticos jardins de Lisboa: o Jardim Botânico da Ajuda, o Parque Botânico do Monteiro-Mor, o jardim da Estrela (Jardim Guerra Junqueiro), o Jardim Botânico de Lisboa, O jardim Botânico Tropical e a Estufa Fria. Um percurso pelos seus caminhos numa narrativa pessoal entrelaçada com a história do espaço e a identidade das plantas que neles existem. Paralelamente, pode ser usado como um pequeno manual de botânica geral, explicando de forma simples a diversidade de estruturas e pequenas curiosidades que as plantas encerram, desafiando a explorações para descobrir as espécies e os exemplares descritos, com a ajuda de fotografias. Ao passear pelos Jardins de Lisboa, autênticos tesouros de botânica e história, pode observar a mais velha Araucaria heterophylla de Portugal, sentir o toque aveludado das folhas da Kalanchoe beharensis enquanto olha o Tejo ou conhecer o brilho metálico das folhas do Strobilanthes dyerianus escondidas no coração da cidade. Arte Plural

Catarina Sobral
Greve
Um dia os pontos decidem fazer greve e o caos instala-se. Deixa de haver pontos finais, desaparecem os pontos de encontro, os pontos de vista e os pontos cirúrgicos. Ninguém se entende e torna-se impossível fazer o ponto da situação. A nova edição em formato pequeno do extraordinário livro de estreia da escritora e ilustradora Catarina Sobral, Prémio Internacional de Ilustração da Feira do Livro de Bolonha 2014, Prémio Ilustrarte 2016, Prémio SPA autores 2013, faculta o acesso dos jovens leitores e das suas famílias a uma obra de absoluta referência no universo da literatura infanto-juvenil. Trata-se de uma obra que funciona exemplarmente em dois níveis distintos: é divertida e estimulante para os leitores acima dos oito anos e exigente do ponto de vista conceptual e gráfico para os leitores adultos. Aborda os temas da linguagem e da comunicação com pleno dom da ironia: numa época em que abundam as mais sofisticadas tecnologias de comunicação tudo colapsa por causa de um simples sinal de pontuação. O texto, brilhante, com amplo recurso ao subtexto (e ao metatexto,) surge acompanhando de ilustrações à base de inspiradas colagens que remetem para as técnicas do cubismo ou de certa estética pop de Richard Hamilton, entre outras. Catarina sobral revela-se, com esta obra magnífica, uma autora completa. É um ponto de honra recomendá-la. Orfeu Mini
Entre 1975 e 2016, ano em que cessou atividade, foi a casa do Teatro da Cornucópia, uma das mais relevantes companhias de teatro independente do país. Fechado desde então, 2019 promete assinalar uma nova vida para o Teatro do Bairro Alto (TBA), não propriamente situada no animado bairro que lhe dá nome, mas ali a dois passos, numa rua paralela à da Escola Politécnica.
Sob direção do antigo programador de artes performativas da Culturgest, Francisco Frazão, a sala da Rua Tenente Cascais pretende afirmar-se como espaço dedicado à reflexão, criação e apresentação de projetos artísticos experimentais. Enquanto não abre portas ao público, o “novo” teatro municipal espalha-se pela zona envolvente, entre o Centro Jean Monnet e o Teatro da Politécnica, passando pela Reitoria da Universidade Aberta e pelo vizinho CAB, com Quase.
Este programa especial, compreendido entre 14 de junho e 7 de julho, é uma quase antecipação daquilo que será o renovado TBA: “nada será propriamente teatro, mas formas íntimas e invulgares que pensam e transformam o que as rodeia.”
Herman Melville apaixonado pelas histórias de marinheiros e do mar, às quais acrescenta uma dimensão metafísica e alegórica, fascinado pelo tema do mal e pelos aspectos mais sombrios da natureza humana. Jorge Luís Borges comparou as suas duas obras mais famosas, o monumental romance Moby Dick e o conto Bartleby, o Escrivão, encontrando “semelhanças na loucura dos dois protagonistas e na incrível circunstância de uma tal loucura contagiar todos os que os rodeiam”.
O poeta visionário Walt Whitman, através do seu idealismo democrático e do seu forte individualismo, ajudou a cunhar a identidade moderna dos Estados Unidos da América (EUA). A sua obra-prima em verso livre, Folhas de Erva, foi publicada em 1855 e continuamente ampliada até 1891. Pouco apreciado pelos seus contemporâneos, que consideravam as suas alusões ao corpo masculino e a dimensão sensual da sua poesia inapropriada, veio a exercer grande influencia nas novas gerações de poetas. Escreveu nas Folhas de Erva: “Na cabine dos navios em pleno mar” (…) “entre marinheiros jovens e velhos serei eu, uma reminiscência da terra, lido, /em plena harmonia, afinal”.
Uma série de eventos promovidos pelo Centro de Estudos Anglísticos da Universidade de Lisboa celebram o bicentenário do nascimento dos dois vultos maiores da Literatura dos EUA. Uma exposição na Biblioteca Nacional (31 de maio a 30 de agosto), contará na abertura com uma tertúlia com académicos, poetas e público em geral, assim como um concerto de canções spoken word com projecção de vídeo no âmbito de uma colaboração entre Bernardo Palmeirim, membro da banda NOZ, e jovens músicos ligados à Faculdade de Letras da ULisboa.
Um congresso internacional na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (3 a 5 de julho) explorará a estética associada aos oceanos assim como as dinâmicas literárias transnacionais que Melville, Whitman e vários escritores de ambos os lados do Atlântico forjaram, reunindo especialistas de todo o mundo, nomeadamente Dana Luciano (Rutgers University) e Mary Bercaw Edwards (University of Connecticut).
Por fim, o ciclo de cinema intitulado Melville and Whitman on the Screen decorrerá na Cinemateca Portuguesa de 1 a 15 julho. Recorde-se que entre as adaptações à sétima arte de obras de Melville se contam Moby Dick (1956), de John Huston, com Gregory Peck e Orson Welles, Billy Bud (1962), de e com Peter Ustinov, e As Ilhas Encantadas (1965), de Carlos Villardebó, que deu a Amália Rodrigues o seu mais intenso papel dramático no cinema.
Com as celebrações, pretende-se dar visibilidade à obra dos dois autores, colocar em destaque a relação atlântica EUA-Europa, bem como explorar o tema do mar nos estudos intercultuais e nas humanidades ambientais.
Algumas publicações
A Relógio D’Água editou, em 2005, Moby Dick com tradução de Alfredo Margarido e Daniel Gonçalves. O capitão Ahab impõe à sua tripulação a concretização do seu maior desejo: destruir a grande baleia branca. Para Ahab, o monstro que destruiu o seu corpo não é uma criatura, mas sim o símbolo de algo desconhecido que precisa dominar.
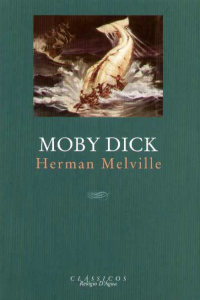
A E-Primatur editou, este ano, a ficção curta completa de Herman Melville. Numa tradução de Virgílio Tenreiro Viseu, o volume inclui contos tão famosos como Billy Budd, Marinheiro, Benito Cereno ou As Encantadas ou Ilhas Encantadas.
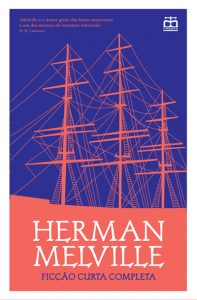
Com chancela da Relógio D’Água, Folhas de Erva foi publicada numa tradução de Maria de Lourdes Guimarães distinguida com o Grande Prémio Internacioanl de Tradução Literária 2002. Whitman reescreveu incessantemente a sua obra-prima, assumindo sempre que “os cantos mais belos e profundos ainda estão à espera de ser cantados.”
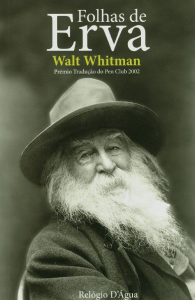
A editora Guerra & Paz publicou em 2017 Canto de Mim Mesmo conjuntamente com Saudação a Walt Whitman de Fernando Pessoa, poeta que, segundo Harold Bloom , era o maior herdeiro português de Whitman. A edição inclui uma apresentação de Jerónimo Pizarro.

Dos subterrâneos às movimentadas ruas de um qualquer bairro da cidade, lisboetas de hoje, residentes ou em trânsito, turistas de trolley ou ocasionais visitantes, todos vivem um dia buliçoso nesta nossa Lisboa. E nada, nem ninguém falta à chamada no novo espetáculo do Teatro Meridional.
Ainda o dia não raiou e já as senhoras da limpeza chegam à cidade, vindas dos bairros periféricos; um grupo de jovens amarga a ressaca de uma noite de copos; uma ou outra pessoa surge em passo acelerado para chegar ao emprego; um homem passeia o cão e uma jovem faz jogging para manter a silhueta escultural…
Chega um turista, e depois outro… e outros, muitos outros. Encantam-se e tudo fotografam, e partilham nas redes sociais. Lisboa está mesmo na moda, e até as tascas deixaram de ser tascas para se transformarem em restaurantes gourmet com assinatura de chef…
Que entrem os turistas, que a cidade mudou de vez. Que o diga a senhora que mora só, ou aquela que espera infinitamente pelo autocarro. E lá vêm as trotinetes, e até políticos a prometerem quimeras enquanto os vizinhos do lado deixam a casa onde viviam porque esta Lisboa é cada vez menos para quem cá mora…
Sucedem-se os personagens: o polícia e um vendedor ambulante; um fiscal de estacionamento; um ambicioso vendedor de imóveis que, se puder, até vende o miradouro de onde os apaixonados contemplam o Tejo. E lá está o investidor chinês a trazer capital estrangeiro à capital que outrora foi do império. Menos glamorosos, o pedinte e a romena com um filho ao colo; ou o artista de rua que tenta seduzir turistas na esplanada; ou o cantoneiro que faz os possíveis para manter a rua limpa, muito embora sem sucesso; ou as pessoas comuns dos bairros, últimos resistentes (até quando?) do fenómeno de gentrificação…

Todos são protagonistas nestas Histórias de Lx que desfilam aos nossos olhos como tiras de banda desenhada, sucedendo-se a um ritmo frenético. Personagens que contam as suas pequenas histórias quotidianas através de movimentos coreográficos que dispensam, quase sempre, as palavras.
Quase todas mostram como é fácil amar Lisboa, com aqueles seus contrastes entre o tradicional e o moderno, com a sua diversidade pincelando as ruas de cores e de cheiros de cá e de todo o mundo. Mas, estas Histórias de Lx comportam também o drama daqueles que sentem o seu amor não correspondido. São muitos a experenciar uma cidade que não os quer por cá. Nem nos restaurantes, nem nos miradouros e nas ruas estreitas dos bairros típicos, nem mesmo nas casas onde nasceram, cresceram, viveram e, num mundo mais justo, teriam o direito de morrer.
O aparente olhar festivo, que o desfile incessante de personagens parece evidenciar, vai sendo imbuído de melancolia e inquietação. Sem comprometer o tom poético que é timbre das criações do Meridional, as mensagens ganham formas mais explícitas. Por isso, perguntámos à encenadora Natália Luiza se este é um espetáculo político. “É um espetáculo onde assumimos um posicionamento, um comprometimento com a cidade através do teatro”. Nada mais premente, ainda mais, no mês em que Lisboa se festeja nas ruas.
Inserido no programa de comemorações dos 125 anos do Teatro Municipal São Luiz, Histórias de Lx está em cena de 5 a 16 de junho, na Sala Luís Miguel Cintra.
paginations here