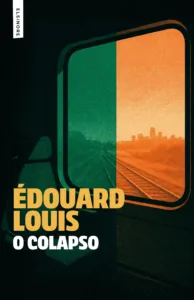O magnífico vestido de gala assinado pelo ateliê Alves/Gonçalves que Lígia Soares usa no seu mais recente solo custou, assegura a própria, 20.695 euros. Com todo o dinheiro disponível para este projeto artístico investido no luxuoso figurino, não é de surpreender que a artista esteja obrigada a ter à sua volta todo o equipamento habitualmente operado pela equipa técnica. No caso, Lígia está em cena rodeada por consolas que controlam a luz e o som, por pés de microfone e tripés e por fios e extensões que ligam todo esse material à corrente elétrica.
O vestido que enverga começa por contrastar o luxo com o espaço em bruto, um lugar de despojamento que não está, de todo, distante daquele que é, segundo a criadora, o cenário atual do setor da cultura em Portugal. Venha, então, a provocação: como é que, perante a precariedade e a dependência de dinheiros públicos do sector, a autora e intérprete se pode apresentar em palco vestida deste modo?
Lígia começa por responder à contradição logo no início da peça, apontando o vestido como “perfeito para levar a uma gala de prémios, no caso de o espetáculo vir a ser nomeado”. Evidentemente, não deixa de ser quase uma excentricidade relacionar com a cultura uma imagem glamorosa como aquela que se testemunha anualmente nas galas de prémios que passam na televisão. “Há neste lado da visibilidade associada à criação artística um potencial dilema, uma contradição que para mim não está resolvida”, explica. Nessas galas, “há toda uma ideia de espetáculo” que relaciona os artistas “ao glamour, ao privilégio e às classes altas. São a representação de uma comunidade que reflete uma imagem acima da sua realidade económica e social, entrando mesmo em contradição com o seu próprio discurso enquanto artistas”.

Assumindo ter “uma vida muito pouco glamorosa”, e duvidar convictamente de algum dia vir a ser chamada para receber um prémio numa qualquer gala televisionada, Lígia prossegue, em Dressing Room, o seu trabalho em torno das questões de classe, confrontando a atualidade com o peso das palavras, e assim despindo, através do recurso à ironia e ao sarcasmo, muitas das ambiguidades e contradições da nossa sociedade. A partir do objeto de luxo que a veste, não aponta apenas a si e aos artistas, mas a todos nós, a plateia que, tal como no título do livro de Guy Debord, é parte daquilo que o escritor e filósofo francês nomeou como “a sociedade do espetáculo“.
“Ao impor ao meu corpo este vestido de gala estarei a alimentar essa ideia de espetáculo, ou a expetativa do que é espetacular”, questiona Lígia no trilho do pensamento de Debord. Ao fazê-lo, “não estarei a colocar-me na antítese daquilo que parte dos artistas procuram nos seus próprios discursos e na sua linguagem anti-espetacularidade”?
Importa, mesmo no final de Dressing Room, perceber se o que mais contou foi a imagem ou as palavras, isto é, se o artigo muito caro, maravilhoso e ofuscante que a intérprete enverga vale mais do que os conceitos com que a mesma confrontou a plateia ao longo de cerca de 80 minutos. Poderá o aparato ter-se sobreposto à mensagem que serve para expor as desigualdades, a pobreza e a hipocrisia do privilégio neste mundo imperfeito?
Talvez a resposta venha a ser procurada já fora da sala de teatro. Contudo, nunca se sabe se, antes de sair, Lígia Soares não a tentará antecipar junto de si, espectador. Imagine, ali mesmo, caber-lhe a decisão de votar democraticamente qual a sorte imediata a dar ao vestido de 20.695 euros.
Dressing Room estreia-se esta quinta-feira, dia 4, na Escola do Largo, ao Chiado, permanecendo em cena, de quinta a domingo, até 14 de dezembro.
Justa chega às salas de cinema a 4 de dezembro, oito anos depois do último trabalho da realizadora, Colo. Esta coprodução luso-francesa, protagonizada por Betty Faria, Filomena Cautela, Robinson Stévenin, Ricardo Vidal, Anabela Moreira e Madalena Cunha, foi tema para uma conversa com a realizadora, onde se aborda o método de construção da narrativa e as personagens que nela habitam.
O filme tem a sua génese nos trágicos fogos de Pedrógão. O que a levou a encontrar nestes acontecimentos motivação para contar esta história?
Como a todos, custou-me imenso ouvir aquelas notícias, pois são coisas que não costumam acontecer com aquela dimensão. Um ano depois, mais ou menos, tive de passar naquela zona e, em primeiro lugar, do ponto de vista visual era impressionante porque só se via negro, negro, negro, ao longo de quilómetros e quilómetros. Parecia mesmo que tínhamos entrado num outro mundo. Depois presenciei um episódio. Perdi-me por umas estradas e vi uma senhora, mais velha, sentada numa cadeira a olhar para um vale e para uma montanha que estavam todos pretos. Intrigou-me imenso. Questionei-me: o que faz esta pessoa estar ali? A olhar para quê? A pensar em quê? Fiquei com essa imagem na cabeça e pensei ir falar com ela, mas não fui. Não a esqueci. Por vezes, há qualquer coisa que se ouve, ou vê, e que está sempre a voltar. Isso levou-me a querer conhecer as pessoas das várias aldeias que enfrentaram os incêndios de 2017. Contactei a Associação das Vítimas de Pedrógão e fui lá. Depois foi um processo impressionante.
Falou com os sobreviventes e vítimas dos incêndios?
Sim. Cheguei lá um ano depois da tragédia e a sensação que tive foi que ainda estavam todos em estado de choque. Fui sozinha, não levei ninguém comigo. Nem câmara, nem microfone. De um modo geral as pessoas receberam-me em casa. Os que tinham casa… As histórias que fui ouvindo, a maneira como as pessoas as contavam, o olhar delas… sendo que umas eram mais velhas, outras eram miúdos que tinham perdido os pais. Foi muito forte, nunca tinha tido uma experiência assim. A partir daí comecei a sentir que devia escrever. Escrevi várias versões até chegar a esta. Levei ainda muito tempo a encontrar o tom.

A Justa e as personagens que, como ela, vivem o impacto direto da tragédia tentando prosseguir a sua vida. Mas, apesar de se apoiarem uns aos outros, há uma enorme desesperança. Foi este sentimento que quis transmitir?
O que aconteceu não dá para “desacontecer”, mas as pessoas vão sobrevivendo. Apesar de tudo, vemos no filme que há ligações entre as personagens, porque no fundo todos, cada um à sua maneira, viveram aquela tragédia. Portanto, de alguma forma, eles têm uma coisa muito forte em comum e se forem para outro lugar isso desaparece. Houve uma coisa muito interessante que me ocorreu neste processo. Pensei que alguém que viveu aquilo, naquele local, e perdeu pessoas da família, quereria ir para outro sítio. Mas não. Acho que isso, embora não seja dito no filme, está presente na narrativa. De alguma maneira aquele território é, por um lado, o que liga aquelas pessoas àqueles que perderam. Por outro lado, se saírem dali ninguém os vai entender. Este sentimento é muito comum a todo o tipo de tragédias, sejam guerras ou catástrofes naturais, se formos para outro lugar nunca vamos ser iguais às outras pessoas. Nós que estamos de fora podemos imaginar, mas é só isso. Temos muita coisa em comum com aquelas pessoas, somos humanos, queremos ajudar-nos uns aos outros, mas aquilo que eles viveram nós não vivemos e nunca vamos compreender totalmente.
A fotografia de Acácio de Almeida revela a paisagem de forma sublime e, à semelhança das personagens, reflete a tragédia. Podemos afirmar que a paisagem é também uma personagem da narrativa?
Sim, completamente. A paisagem é um personagem e devolve-nos o que ocorreu, isto é, Quando olhamos para a natureza e vemos que algo muito grave aconteceu, a natureza parece devolver-nos esse olhar. Quando nos deparávamos com aquela zona ardida havia uma sensação de imponência. Apesar de estar tudo preto, aquilo era imponente no sentido em que havia uma força e um silêncio que nos era devolvido. O silêncio era enorme, porque não havia animais, não havia nada. Era impressionante.
O elenco inclui atrizes consagradas, mas também não atores, como Madalena Cunha no papel de Justa. Porquê a escolha de incluir atores que não são profissionais?
Já fiz isso muitas vezes e não vejo nenhuma complicação em misturar não profissionais com profissionais. Por exemplo, para a Betty Faria, que é uma atriz fantástica, com décadas de carreira, foi de uma naturalidade imensa contracenar com aquelas pessoas. Os atores nunca gostam de ouvir isto (e eu adoro atores e adoro trabalhar com atores profissionais, é uma profissão que admiro imenso), mas há alturas em que preciso de uma pessoa que ainda não tenha nenhum conceito sobre a representação. Alguém que eu sinta que tem muita vida dentro e que se a filmar não precisa de estar propriamente a representar. Foi o que aconteceu com este filme. Claro que eles também representam, porque não são aquelas personagens, mas é
uma primeira vez e ao apanhar essa primeira vez de alguém, consegue-se sempre muita coisa que depois nunca mais volta a estar lá.

A psicóloga, interpretada por Filomena Cautela, é a única personagem que não viveu a tragédia, nem pertence à localidade. Embora também tenha vivido um grande trauma, é ambígua. Pode falar-nos um pouco sobre ela.
A Lúcia, a personagem da Filomena Cautela, é difícil de explicar. Mas percebemos que não vive em Portugal e que, por algum motivo, se sentiu atraída por aquelas circunstâncias. Foi para ali com o intuito de ajudar, de resolver, mas não conseguiu nem resolver as questões das outras pessoas, nem as dela. De alguma maneira, se eu quiser ser 100% honesta, muito daquela personagem sou eu. Porque, como a Lúcia, eu também fui lá, ouvi aquelas pessoas e depois vim-me embora.
Os seus filmes retratam, frequentemente, realidades duras e trágicas. Imigração, marginalidade, problemas económicos. É com o intuito de não deixar esquecer estas vivências que conta estas histórias?
Sim, acho que se faz cinema com essa intenção. Quando me inteiro de certas realidades fico de alguma maneira ligada às pessoas que conheci e sinto a necessidade de partilhar aquilo que aprendi.
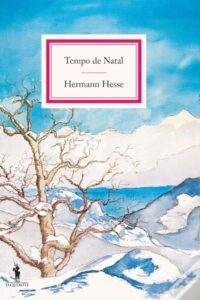
Herman Hesse
Tempo de Natal
Hermann Hesse (1877-1962), prosador e poeta alemão, um dos mais importantes do século XX, cedo revelou a vocação literária que o faria abandonar os estudos de teologia e a carreira religiosa. Laureado com o Prémio Nobel de Literatura em 1946, deixou uma obra em que, sob influência da psicanálise e das religiões orientais, procura uma solução espiritual para os problemas e contradições da natureza e da cultura humanas. O Lobo das Estepes, Narciso e Goldmundo, O Jogo das Contas de Vidro, Peter Camenzind ou Sidarta são títulos de alguns dos seus principais e mais famosos romances. O Natal provocava em Hesse um sentimento dicotómico. Por um lado, despertava “memórias profundas e sagradas da mítica fonte da infância”. Por outro, podia “ser uma espécie de ampola de veneno, contendo em si a essência de todos os sentimentalismos e hipocrisia burguesas, (…) ensejo para furiosas orgias da indústria e do comércio”. Os textos (prosa e poesia) ora reunidos, organizados pela ordem cronológica do seu surgimento, testemunham essa dualidade, formada, quer pela reverência, quer pelo distanciamento sarcástico em torno de uma festa que abusou “de modo tão detestável do nome do Salvador e das memórias dos nossos anos mais tenros.” LAE Dom Quixote
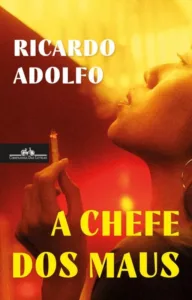
Ricardo Adolfo
A Chefe dos Maus
A assistente pessoal do chefe dos chefes de uma empresa de criminosos da cidade de Tóquio é convocada para uma reunião de direção (“Se mais reuniões se fizessem por esse mundo fora, tudo seria um pouco mais idiota e uma fonte de alegria para os dias de todos nós.”). A sede emitiu uma diretriz para aumentar a diversidade nos quadros dirigentes (“Além de mais senhoras a trabalhar, temos que ter pessoas de mais cores e uns poucos deficientes.”). A assistente, de forma espontânea, lança uma sugestão que lhe vale a nomeação a estagiária de chefe (“Eu sabia que não era boa a ter ideias, mas nunca achei que pudessem ser tão más que resultassem numa promoção”). Acompanhamos, então, o seu percurso sucessivo como gerente de bares de alterne, executora de cobranças difíceis, passadora de droga. Ricardo Adolfo, um dos mais originais escritores portugueses, produz um novo romance que lança um olhar implacável sobre os vícios da humanidade e os valores das sociedades contemporâneas. Literatura em carne viva onde a mordacidade e o sarcasmo andam de mãos dadas com a violência e o horror. As relações de poder, a ambição, as falsas noções de ética não são exclusivas deste grupo de criminosos, enformam “toda a ordem do mundo” que só é “sustentável embriagada por muito deboche”. LAE Companhia das Letras

Annie Ernaux
A Escrita como uma Faca
Annie Ernaux e o escritor e professor Frédéric-Yves Jeannet já tinham por hábito corresponderem-se sobre o trabalho de ambos, quando decidiram intensificar a troca de e-mails nos anos de 2001 e 2002, incidindo então especificamente sobre a escrita de Ernaux. Na época desta longa entrevista, a escritora francesa debatia-se com o projeto de contar uma vida de mulher, que era parcialmente a sua, que tanto se distinguia como se confundia com a da sua geração. Esse livro em gestação viria a ser Os Anos (Prémio Marguerite Duras 2008, em França; e Prémio Strega 2016, em Itália), um dos títulos mais celebrados da autora que se encontrava muito longe de imaginar que seria distinguida com o Nobel da Literatura em 2022. Em A Escrita como Uma Faca, que Ernaux qualifica de “exame de consciência literária”, todas as questões colocadas dizem respeito ao seu método de trabalho, alicerçado na memória. “Se tivesse uma definição para a escrita, seria esta: descobrir, ao escrever, o que é impossível descobrir de outro modo qualquer, seja palavra, viagem, espetáculo, etc. Nem a reflexão sozinha. Descobrir qualquer coisa que antes da escrita não estava lá. É esse o prazer – e o assombro – da escrita, não saber o que ela faz acontecer, advir.” RG Livros do Brasil
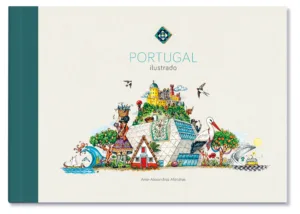
Amir-Alexandros Afendras
Portugal ilustrado
Portugal Ilustrado é um guia em forma de dicionário visual que abrange regiões de todo o país, desde Portugal continental às ilhas da Madeira e dos Açores. Recheado de belas ilustrações a tinta e aguarela, o livro prescinde de texto (com exceção das legendas a português que acompanham cada imagem) tornando-o acessível a miúdos e graúdos, visitantes e naturais do país. Ao longo das suas 60 páginas muito há a descobrir, dos símbolos culturais e figuras notáveis, da arquitetura à gastronomia, da fauna à flora: Camões e Amália, Almada e Saramago, o Mosteiro de Alcobaça e o MAAT, o Zé Povinho e o azulejo, o lobo ibérico e o cavalo lusitano, o caldo verde e o cozido à portuguesa, o arroz-doce e a queijada de Sintra… O seu autor, Amir-Alexandros Afendras, jovem grego-malaio que reside há 15 anos em Lisboa, afirma: “Quando cheguei a Portugal, tudo me parecia novo e fascinante. Comecei a desenhar para guardar o que via”. Esta obra cativante é o produto dessa prática: o olhar generoso de um imigrante que com um talento singular nos devolve o melhor que temos neste país. “Portugal é um país pequeno, mas sublimemente complexo”, escreve o autor. Quase ficamos com pena que não seja maior para este livro ter mais páginas. LAE Majericon

Camilo Castelo Branco
Maria! Não me mates, que sou tua mãe!
Uma edição pequenina, feita numa parceria entre a editora de audiolivros Boca e a Peripécia Teatro, no ano do bicentenário de Camilo Castelo Branco. É, portanto, um livro que se pode ler, ver e ouvir (através de um QRcode). Inserida no projeto ContoContigo, tem ilustrações de Susa Monteiro, fotografias de Lino Silva e Vítor Santos e uma gravação áudio do texto, com interpretação de Patrícia Ferreira, encenada por Nuno Pinto Custódio, e excertos de músicas dos Danças Ocultas. Maria! Não me mates, que sou tua mãe! é um conto escrito por um jovem Camilo e publicado pela primeira vez em 1848 sob a forma de folheto de cordel, tendo como inspiração um matricídio real: “Meditação sobre o espantoso crime acontecido em Lisboa: uma filha que mata e despedaça sua mãe. Mandada imprimir por um mendigo, que foi lançado fora do seu convento, e anda pedindo esmola pelas portas. Oferecida aos pais de famílias e aqueles que acreditam em Deus”. Um texto que continua a deliciar-nos quase dois séculos depois, cheio de melodrama e de referências à então vigente moral cristã. “Tudo indica que o fim do mundo está chegado”, já anunciava Camilo. GL Boca
Édouard Louis
O Colapso
“Não senti nada ao saber da morte do meu irmão; nem tristeza, nem desespero, nem alegria, nem prazer”. Consumido por uma existência entregue à delinquência, ao álcool e à violência, o corpo do irmão mais velho de Édouard Louis colapsou com apenas 38 anos de idade. Confrontado com a notícia, o autor consciencializa-se que nunca conheceu, nem compreendeu o irmão. Empreende então um inquérito junto dos amigos, familiares e das mulheres com quem o irmão viveu, com o propósito de encurtar “a distância entre nós os dois”. É o resultado dessa investigação que aqui surge, apresentado em 16 factos que revelam uma vida que foi “uma Ferida lançada ao mundo e incessantemente reaberta” e que refletem sobre a questão de saber “em que momento é que certos atos se tornam destino? Até que momento é que alguém (…) podia ter mudado o curso que a vida dele tomava?” Édouard Louis regressa ao doloroso processo de revisitar os seus vínculos familiares (“Quem é que pode saber a diferença entre o que magoa e o que liberta?”), numa zona operária das mais pobres do norte da frança, criando mais uma obra de grande força política sobre o círculo de violência no espaço doméstico e sobre o destino de classe. LAE Elsinore
Elvis Guerra
Ramonera
Ramonera é a primeira obra poética no catálogo das edições Orfeu Negro, e a primeira edição bilingue publicada em Portugal na língua indígena zapoteca e em português. Elvis Guerra é uma poeta muxe’ de Juchitán de Zaragoza, no México. Muxe’ é uma identidade transfeminina não binária que se refere a pessoas que ao nascer foram designadas como femininas, mas que não se identificam como homens nem mulheres, embora adotem, em diferentes graus, uma expressão de género feminina. Contudo, ser muxe’ não é somente uma questão de género: abrange também fazer parte do povo zapoteca, preservar a língua, cultura e costumes e ocupar um lugar próprio na comunidade. Tradicionalmente, cabia-lhes tratar dos familiares idosos e doentes, do trabalho doméstico e organizar festas tradicionais e religiosas. Mantinham também a função de iniciar sexualmente os homens. Elvis Guerra reflete, através da sua obra indígena e cuir, sobre a dissidência de género e a etnicidade, propondo uma crítica da exclusão e da violência exercida sobre os corpos que se reconhecem em identidades não-binárias. No poema Ao Menino que Fui, escreve: “Nasci e era um bebé muxe. / (…) Nasci para dançar de saltos altos / e com um livro na cabeça. / Nasci a pedir que me lessem o mundo. / Nasci livre. O resto é poesia.” LAE Orfeu Negro

Tatiana Salem Levy
A Chave de Casa
“Não tenho a mais ínfima ideia do que me aguarda nesse caminho que escolhi. Da mesma forma, não sei se faço a coisa certa”. A protagonista de A Chave de Casa parte “em busca de um sentido, de um nome, de um corpo”, parecendo-lhe que se “refizesse, no sentido inverso, o trajeto dos meus antepassados, ficaria livre para encontrar o meu”. Depois de o avô lhe ter deixado a chave de uma casa onde morou, na Turquia, embarca numa dolorosa viagem em busca, não só dos seus antepassados, mas de si própria. Poder-se-á dizer que é antes uma fuga para combater o estado de imobilidade em que se encontra, e fugir de um amor excessivo que a levou a conhecer a loucura. Não tendo mais a fazer na Turquia, vem a Portugal na tentativa de descobrir as suas origens reencontrando “a palavra amor”. Frequência habitual no nosso país, Tatiana Salem Levy conta-nos que ao vir do Brasil para Lisboa, em 2013, nada esperava encontrar. Porém, hoje afirma: “Lisboa é a minha casa.” Galardoado com o Prémio São Paulo de Literatura em 2008, e há muito esgotado em Portugal, A Chave de Casa, livro de cariz autobiográfico, tem agora uma nova edição revista pela autora. SS Elsinore

Éric Chacour
O que Não Sei de Ti
Tarek, médico proveniente da burguesia sírio-libanesa do Cairo, e Ali, jovem prostituto que vive com a mãe em Zabbaleen, região habitada pelos catadores de lixo, conhecem-se no âmbito do trabalho social do primeiro, e vivem uma ligação proibida no Egito da década de 1980. “A vossa diferença de idade, quase quinze anos, a educação, a profissão, a família, o estatuto, a religião… Contas feitas, a única coisa que vocês tinham em comum era serem homens no Egito, num século XX moribundo. Esse raro ponto em comum, porém, iria condenar-vos mais que qualquer outra diferença.” O livro de Éric Chacour exprime o ponto de vista de um terceiro elemento, com recurso a fontes escritas ou relatos diretos que a seu tempo serão do conhecimento do leitor. Na verdade, o que temos na frente são duas histórias de amor que o livro torna paralelas com recuos e avanços no tempo, em continentes distintos, até ao início do novo século. Numa escrita poética e cinematográfica, Chacour revisita o tempo e a geografia dos seus pais, para libertar do opróbrio o destino do par de amantes clandestinos, e devolver-lhes um enquadramento que provém de um tempo de tolerância e compreensão. RG Alfaguara

Stefan Zweig
Um Mundo Cada Vez Mais Monótono
Poeta, biógrafo, ensaísta, dramaturgo e novelista austríaco, Stefan Zweig (1881/1942), filho de um rico industrial judeu, pertencia a um círculo intelectual que incluía Maximo Gorki, Romain Rolland, Rilke, Rodin, Freud ou Richard Strauss. As biografias que escreveu, de Balzac, Nietzsche, Tolstói, Erasmo de Roterdão ou do grande navegador português Fernão de Magalhães, entre outros, contam-se entre os melhores exemplos literários da influência de Freud, especialmente no que concerne à análise da obra dos biografados e do seu respetivo processo criativo. Apesar de todas as alegrias que as suas múltiplas viagens lhe proporcionaram, o autor retirou delas uma forte impressão espiritual: a monotonização do mundo. Neste curto ensaio sobre a uniformização das sociedades, tema de particular pertinência na nossa era digital, elege quatro exemplos: a dança, o cinema, a rádio e a moda (“O cristianismo e o socialismo precisaram de séculos ou décadas para conquistar seguidores e difundir preceitos; um modista parisiense escraviza hoje milhões em oito dias”). Todos eles cumprem o ideal supremo da mediania: “proporcionar prazer sem exigir esforço”. E conclui: “Quem hoje ainda exige independência, escolha pessoal, personalidade mesmo no prazer, parece ridículo perante uma força tão avassaladora.” LAE Relógio D’Água
Foi durante a adolescência que Rita Redshoes percebeu que queria fazer da música a sua vida. Com apenas 14 anos fez parte de uma banda na escola secundária, e, apesar de ter estudado Psicologia, acabou por seguir o seu primeiro instinto. Foi membro dos Atomic Bees, cantou com David Fonseca, GNR, The Happy Mess, The Legendary Tigerman, Sérgio Godinho, Mano a Mano ou Luísa Sobral (para mencionar apenas alguns nomes), lançou vários discos, colaborou em bandas sonoras e também escreveu livros (alguns para crianças). Lado Bom, o seu último disco, saiu em 2021 e é o primeiro onde canta integralmente em português.
Agora, Rita está de volta aos palcos com o projeto Rita & Os Usados de Qualidade. Recente no panorama musical português, o grupo é composto por nomes bem conhecidos do público, como José Peixoto (guitarra), Manuel Paulo (piano), Norton Daiello (baixo) e Ruca Rebordão (percussão). Criado com o intuito de celebrar a música na sua forma mais pura, a banda interpreta composições de João Monge que falam de amor, vida e experiências partilhadas. O projeto tem uma identidade musical muito própria e percorre diversos estilos, já que os seus membros vêm de diferentes meios musicais.
Habitar a Contradição, de Carlos Bunga
Patente no Centro de Arte Moderna da Fundação C. Gulbenkian
Até março de 2026
Habitar a Contradição é uma das exposições mais pessoais e complexas de Carlos Bunga, patente no CAM. Nela, o artista explora os limites da pintura e da forma, expandindo o seu trabalho para o desenho, a escultura, a instalação, a fotografia e vídeo. Inspirada na obra My first house was a woman 1975 (2018), a exposição parte de uma memória pessoal (a migração da mãe do artista de Angola para Portugal) para refletir sobre identidade, deslocamento e transformação. Sobre o trabalho de Carlos Bunga, Rita diz “leva-nos a caminhar pelo seu espaço ora frágil, ora robusto, onde nos vamos sentindo pequenos e achados ou perdidos e reais”.

Lago dos Cisnes
Pelo Ballet de Kiev
A 5 e 6 de dezembro, no Teatro Tivoli BBVA
“Chegar a dezembro e não assistir a um espetáculo de bailado leva-nos quase a crer que o Natal não existe. Felizmente temos oportunidade de sonhar em delicadeza”. O Lago dos Cisnes é outra das recomendações de Rita para esta semana. Esta obra clássica – que conta com coreografia de Marius Petipa e música de Piotr Tchaikovsky – aborda a dualidade entre o bem e o mal, representada pela pureza do cisne branco, Odette, e pela duplicidade de Odile, cisne negro e filha do feiticeiro. Um clássico imperdível nesta época natalícia, agora dançado pelo Ballet de Kiev.
Para os Caminhantes Tudo é Caminho, de José Tolentino Mendonça
Quetzal Editores
O mais recente livro de José Tolentino Mendonça foi publicado em novembro e fala sobre a vida, o amor, a morte e o perdão. Para os Caminhantes Tudo é Caminho foca-se no tempo acelerado em que vivemos, e reflete sobre a procura individual de um caminho, propondo a esperança como resposta ao fatalismo. “O poeta escritor que nos desperta em cada livro para um ato de generosidade e esperança perante a vida e curiosidade sobre a existência. É mais uma pérola nos nossos caminhos literários”, refere Rita.
No Entrepiso do LU.CA, encontramos Philosophiæ Naturalis da Professora Clarice, uma exposição que apresenta o resultado de uma “investigação” (muito pouco científica, mas altamente imaginativa) sobre aquilo que perdemos ao longo da vida. Nesta mostra da ilustradora Catarina Sobral, o visitante é recebido por um tratado “bio-mecânico-histórico-antropológico-sentimental” que mapeia a anatomia, os habitats, a evolução das espécies e até os comportamentos das coisas que se evaporam do quotidiano.
Entre causas perdidas e objetos famosos que desapareceram sem deixar rasto, a exposição convida a observar e a brincar. Grandes ilustrações em lona estão espalhadas pelo espaço e, através de um percurso interativo, as crianças são desafiadas a descobrir e recolher essas coisas perdidas, como pequenas investigadoras ao serviço da memória.

Também este mês, a partir de dia 3, sobe ao palco Perder, com a jovem atriz Mar Bandeira. Esta peça de teatro acompanha Clarice na véspera de ir acampar com a avó. Na mala, a menina leva tenda, saco-cama, lanterna, cão de peluche e o livro das histórias que a avó costuma ler, sobre animais que mudam de pele para crescer ou que uivam quando alguém parte. A avó é cientista e Clarice também quer ser – mas uma cientista muito particular: uma cientista de coisas perdidas. Enquanto reúne objetos e palavras, escreve o seu próprio tratado sobre o que significa perder: perder porque se deixou escapar, perder porque não se encontrou, perder porque se cresceu.
Além de autora e diretora artística deste espetáculo, Catarina Sobral é ainda responsável pela manipulação em tempo real das imagens em palco.
 Para Catarina, os dois projetos nascem da mesma premissa e da mesma personagem, mas podem ser experienciados separadamente. “Quem vir apenas o espetáculo ou apenas a exposição compreende-os na totalidade”, explica, “mas quem passar pelas duas peças encontra um fio que as liga: a forma como Clarice tenta explicar, à sua maneira, o sentimento da perda”.
Para Catarina, os dois projetos nascem da mesma premissa e da mesma personagem, mas podem ser experienciados separadamente. “Quem vir apenas o espetáculo ou apenas a exposição compreende-os na totalidade”, explica, “mas quem passar pelas duas peças encontra um fio que as liga: a forma como Clarice tenta explicar, à sua maneira, o sentimento da perda”.
Dois objetos artísticos independentes que se completam na forma como abordam, com humor e delicadeza, o misterioso território do que desaparece. No palco, explora-se o lado afetivo e íntimo da perda; na exposição, esse pensamento ganha corpo em mapas, classificações e teorias improváveis.
Entre o rigor fictício da ciência e a fragilidade das emoções, Clarice convida-nos a olhar para o que se esconde nos bolsos, nos quartos, nos dias – e que, quando desaparece, deixa um rasto invisível. No LU.CA, perder transforma-se num gesto de brincar, pensar e cuidar. Porque perder também faz parte de crescer.
Quis o destino, seja lá o que isso for, que Adília Lopes, falecida há um ano, não vivesse para assistir ao que Ricardo Neves-Neves e o Teatro do Eléctrico fizeram com a sua poesia e muitos dos textos em prosa que espalhou avulsamente por livros, revistas e jornais, nomeadamente no Público, onde assinou, a exemplo, as Crónicas da vaca fria. Por todos os motivos, uma infelicidade, até porque acreditamos que Adília ficaria encantada por assistir ao modo como Sílvia Filipe, “o veículo condutor” das suas palavras, encarna a persona da poeta (Adília Lopes era o pseudónimo literário de Maria José da Silva Viana Fidalgo de Oliveira, como por várias vezes fez questão de lembrar nas raras aparições públicas). Como refere Neves-Neves, a atriz “faz-se luz, posicionando-se no olho do furacão, rodeada de todo um cabaret de música, ilustração e tanto mais do que acontece à sua volta” no palco.
Resgatando o título ao livro de poemas, particularmente íntimos e de cariz autobiográfico, dado à estampa em 2018, Estar em Casa é o resultado de um projeto pensado desde 2021 pelo autor e encenador com a atriz Sílvia Filipe e, na altura, com o compositor Martim Sousa Tavares que, por impossibilidade de agenda, acabaria dando lugar ao músico Simão Bárcia. Conta Ricardo que, para construir esta dramaturgia – que até “pode dar a sensação de ser uma espécie de percurso de vida” –, foi preciso embrenhar-se em “milhares de textos e poemas que, como peças de um puzzle, foi necessário descobrir e montar”. Como faz questão de lembrar Sílvia Filipe, como “não são textos teatrais, existiam muitos caminhos possíveis” para viajar na cabeça de Adília Lopes. Este espetáculo é um desses.

Esta viagem interior começa, precisamente, com temáticas muito caras a Neves-Neves, como o imaginário das histórias para a infância. Da Gata Borralheira que dorme com o Príncipe, e deixa perdido o soutien no leito real, às heroínas perversas da Condessa de Ségur, Adília “dá a muitas dessas personagens dos contos infantis uma vida após o ‘felizes para sempre’, retirando-lhes a inocência. Isso é uma coisa que também eu gosto muito de fazer”, assinala o autor e encenador.
Neves-Neves reconhece mesmo algum paralelismo de imaginários que, certamente, está na génese deste amor antigo pela obra da poeta. “Adília parte do lado mais infantil para a perversidade com qualquer coisa de amargo que, depois, se vai transformando em delicodoce, mantendo sempre uma certa ingenuidade e humor”, sublinha.
Através das ilustrações de Inês Silva, Estar em Casa oferece todo “um lado fantasioso” às metáforas de Adília, dando a Sílvia Filipe a contracena perfeita para fazer a plateia entrar naquele “quarto interior, sem janelas” onde a poeta dizia ter escrito a maior parte dos seus textos. “As ilustrações animadas de gatos perseguindo osgas e baratas permitem dar a imagem das ideias a acontecer”, explica Neves-Neves. Tal como a medusa, animal que faz o seu veneno parecer um choque elétrico à semelhança da imagem que temos das sinapses a ligar os neurónios no cérebro. “Por Adília criar muitos jogos de palavras”, o encenador fez corresponder a medusa que dança à volta da poeta “à Musa que ela dizia sussurrar-lhe ideias ao ouvido”.

Barroco como Adília dizia ser, poético como a sua obra e, apesar do palco quase sempre vazio, cheio de minudências e outras coisas a acontecer (porque, confessava a poeta, “tenho horror ao vazio”), Estou em Casa é um musical sobre a mulher e o processo criativo, inteiramente construído com a obra que deixou. Aliás, Sílvia Filipe esclarece que a sua Adília resulta de uma criação que parte “de dentro para fora”, ou não fosse a poesia dela tão íntima e também tão melancólica, que traduz na interpretação “cada palavra que escreveu, como se elas se entranhassem”.
Além da atriz, em palco está o músico Simão Bárcia, também ele responsável pela música e as canções, com Maia Balduz. Estar em Casa conta com cenografia de Eric da Costa, figurinos de Rafaela Mapril, desenho de luz de Cristina Piedade, sonoplastia de Sérgio Delgado e video mapping de Eduardo Cunha. Depois da estreia em Loulé, o espetáculo prossegue carreira em Lisboa, no Teatro Variedades, de 27 de novembro a 11 de janeiro do próximo ano.
Em 2020 anunciaste o afastamento dos palcos. Cinco anos depois, o amor pela música falou mais alto?
O título deste concerto diz isso mesmo, Inevitabilidade de Cantar. Tenho 40 anos e comecei a cantar há 35, é uma vida inteira a cantar. A certa altura dei por mim a sentir essa falta, foi mesmo uma inevitabilidade, porque neste espaço de tempo em que estive longe da indústria da música não deixei de ser fadista. Na altura da pandemia, quando as casas de fados começaram a reabrir, eu ia aos fados e cantava uma coisinha ou outra para matar a saudade. Percebi que sentia falta de cantar para as pessoas. A primeira vez que pisei o palco do Coliseu tinha 12 anos, foi em 1997 [na Grande Noite do Fado, que venceu]. A minha ideia de cantar é para as pessoas, tenho de o partilhar com alguém. E começou a tornar-se inevitável.
És a mesma artista que eras há cinco anos?
A idade e o distanciamento fizeram-me perceber o que realmente importa. Isto tem de ser prazeroso, tem de me divertir. Neste momento da minha vida, estou mais certa do que não quero e não posso deixar que isto seja assoberbante. É claro que causa ansiedade, é claro que sinto a responsabilidade, mas isto tem de ser bom, partilhar a música com pessoas tem de me dar prazer. E foi por isso que voltei a cantar há dois anos de forma muito pautada. Comecei por cantar em Espanha, para as pessoas não me olharem com histórico para perceber como me sentia. Fiz esse teste e concluí que me apetecia voltar ao fado tradicional e que a melhor forma de o celebrar era no Coliseu. Tive a sorte de já ter cantado em salas maravilhosas, estive no Carnegie Hall em outubro, que é uma das mais emblemáticas do mundo, mas o Coliseu de Lisboa assusta-me mais, provoca-me um friozinho na barriga, por existir uma ligação emocional muito forte.
Atribuíste o teu afastamento a um certo cansaço com o mediatismo.
Hoje, estás mais preparada hoje para lidar com isso?
Hoje, já sei um bocadinho mais do que há cinco anos. Tenho de lidar com as pessoas, são elas que consomem a minha música e sem elas não existo como artista. Acho que, na altura, não me expliquei muito bem: não é o ser mediático que me incomoda, embora haja coisas no mediatismo com as quais não é fácil lidar, como estar exposto à opinião de toda a gente que acha que tem o direito de a dar. Hoje, já entendo que as pessoas têm o direito às suas opiniões, como eu tenho o direito de não as levar a peito. Tenho outra serenidade. Estou mais blindada para situações que na altura me podiam transtornar. Parecia que a minha decisão tinha sido uma tragédia para algumas pessoas. Nunca ninguém veio ter comigo para me destratar, as pessoas que vêm ter comigo vêm com amor. A grande maioria vem dar-me um abraço e dizer que tem saudades. Há pessoas que nem sequer sabem que voltei a cantar, muitas perguntam-me quando é que regresso.
Atualmente ainda se justifica que o fado esteja associado a uma certa imagem?
Eu sou, talvez, das fadistas mais tradicionais. Gosto muito da tradição, elevo-a, faço-me valer dela. O fado é uma música de cariz popular, que o povo teve necessidade de criar para se expressar, para se lamentar. Claro que o fado também canta alegria, canta o bairro popular, mas a imagem do fado é, à semelhança do que ele representa, na sua grande maioria, o lamento. Se fores a Sevilha ver um tablao de flamenco, como é que queres ver as espanholas vestidas? Queres vê-las de bolas e folhos, rosas na cabeça e peineta. Uma fadista, que imagem é que tem? A da mulher vestida de negro, mas não tem de ser sorumbática. Cresci com mulheres fadistas muito elegantes, lindas. A Beatriz da Conceição ou a Amália Rodrigues eram mulheres que enchiam o palco no seu estilo negro e no seu xaile. Ainda existe um certo preconceito em relação à imagem da fadista que é antiquada, que é envelhecida. Discordo absolutamente. Se algum dia chegar a ser parecida com elas vou ficar muito contente. E, por isso, sou a primeira a defender essa imagem.
Gostas de te vestir de acordo com a tradição…
Toda a vida usei xaile, fui criada num ambiente tradicional. Não estou a dizer que para se ser fadista tem de se usar xaile, não é isso. Eu preciso de o usar, fui criada nesse meio, faz-me sentido. É claro que já apareci noutros momentos com uma imagem diferente, mas porque estive sem cantar fado tradicional. Cantei durante muito tempo um fado mais contemporâneo, o Raquel não é um disco de fados tradicionais. O álbum de homenagem ao Roberto Carlos muito menos, era uma abordagem ao seu repertório por uma fadista. Agora, regresso com o fado tradicional, indo mesmo à raiz. Tenho muitas saudades daquilo que me fez ser fadista. É importante que não nos esqueçamos de onde é que vimos. Isto é uma tradição oral, tem de se falar dela. Têm de se lembrar os autores, os poetas, os músicos. Temos um histórico tão rico que a minha geração e a mais recente têm muita sorte. Olhem só o espólio onde nos podemos inspirar! Os fadistas dos anos 50, 60 e 70 eram brilhantes, ainda hoje cantamos os fados deles. Por isso, sim, gosto de me vestir com a tradição.
Em outubro, atuaste no espetáculo Amália na América no Carnegie Hall, em Nova Iorque, ao lado de Ricardo Ribeiro, Cristina Branco e da Orquestra Sinfónica Portuguesa. Que impacto teve essa experiência?
Partiu de um convite da Égide, a propósito dos 50 anos do concerto que a Amália deu no Hollywood Ball, em Los Angeles, onde cantou o cancioneiro português. O ano passado já tínhamos levado este concerto celebrativo ao CCB e tinha sido um enorme desafio, especialmente para mim, já que a Amália nunca foi a minha maior referência. Eu tinha outras fadistas como referências, a Amália esteve sempre muito longe do universo onde eu cresci a cantar, parecia que estava num outro lugar à parte e eu nunca me cheguei lá tanto, só agora é que começo a aproximar-me mais. Por isso, foi altamente desafiante cantar esse reportório. Eu e o Ricardo cantámos o cancioneiro, e a Cristina fez um brilhante trabalho a cantar as canções da Broadway. Como o concerto no CCB correu muito bem, a Égide teve o atrevimento [risos] de levar esta turma toda para os Estados Unidos. Fizeram a proposta ao Carnegie Hall, que rapidamente aceitou. Fomos 200 pessoas nessa viagem para os Estados Unidos, foi um projeto megalómano, muito ambicioso. Foi impressionante entrar naquela sala tão mítica e cheia de histórias e cantar Amália. Uma experiência marcante.

O que podes revelar sobre o novo disco, Deles por mim (e à antiga)?
Como venho de um meio muito tradicional, tive de me fazer fadista sob as regras da geração antiga, sendo que, infelizmente, a grande maioria já cá não está. Há um repertório muito específico que eu adorava quando era miúda: o repertório dos homens, a poesia masculina. Diziam-me que eram fados de homem, que não os podia cantar. Ainda existe muito esse estigma da poesia ter um género, e a poesia não o devia ter. Fui buscar clássicos cantados por Carlos do Carmo, Tristão da Silva, Carlos Ramos, Fernando Maurício… Não é uma ode aos homens, é uma ode à poesia dos homens. Canto tudo no masculino, para melhor cantar a mulher: histórias de amor, despeito, ciúme. O homem a cantar o despeito tem uma graça desgraçada, é muito diferente da mulher. Este álbum tem também outra particularidade, ter sido gravado à antiga, sem correções na guitarra, viola, baixo e voz. Todos ao mesmo tempo e sem retificações. Não tem afinação, não tem picagens. Normalmente, vai-se para o estúdio e primeiro fazem-se as vozes guias, depois põe-se a viola, seguida da guitarra e, por fim, corrige-se aqui e ali. Eu queria que fosse gravado como era antigamente, não pode estar mais cru. Se fizéssemos três takes de cada fado, escolhíamos o melhor. Quis passar essa autenticidade a quem ouvisse o álbum.
O concerto vai ter por base este disco?
Vou visitar alguns temas que fazem parte da minha vida e depois é que vou cantar os fados dos homens. Mas, acima de tudo, queria muito cantar num palco de 360º, no centro do palco para criar uma maior proximidade, queria levar o conceito de casa de fados para a sala do Coliseu. Vai ser quase uma tertúlia, as pessoas vão estar muito perto.
Vai ser uma noite de fados então…
Uma noite de fados, não tem pretensão de ser mais do que isso. Acredito que é suficiente. Em Espanha, há o flamenco; no Brasil, o samba; em Cabo Verde, a morna, e em Buenos Aires, o tango argentino. Independentemente das inovações e da contemporaneidade, estes países estimam a sua música de raiz, na sua forma tradicional, e isso é mais do que suficiente. O fado também o é e tenho tido a prova viva disso. As pessoas comovem-se com o fado tradicional. Nesta altura da minha vida, sinto a obrigatoriedade de o fazer, devo-o a esta música e às pessoas com quem cresci.
Porquê o Coliseu dos Recreios?
Para ser simbólico, tinha de ser no Coliseu. A minha mãe trabalhou na RTP durante muito tempo e todos os anos fazia-se o circo de Natal no Coliseu. Vi aqui o António Calvário, participei na Grande Noite do Fado… Há aqui qualquer coisa de muito especial, tenho amor a esta sala. Deixa-me muito nervosa, mas não me imaginaria fazer isto noutro lugar, só podia ser aqui.
És, acima de tudo, uma fadista?
Não sei se a minha essência será só isso. A minha primeira identidade talvez seja. Mas eu não queria ser cantora, queria ser jornalista, repórter de guerra. Como a minha mãe trabalhava na RTP, o jornalismo era o que estava no meu foco. A minha vida era comunicar, não era cantar, mas a música foi inevitável. Em todas as ocasiões em que dizia “agora vou por aqui”, a música trocava-me as voltas. A minha vida a cantar foi inevitável e fui teimosa, tentei muitas vezes fazer outras coisas. Não me conformo com a ideia de ter de ser uma coisa só. Gosto imenso de dançar, de brincar, de tirar cafés, gosto de fazer muitas coisas. Tenho sido bem-sucedida, mas também tenho tido sorte. Há um fator sorte, não é falsa modéstia. Acredito no que faço, mas acho importante permitir-me fazer coisas diferentes, não me levar muito a sério, errar. Sei que é preciso ter alguma audácia, mas às vezes é preciso um bocadinho de loucura na vida.
O teu regresso é definitivo?
Não sei responder a isso, não quero criar falsas expectativas. Desconheço o dia de amanhã. A pandemia foi um desafio de que ninguém estava à espera, há pouco tempo tivemos de lidar com um apagão… Fazer planos a médio e longo prazo é atrevimento porque a vida muda-nos as voltas todas. Hoje, apetece-me muito cantar. Quero lançar este disco e cantar para as pessoas. Sou muito grata a quem me quiser ouvir, mas não sei o que o futuro reserva.
Dezembro chega sempre com o Dia Mundial da Luta Contra a SIDA e o Teatro São Luiz enche-se, todos os anos, de brilhos e purpurinas para receber a Gala Abraço. A 33.ª edição desta noite de celebração e solidariedade terá, como habitualmente, direção artística da travesti Deborah Kristall, que, este ano, faz a apresentação da gala juntamente com a atriz Rita Ribeiro. No palco hão de ser exibidos vários números de transformismo e ser eleita a melhor imagem e a melhor atuação. A Gala Abraço trará, ainda, uma homenagem aos 50 anos dos espetáculos drag em Portugal, que se profissionalizaram depois do 25 de Abril de 1974 – em Lisboa, foi logo no ano seguinte que se inaugurou o Scarllaty Club, na Rua de São Marçal. “Era a casa in da altura, ia lá toda a nata da capital e arredores”, lembra Fernando Santos, o ator e transformista que criou Deborah Kristall nos anos 1990, mais de uma década depois de se ter estreado nesta arte. O trabalho de Zizi Mayer, Valéria Vanini, Ruth Bryden, Lydia Barloff e, claro, Guida Scarllaty será recordado no São Luiz, como forma de celebrar nomes fundamentais na visibilidade ganha pelo transformismo no pós-revolução.
Por estes dias, Fernando Santos não tem mãos a medir com a preparação da Gala Abraço e com o espetáculo que faz, de terça-feira a sábado, no Finalmente Club, onde é também diretor artístico. O café-concerto Crystal Girls Show junta Deborah Kristall ao elenco residente da casa: Jenny Larue, Ruby Bright, Irina Diamonds, Sandra Borbon, Diogo Cat e Peter Boy. “Águas às cores, elefantes, muita fantasia e as personagens das grandes divas do mundo da canção” é o que promete Fernando, sempre a partir das 22h30, ali na Rua da Palmeira, entre o Príncipe Real e a Praça das Flores.
Como não podia deixar de ser, as suas sugestões para esta semana passam também por este bar, aberto desde 1976. Do transformismo à stand up comedy, passando pela música e pelo cinema.

Ciclo Robert Redford Ator
Cinema Nimas
24 e 26 de novembro
In memoriam Robert Redford
Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema
25 de novembro
Falecido em setembro, aos 89 anos, o ator Robert Redford marcou o cinema do último século. Tanto o Cinema Nimas como a Cinemateca Portuguesa lhe dedicam ciclos este mês: o primeiro passa O Estranho Mundo de Daisy Clover, de Robert Mulligan, já no dia 24, às 19h15, e As Brancas Montanhas da Morte, de Sydney Pollack, a 26 de novembro, às 17 horas; a Cinemateca exibe As Grades do Inferno, de Stuart Rosenberg, no dia 25, às 15h30. Para Fernando Santos, Redford é “um galã carismático e um grande ator, que tem muito mais do que beleza e a quem ninguém fica indiferente”. África Minha e Dois Homens e Um Destino, revela, são dois dos seus filmes preferidos, muito graças ao seu protagonista.
Ode a Amália Rodrigues
Fama d’Alfama
27 de novembro, 19h30
No Dia Mundial do Fado, que se celebra a 27 de novembro, a casa de fados Fama d’Alfama organiza uma noite de homenagem a Amália Rodrigues, com Cristina Branco, Joana Amendoeira e Teresinha Landeiro, acompanhadas por Bernardo Couto na guitarra portuguesa, João Filipe na viola de fado e Ricardo Dias ao piano. “A Amália é a grande diva portuguesa, o grande ícone da cultura portuguesa, o símbolo máximo do bem cantar e de como transmitir a alma de um povo. Tinha dentro dela uma magia única”, elogia Fernando Santos. “Costumo ouvir as suas músicas com frequência e penso que nos sentimos muito mais portugueses quando escutamos Amália”, diz o transformista, que já vestiu a pele da fadista mais do que uma vez. “Só muito tarde tive coragem de o fazer e faço-o muito esporadicamente, porque a respeito muito e tem muita importância para mim.”
Finalmente Stand-Up!
Finalmente Club
27 de novembro, 20h30 às 22h30
As quintas-feiras são as noites de descanso dos espetáculos drag no Finalmente e a animação faz-se com stand up comedy. Tal como se anuncia, eis um “cenário único, intimista e improvável para a comédia”, sempre com participações diferentes todas as semanas. No dia 27, sobem ao palco Marcos Bilro, Daniel Carapeto, Carolina Veríssimo e Madalena Malveira. “É uma noite completamente distinta do habitual no Finalmente, mas bastante engraçada e também com muitas risadas. Muitas vezes, as atuações são em inglês, por causa do público que tem muitos estrangeiros”, afirma Fernando.
Lugar aos Novos
Finalmente Club
30 novembro, 03h
Lugar aos Novos é o nome oficial das noites de domingo no Finalmente, mas a verdade é que quase todos as conhecem ou a elas se referem como Lugar às Novas – uma versão feminina que nasceu da autoironia e que acabou por pegar. Atualmente, cabe à travesti Samantha Rox a apresentação deste espetáculo em que atuam pessoas que estão a dar os primeiros passos na arte do transformismo. “As noites são sempre diferentes e espontâneas… e também com alguns nervos à mistura. Já se descobriram ali grandes talentos, alguns que acabaram por ficar no elenco residente do clube”, conta Deborah Kristall.
Carmen Miranda – O Grande Musical
Em cena no Teatro Politeama
A partir de 18 de dezembro
Não é uma sugestão para esta semana, mas fica já o conselho de Fernando Santos: “Não perder a próxima estreia de Filipe La Féria”. Carmen Miranda – O Grande Musical estreia-se na última quinzena de dezembro e apresenta-se como “uma superprodução que celebra a vida e a arte da mais internacional das artistas luso-brasileiras, num espetáculo deslumbrante, cheio de ritmo, cor e emoção”. Confessa o ator: “Estou muito entusiasmado com este espetáculo, que só pode ser excelente e que imagino alegre, com muita vida, muita força e fantasia. A Carmen Miranda é uma personagem que sempre venerei. Foi incrível na sua época e é mais uma aquariana louca como eu!”.
Embora seja noite de São João, se ouça a música e a zoada dos festeiros lá fora, na cozinha da casa tudo parece estar nos “devidos” sítios. Cristina (Rita Brütt), a cozinheira, arruma pratos e talheres, e ultima a iguaria predileta do noivo, João (João Jesus), que estará prestes a chegar. Ele entra, excitado e animado pelo baile; come, bebe, namorisca com Cristina, e a seguir cuida das botas de cano alto do patrão. Eis que, vinda das festividades, entra em cena a menina Júlia (Helena Caldeira), extrovertida e ébria, mas também provocante, insinuante e manipuladora.
Como algo que está, efetivamente, nos “devidos” sítios, num primeiro momento, a filha do patrão manda e os criados obedecem, nomeadamente na satisfação dos mais ridículos caprichos, sem que se reconheça em Cristina e João qualquer vontade de questionar a ordem vigente. Entretanto, vencida pelo cansaço, a cozinheira adormece, e Júlia envolve-se com o criado do pai num perigoso jogo de sedução. Ao longo da noite, aquilo que parece estar nos “devidos” sítios vai sendo desarrumado. Entre o desejo e o amor, o ódio e a repulsa, inicia-se uma disputa que se revelará trágica, com João a tentar por todos os meios vencer Júlia, mesmo que, no final, nada ganhe.

A “toxicidade” da relação de Júlia com João é o sublinhado essencial na adaptação que o encenador João de Brito faz do clássico de August Strindberg. “São personagens muito complexas e oscilantes, que tão depressa se estão a amar como se estão a destruir”, observa. Tendo sido escrita no final do século XIX, Menina Júlia parece “ressoar cada vez mais, sobretudo quando voltamos a ter na ordem do dia discursos misóginos e um conservadorismo que pretende, de novo, reduzir a condição da mulher ao mundo doméstico”.
Embora a peça de Strindberg se destaque pela análise que faz das relações de poder e de classe, verificáveis nas oscilações constantes de posição que os personagens vão ocupando no decorrer da ação, a João de Brito interessa que o público, sobretudo o mais jovem, reflita sobre “o estado de violência psicológica latente em muitas relações amorosas”, que surge “agarrado a ideologias extremistas que apenas significam regressão social”. “É estranho como voltámos hoje a discutir coisas que pareciam estar já arrumadas nas nossas sociedades”, desabafa o encenador.

Ao mesmo tempo, e para isso contribui o cenário circular concebido por Henrique Ralheta, João de Brito procurou colocar o trio de personagens dentro de “uma gaiola metafórica” que “representa a ordem social, que tanto submete João e Cristina, como Júlia, às suas respetivas condições de classe”. “A ideia veio do próprio texto”, explica, “da gaiola redonda de que fala Strindberg, onde Júlia tem o seu canário, e que é para ela, apesar de aprisionado, o seu único pulsar de uma vida livre.”
O drama de Júlia, que no tempo da peça passa de uma posição de poder para uma subalternização humilhante, remonta mesmo à sua própria condição de privilégio. “Ela tem noção da gaiola onde a colocaram desde sempre, daí projetar os seus anseios e desejos no que julga ser o modo de vida dos criados”, destaca o encenador.

Sem direito a final feliz, a longa noite da festa de São João culminará num amanhecer trágico para Júlia, mas também para João, que vê os seus sonhos e ambições frustrados, e Cristina, que nem o amor poderá reclamar como seu.
Menina Júlia estreia-se a 27 de novembro na Sala Estúdio do Teatro da Trindade INATEL, mantendo-se em cena até 18 de janeiro do próximo ano.
Instalada na Galeria 3, a exposição Entre a Palavra e o Silêncio reúne cerca de 70 obras de artistas portugueses e internacionais, entre eles On Kawara, Dora García, Alfredo Jaar, Pedro Cabrita Reis, Carla Filipe e João Onofre. Uma seleção que, como destaca Adelaide Ginga, “revela uma transversalidade muito sediada num gosto próprio que se liga diretamente ao minimalismo e ao conceptual”.
A coleção de Santana Pinto distingue-se pela relação íntima e contínua que o colecionador estabeleceu com os artistas e pelas escolhas guiadas por rigor e investigação. Como afirma a curadora, trata-se de “uma coleção que foi desenvolvida na relação direta com os artistas, com a compra junto dos artistas, com o acompanhamento da produção e da nova produção”. Ao longo do tempo, essa proximidade deu origem a núcleos autorais consistentes: “há, por exemplo, vários Onofres, há várias outras obras de artistas de relevo, que se repetem”, observa ao sublinhar a coerência interna do acervo.
O eixo que estrutura a exposição – e a própria coleção – é o diálogo entre palavra, número e código, que convoca o visitante a uma leitura mais exigente. “É uma coleção que, para um visitante, é um bocadinho mais difícil, menos literal”, explica Ginga. “As mensagens conceptuais não são óbvias, mas esse é precisamente o seu estímulo: uma arte que nos faz pensar, que nos interpela, que nos coloca questões.”
Essa dimensão reflexiva encontra eco na visão do colecionador sobre o papel da arte. José Carlos Santana Pinto partilha que gosta de provocar. “Costumo dizer que a arte é inútil [risos]. É uma brincadeira clássica e provocatória que deixa as pessoas menos acomodadas em relação à arte muito escandalizadas”. Para ele, a importância da arte é vital: “seria uma pessoa diferente se não gostasse de arte contemporânea. É uma questão de vida, quase”. E, acrescenta ainda em registo cúmplice: “até o Andy Warhol dizia que os artistas fazem coisas que as pessoas não precisam – e é verdade”. Essa noção de utilidade paradoxal – ou da liberdade que nasce da inutilidade – reforça o carácter inquieto e interrogativo que atravessa toda a coleção. Não por acaso, esta é também uma ocasião marcante para o colecionador: “é a primeira vez que apresento a minha coleção ao público em Lisboa”.

Um dos aspetos mais singulares desta coleção é a forma como foi vivida no quotidiano. Muitas das obras estiveram instaladas na casa do colecionador durante anos, convivendo diretamente com ele. Como recorda a curadora: “é, de facto, uma tipologia de coleção muito vivida”, marcada por uma dinâmica contínua de presença, empréstimo, rotação e redescoberta. Para o colecionador, esse contacto direto é essencial – e a exposição permite-lhe também revisitar obras que, por razões de escala ou montagem, estiveram guardadas em armazém: “é uma oportunidade para voltar a conviver com elas”.
A coleção MACAM e o diálogo com outras coleções
Com Entre a Palavra e o Silêncio, o MACAM inicia um novo ciclo de colaborações com colecionadores privados, ampliando a sua missão de dar visibilidade a acervos sem espaço público de apresentação e reforçando o seu papel enquanto plataforma de encontro entre colecionadores, artistas e públicos. A exposição, patente até 1 de junho de 2026, é uma oportunidade rara de entrar no universo de um colecionador cuja trajetória – cosmopolita, contínua e profundamente curiosa – fez emergir um acervo singular na paisagem da arte contemporânea.

No mesmo dia, mas na Galeria 4, é inaugurada também a exposição O eu como múltiplo, a terceira exposição temporária da Coleção MACAM, que conta com a curadoria de Carolina Quintela. Reunindo um conjunto de obras de artistas portugueses e internacionais que exploram a construção da identidade como processo contínuo, fluido e plural, a mostra está organizada entre a figuração e o imaginário e propõe um percurso onde o eu se revela como espaço em permanente transformação – feito de gestos, imagens e memórias que se sobrepõem e se desdobram.
Como refere a curadora, a intenção foi “tratar de uma reflexão em torno da identidade, da construção de identidade e da manifestação do eu”, entendendo que esta “é plural, é múltipla e é fluida, amplamente influenciada pelo contexto social, económico, a língua que falamos, o país em que vivemos”. Assim, a exposição articula o visível e o invisível, o ser e o tornar-se, transformando a arte num território onde corpo, consciência e memória se interrogam mutuamente.
Apresentando obras de diferentes gerações – dos anos 1970 até peças realizadas em 2025 – o projeto evidencia a vitalidade de uma coleção em permanente atualização. “É muito curioso dizer que existem algumas obras de 2025 nesta exposição”, nota Quintela, sublinhando a presença de artistas jovens ao lado de nomes consagrados como Ana Vieira, Helena Almeida, Horácio Frutuoso, John Baldessari, José Pedro Croft, Juan Muñoz, Júlia Ventura, Vik Muniz ou Yu Nishimura. Essa amplitude temporal e estética reforça a ideia de identidade como metamorfose, uma construção sempre inacabada. Como conclui a curadora, as obras reunidas “ajudam-nos a refletir sobre estas questões da construção de identidade, mas também de outras questões que se interligam de alguma forma”, abrindo espaço para múltiplas formas de ser e sentir o mundo.
paginations here