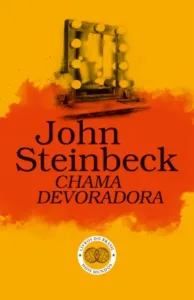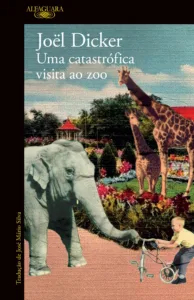Realizador, montador e artista visual, com formação em Design e uma pós-graduação em Pintura, João Miller Guerra nasceu em Lisboa, cidade onde vive e trabalha. O seu percurso profissional está ligado às artes visuais. Formou-se em Design de Equipamento pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa e completou a sua formação académica em Pintura e Artes Plásticas na Ar.Co. Entre 2014 e 2021 foi sócio da produtora de cinema e televisão Uma Pedra no Sapato/Vende-se Filmes. Ao lado da realizadora e produtora, Filipa Reis, realizou mais de uma dezena de documentários. Do percurso da dupla destacam-se a primeira longa-metragem, Djon África, em 2018, e Légua, em 2023, que estreou na Quinzena dos Cineastas de Cannes.
Complô é o primeiro filme que assina a solo. O documentário dá a conhecer a experiência de vida de Ghoya, um afrodescendente português, que Miller percebeu ter a “força de um protagonista” e uma história que era urgente contar. Ghoya, MC de Rap Crioulo, é filho de imigrantes, e essa inevitabilidade fez dele também um imigrante, alguém a quem foi “negado à nascença o direito de ser e se sentir português”. O filme segue os seus passos, a sua música, a sua voz, o percurso de “(…) alguém que viveu em bairros que foram sendo consecutivamente demolidos, fruto de ‘programas especiais de requalificação’. Com um longo passado em estabelecimentos prisionais, Ghoya sabe que a prisão começa no bairro onde se nasce. Este filme e a falta de outros é prova disso.” Complô teve estreia mundial no Festival Internacional de Cinema de Marselha (FIDMarseille). Em outubro, deste ano, foi exibido no Doclisboa, onde recebeu uma Menção Honrosa.

Rocco e os Seus Irmãos, de Luchino Visconti
Disponível na Amazon Video
“Vi recentemente Rocco e os Seus Irmãos. É um clássico do cinema neorrealista italiano. Visconti conta a história de uma família pobre do sul da Itália que tenta sobreviver em Milão. O amor não chega. O filme é belo e brutal e ficou muito comigo essa perda de pureza dos personagens. Recomendo! É um filme sobre o que o progresso também pode trazer às pessoas.”
After Law, de Laurent de Sutter
Editora Polity
“O livro After Law, de Laurent de Sutter, (que infelizmente ainda só existe traduzido para inglês) dá-nos mesmo em que pensar. O livro parte da pergunta: ‘E se a Lei não fosse tão essencial como normalmente se pensa?’ O autor mostra-nos como diferentes culturas pensaram a convivência sem ter que dar sempre prioridade às leis – ‘Depois da Lei, há o direito; depois da Lei há aquilo que a Lei fez esquecer…’ ”
Visita à Casa do Comum no Bairro Alto
“A Casa do Comum no Bairro Alto, um bairro profundamente marcado pela pressão turística, é um espaço de resistência no centro da cidade. É mesmo um ‘refúgio’ da gentrificação galopante que se faz sentir por todo o lado. Para mim, tem uma dimensão cultural e afetiva. É uma casa que consegue manter vivo o significado de ‘comum’.”

Standing Here Wondering Which Way to Go, de Zineb Sedira
Patente até 19 de janeiro na Fundação Calouste Gulbenkian – Centro de Arte Moderna
“Lembrete para mim mesmo: Quero mesmo ir ver a exposição Standing Here Wondering Which Way to Go, da artista franco-argelina Zineb Sedira, no CAM. Através da mistura de vídeos, fotomontagens, objetos pessoais e a própria História, a exposição trata de memórias de libertação da cultura africana dos anos 60/70.”
Gerir o Atelier Artéria, em São Domingos de Benfica, tornou-se a principal ocupação de Tiago Jordão e, aos poucos, tem visto acontecer ali aquilo que foi imaginando. Aos 40 anos, com formação em audiovisuais, design multimédia e de equipamento, ainda dá aulas de vídeo e de comunicação visual – tanto em Portugal como na China, onde vai cerca de duas vezes por ano. Na sua prática artística, desenvolve instalações-vídeo e gosta de criar “objetos que deem para olhar para dentro deles”, descreve.
Atelier Artéria – um espaço para criar e partilhar
Os janelões são enormes, a deixar entrar a luz, mas também a permitir que se espreite para o que se passa lá dentro. Exatamente por isso, chamam-lhes montras e aqui podem ter muitos usos, até o de servirem de suporte para exposições. Foi em 2023, depois da pandemia, que Tiago Jordão procurou um lugar onde pudesse criar as suas instalações-vídeo e rapidamente percebeu que seria ainda melhor se o partilhasse com outros artistas.
Há dois anos e meio, depois de, sozinho ou com amigos, ter limpado e remodelado o que sobrava de uma antiga fábrica de pastelaria na Estrada de Benfica, abriu o Atelier Artéria. Hoje, convivem ali nove artistas e, pelas paredes e as mesas de trabalho, espalham-se desenhos, pinturas, ilustrações, colagens e esculturas. Mais escondidos, estão o estúdio de audiovisuais, o laboratório de fotografia analógica e as salas onde nascem performances e instalações.
Na área comum, logo à entrada, organizam-se sessões de cinema e exposições, um clube do livro, conversas, workshops ou tudo aquilo de que se lembrem os residentes – e também quem venha de fora com uma boa proposta. Recentemente, por exemplo, foram desafiados pela Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica a imaginar uma obra de arte pública para o lugar onde, ali ao lado, funcionou a Escola Técnica da PIDE. Num projeto de arte participativa, conceberam uma maquete e, se tudo correr bem, hão de encontrar financiamento para a concretizar.
“Todo o espaço é bastante flexível, para podermos ter aqui diferentes práticas artísticas. Até as mesas têm rodas, de forma a mudar a configuração”, nota Tiago. “O objetivo do Atelier Artéria, que não tem fins lucrativos, é a criação e a investigação artística e, depois, a partilha de conhecimento e de cultura”, continua. Uma programação cultural mais regular, mais dias de ateliês abertos e apoios para receber artistas em residência são agora as metas deste lugar onde se cruzam muitas artes, mas sobretudo muitas ideias.
Os locais na Estrada de Benfica

Alfarrabista Sr. Jorge
Rua de São Domingos de Benfica, 5A
“Não tem nome, é simplesmente o Sr. Jorge. Vejo este alfarrabista como um espaço importante por ser ponto de encontro para quem gosta de ler e para quem negoceia livros antigos. O Sr. Jorge é uma pessoa interessada e politicamente ativa. Apoiou muito o nosso projeto de arte participativa sobre a Escola Técnica da PIDE”, diz Tiago Jordão sobre a loja recheada de livros que fica ao virar da esquina da Estrada de Benfica.

Estúdio louva-a-deus
Estrada de Benfica, 214A / T.933 641 569 / 965 895 772
“Às vezes vejo músicos a passar aqui à frente do Atelier Artéria e já sei que vão para lá”, conta Tiago, que foi conhecer o estúdio de gravação e apresentar o projeto que gere, a cinco minutos a pé dali. Criado pelos músicos Francisca Cortesão e Afonso Cabral, o louva-a-deus tem salas de captação que funcionam também como salas de ensaio e desdobra-se numa agência e numa editora com o mesmo nome. Existe, ainda, um espaço de coworking, de aluguer mensal.

Mr. Zombie
Estrada de Benfica, 311A / T.928 274 613
“Games & Burgers” – assim se apresenta este café, com esplanada na rua e uma cave “secreta”. Desvenda Tiago: “É café, snack bar e um lugar para os amantes de jogos. Vou lá com alguma frequência, porque gosto de jogos de tabuleiro”. Um divertimento também para quem adora videojogos, já que tem uma loja que vende e troca títulos usados, assim como quatro salas temáticas diferentes (Anos 90, Anime, Arcade e Medieval).

Palácio e Jardim Beau-Séjour
Estrada de Benfica, 368 / T.217 701 100
Tiago Jordão chama a atenção para o Gabinete de Estudos Olisiponenses, que tem como missão “promover o estudo da cidade de Lisboa” e que preserva “a sua memória material e imaterial”, disponibilizando um centro de documentação. Além disso, nota, fica num lugar que vale a pena conhecer, tanto pelo palácio em que está instalado como pelo verde que o rodeia: “O jardim é muito bonito e tranquilo. Não é muito frequentado, o que lhe dá um certo sossego”.

Fórum Grandela / Casa da Cidadania
Estrada de Benfica, 419 / T.211 912 258
Localizado no Bairro Grandela, um bairro operário do princípio do século XX construído por Francisco de Almeida Grandela, está sob a gestão da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica e, depois de durante anos ali ter funcionado a Biblioteca-Museu República e Resistência, acolhe agora diferentes ações de âmbito cultural. “Acontecem naquele espaço muitas exposições e estas podem ser autopropostas, o que é muito bom. Uma artista que esteve em criação no Atelier Artéria já expôs lá”, sublinha Tiago.

Palácio Baldaya
Estrada de Benfica, 701A / T.212 696 799
Já na freguesia de Benfica e por ela gerido, o Palácio Baldaya e o seu jardim recebem várias iniciativas culturais, como espetáculos e exposições. Reaberto em 2017, ali funciona também uma biblioteca, uma ludoteca, um Centro Qualifica e uma zona de coworking. “Já vi lá bons concertos, como o de Sérgio Godinho, no ano passado”, recorda Tiago Jordão.
Descreves este disco como um “regresso a casa”, “um álbum de memórias”. És uma pessoa nostálgica?
Não, acho até que sou uma pessoa muito futurista, no sentido em que estou constantemente com olhos no futuro, a pensar no que vou fazer a seguir. O que me move é o futuro. Estudei Belas-Artes e recentemente fizeram-me um convite para montar uma exposição, que será a minha primeira individual, a inaugurar a 29 de novembro em Baião. Assim que me convidaram fiquei logo entusiasmada. Adoro convites e por isso acho que sou uma pessoa muito do futuro. Agora, não existe futuro sem olhar para trás e ver de onde é que vimos, aceitarmos as nossas origens, e eu sou um bocado obcecada por entender o porquê das coisas. No meu livro, As Estradas são para ir, há um pequeno capítulo onde conto que fui buscar coisas a casa do meu pai depois de ele falecer. Tive de mexer em caixas e fazer uma seleção de coisas, mas rapidamente vim embora, porque não gosto de ficar muito tempo no passado.
Podemos dizer que Ana Márcia é um álbum fotográfico em forma de canções?
É uma ótima analogia. Fiz o artwork, as ilustrações e a colagem de fotografias mesmo com essa inspiração do meu álbum de fotografias de bebé. Eu tinha um álbum de fotografias que dizia ‘Bebé’ a dourado na capa e por isso é que aparece ‘Ana Márcia’ dessa forma. Queria que o disco se parecesse com um álbum de fotografias. No primeiro capítulo do disco coloquei todas as canções que vinham das minhas dúvidas sobre o passado e sobre viagens à minha infância. Ali está, por exemplo, uma canção bastante literal, a Sei Lá, que fala de onde venho e que fala também do luto, da perda (perdi pai e mãe com uma distância de três anos). Há a Maria Jorge, que fala de mim em miúda. Eu era maria-rapaz, e como o meu irmão mais velho se chama Jorge o meu pai chamava-me Maria Jorgina. Fiz a Maria Jorge para a Ana Bacalhau, que ela editou em 2014. Agora integrei essa canção neste disco porque queria canções que estivessem relacionadas com esse universo do sítio de onde venho, não propriamente só da infância, mas também da adolescência: os questionamentos, as noites em branco – fossem por insónia ou pela euforia da idade – de que falo na Paz do Sono. Esta primeira parte do disco termina com O Assunto, que é uma música bastante recente, e que tem aquela frase no final: “aonde é o abrigo para o que eu sinto?”, que reflete aquilo que muitos adolescentes sentem, que é uma ausência de lugar, de não saberem onde é que podem desabafar, onde é que podem conhecer-se a si próprios e dizer verdadeiramente o que sentem. Esse lugar, para mim, são as canções.
Este é o teu sexto disco de originais. É o mais pessoal?
São todos, não é? É difícil dizer. Acho sempre que o disco que fiz agora é o melhor disco, mas este é verdadeiramente muito pessoal. Ir à Ana Márcia já é juntar mais uma peça da Ana Márcia, que é o “Ana” [risos]. E depois esta fase onde tudo é digital fez-me também teimar muito no analógico. A Filipa Leal, que é uma escritora que admiro imenso, brincou com a ideia do futuro ser analógico. E de facto é um disco muito ‘ana-lógico’.
O disco inclui três participações de peso: Catarina Salinas, Sérgio Godinho e Jorge Palma. Quando escreveste as canções já tinhas em mente estas vozes?
No caso do Sérgio, a canção era dele, o Às vezes o amor. Há uns anos perguntei-lhe o que é que ele gostava que eu cantasse dele, para não ser uma daquelas canções mais óbvias, e ele dizia-me “há uma que te vai assentar muito bem”. Foi muito natural e curiosamente é a única canção do disco em que gravei guitarra e voz ao mesmo tempo, porque integrei-a de tal forma que não consigo tocar a guitarra primeiro e depois cantar, como normalmente se faz. Com a Catarina Salinas foi completamente diferente. Aquela música [Quem cá está] é uma canção muito antiga, que eu nunca tinha tido coragem de editar, porque tem uma letra muito dura: “tu padeces de candura quando o mundo se pendura no que tens para dar”. É como se fosse um ralhete que estás a dar a ti própria. Sempre achei um bocadinho duro e pensei que precisava de um par, de uma figura de quem gosto. Escolhi a Catarina porque admiro o trabalho dela, a forma como canta, a sua presença. No vídeo, nós somos o espelho uma da outra, é um ralhete dado ao espelho. Porque é que ligas tanto à pessoa que não quer saber o que estás a fazer, que não está nem aí para ti? Às vezes damos muita importância à ausência, à pessoa que está a faltar, à única pessoa que não quer saber. Esta música tem quase 20 anos, mas não a editei até hoje.
E o Jorge Palma?
É uma situação diferente, porque escrevi a música [Um passo ao lado] com a voz do Jorge Palma na minha cabeça. Tive de arranjar uma maneira de me encaixar na música sem estragar a paisagem dele, porque aquela canção é mesmo para ele. O que é que nós temos em comum, o que é que aprendi com Jorge Palma, onde é que me revejo? É neste imaginário da estrada, de ser o caminho… ele tem isso nas canções e eu também tenho. Quis que o último capítulo do disco fosse uma espécie de conselho máximo que eu deixasse aos meus filhos ou um legado para os meus ouvintes. Se me perguntares que músicas é que gostaria de deixar, neste disco está tudo o que eu quero dizer, sobretudo sobre o erro, que tem sido uma obsessão minha nos últimos dois ou três anos. O medo constante de falhar, de dizer alguma coisa errada, medo de falhar no concerto, medo do erro. Por medo é que nunca fiz uma exposição de pintura (e agora a exposição até se vai chamar É preciso espaço para falhar). É impossível não errar e às vezes a beleza maior que tens para dar ao mundo está precisamente no erro. Tentar evitá-lo a todo o custo é desumano, é uma coisa muito severa.

O concerto que levas ao CCB conta também com estes músicos. Vais cantar o disco na íntegra?
Não sei se vou conseguir tocar todas canções, porque no alinhamento já tenho muitas e não posso deixar de tocar alguns ‘clássicos’. Ainda por cima perguntei aos meus seguidores do Instagram que músicas não podiam faltar e reparei que houve uma inclinação por uma canção que me é muito querida, o Lado Oposto, do álbum Quarto Crescente (2015). Não foi single, mas foi a canção que as pessoas mais pediram, porque essa música fala sobre um estado depressivo. Portanto, há algumas canções que não podem mesmo falhar e depois há outras que também quero tocar.
De que forma é que a maternidade moldou o teu lado artístico?
A maternidade muda tudo, faz-te dar um mergulho, intencional ou não, na tua infância. Acho que a maternidade mudou muita coisa, mas na verdade mudou para melhor. Este disco não existiria sem essa experiência.
O teu álbum anterior, Picos e Vales (2022), foi lançado após uma fase pessoal difícil. A música foi uma terapia para ti?
Esse disco fui eu que produzi, e quis fazê-lo sozinha. Representa uma fase muito adulta de dizer “ok, temos de encarar estes problemas”. Mesmo a capa é muito severa. E depois vem a doçura e voltas a casa com o Ana Márcia. Mas sim, a música tem esse lado terapêutico.
Acreditas que pode ser uma terapia também para quem te ouve? Recebes feedback sobre isso?
Já fiz amigos por causa disso. No videoclipe do Força de Fera, à exceção da Selma Uamusse e da protagonista que é a minha amiga (a que está frente a frente comigo), aparecem mulheres que conheci porque me escreveram. Escolhi-as para, juntas, fazermos esta cura em conjunto numa roda. Às vezes as situações de abuso perduram porque há silêncio. Primeiro, porque não consegues identificar o abuso e a partir do momento em que consegues comunicar com outra pessoa aquilo que estás a passar e abres o jogo, perdes a ideia da aparência. Às vezes a aparência é o que nos mantém reféns. E esses grupos de ajuda são muito importantes. É engraçado que as minhas canções têm muito isso, diálogos de mim para mim, e sim, é muito terapêutico. Sempre escrevi canções – e espero continuar a fazê-lo – para me resolver. E às vezes demoro dez anos a perceber do que é que estou a falar.
Então não precisas de fazer terapia…
A terapia é uma coisa muito boa, tenho pena que não haja apoio para todos, sobretudo os jovens, nas faculdades, que estão completamente em burnout. Tenho imensa pena que não haja mais psicólogos e mais apoios. Isto sim devia ser uma prioridade, porque seria investir numa sociedade muito melhor. Ninguém quer fazer esse investimento, mas a psicoterapia é fundamental.

Em 2020, lançaste o livro As estradas são para ir, um autorretrato feito de textos, poemas e desenhos. Tens vontade de lançar outro livro?
Agora vou fazer o CCB. Dez dias depois, inauguro a exposição num evento muito especial em Baião, no Mosteiro de Ancede. Vai ser incrível, maravilhoso, e estou muito entusiasmada. Desabrochei totalmente na pintura, que era uma coisa que estava bloqueada na minha vida, porque havia muito medo de pintar mal. O meu grande mestre, o meu pai, dizia que queria ver as minhas pinturas quando estivessem prontas. Uma vez perguntaram-me o que é que ele dizia quando eu lhas mostrava, e respondi: “não sei, nunca terminei nada”. Imagina até que ponto é que tu consegues bloquear e boicotar-te para não terminares algo, só para não mostrares ao teu grande mestre. Ele deve estar muito contente no sítio onde estiver, porque sempre me pediu para nunca deixar de desenhar e de pintar.
A pintura é também uma terapia para ti?
Muito. Para não falhar, tenho tentado contrariar uma coisa que ele dizia que eu fazia muito, que era desenhar muitas Márcias. Para não fazer isso comecei a desenhar muitos espaços. E agora, curiosamente, com este mergulho na Márcia, que surgiu ao mesmo tempo que o disco, começaram a aparecer Márcias outra vez. Ao invés de as boicotar, pensei “deixa lá ver onde é que isto vai dar”. E é muito engraçado porque passei a pintar Márcias com uma assertividade que eu não estava à espera de ter na pintura. Não tem a ver com egocentrismo, é o meu objeto, é do que sei falar. E reparei que deixo algumas telas incompletas. Existe essa analogia entre a minha música e a tela: o silêncio na música é o equivalente àquela parte que deixo em branco na tela, para deixar a pessoa terminar esse espaço mentalmente.
Pintas, escreves, fazes música… há alguma coisa que não saibas fazer?
Excel [risos]. Fico esgotada quando tenho de fazer contagem de stock. Não nasci para aquilo. A arte é uma forma de expressão, de expressão daquilo que é humano. Que acaba também por ter impacto nas outras pessoas. O que me mantém ao longo destes anos, digo-o sem demagogia nenhuma, é a comunicação que o público e eu temos. Essa relação é muito importante, estas ideia de as pessoas virem dizer-te que determinada música as ajudou… Como é que vais ter uma coisa na vida que seja mais importante que isto? A minha música não tem razão de existir se não for para aquele ouvinte também.
Estamos a viver uma altura de grandes mudanças políticas e a assistir em direto a várias guerras. Esse desânimo tira-te a inspiração ou, pelo contrário, dá-te vontade de criar e inspirar as pessoas a serem melhores?
Tem um impacto muito negativo, muito depressivo. Quando a pessoa está deprimida, não quer fazer nada. Atualmente, temos de ser muito fortes para continuar a criar. A criação e o pensamento são os únicos antídotos para esta alienação que existe e que permite que aconteçam estas coisas no mundo. Está feita a tempestade perfeita. Temos de combater isto com cultura, temos de promover o pensamento. A criatividade é a coisa mais preciosa e nós devemos promover isso ao máximo. Por isso é que faço tanta coisa e gostava, sobretudo, de inspirar a fazer.
Planos para um futuro breve?
Estou a namorar a escrita de um segundo livro e tenho na cabeça um projeto de que não vou falar porque pode dar azar [risos]. Agora estou a iniciar este ciclo do Ana Márcia ao vivo, o disco saiu em julho, ainda é muito recente. Espero que, a seguir ao CCB, venham muitos concertos. As pessoas perguntam-me como é que tenho tempo para fazer música e pintar, mas para mim uma coisa complementa a outra. Canto muito melhor se pintar, pinto muito melhor se escrever e escrevo muito melhor se cantar.
A jovem cantora, compositora, multi-instrumentista e produtora tem 18 anos e contava apenas 13 quando gravou pela primeira vez com o seu pai, Rodrigo Leão. Sofia Leão traz na sua ainda curta bagagem o disco de estreia, Mar, feito de 12 canções desenhadas ao piano, acrescentadas de voz, cordas e eletrónicas. A ocasião para a ouvir tem lugar no Teatro São Luiz Teatro Municipal, na próxima quinta-feira, 13 de novembro.
Seguem-se as escolhas de Sofia…

Gustavo Santaolalla
Na Aula Magna
“No dia 10 de novembro, no âmbito do festival Misty Fest, Gustavo Santaolalla estará na Aula Magna às 21 horas com o seu belo ronroco. Não conheço quase nada do seu trabalho, mas o pouco que ouvi faz-me querer explorar mais e acho que pode ser uma boa oportunidade para o conhecermos melhor e desligarmos um pouco da correria do dia a dia.”
Auto da Feira
Peça de Gil Vicente
Brevemente no Teatro Cinearte/ A Barraca
“Infelizmente não leio muito. Ultimamente tenho aprofundado a obra de Gil Vicente Auto da Feira, para a levar a cena no mês de janeiro no Teatro A Barraca. Vi-me ‘forçada’ a ler esta obra, sem saber que ia gostar tanto dela. O texto aborda temas que se inserem perfeitamente na atualidade, como a ganância, o desejo, a cobiça e a mentira.”

Triângulo da Tristeza
Filme de Ruben Östlund, 2022
Disponível em streaming na Filmin
“Uma sátira poderosa sobre as desigualdades sociais intrínsecas e sobre a futilidade e as aparências. O filme é desconfortável, provocador e, ao mesmo tempo, engraçado de uma forma absurda. Fez-me rir muito e também pensar e questionar os moldes da sociedade, que se organiza em torno do poder e do dinheiro, muitas vezes sem ter noção disso.”
Ethos
Disponível na Netflix
“Esta série turca marcou o meu verão. Com oito episódios, faz-nos refletir muito sobre crenças, não só religiosas como humanas, no geral, sobre tabus, romances, medos, morte, saúde mental, preconceitos. Os atores são extraordinários e os diálogos são tão realistas como intensos. A série tem uma pitada de humor que nos faz querer ficar a vê-la sem parar. Em dois dias consegui vê-la toda e ainda a revi com vários amigos e família.”
Naqueles habituais passos desengonçados, o pinguim caminha de um lado para o outro, em cima de uma rocha, mesmo à beirinha da água. Vai olhando para o grande tanque que tem ao lado, mas a coragem tarda em aparecer. Ali fica, para trás e para a frente, sem parar. À sua volta, os outros pinguins ora nadam, ora são embalados pelas ondas que desaguam na areia, ora se escondem nos buracos das rochas.
No Oceanário de Lisboa, desde a sua inauguração em 1998, esta é a primeira vez que se faz uma reconstrução tão grande nos habitats dos animais. Durante dez meses, os pinguins-de-magalhães e as andorinhas-do-mar-inca estiveram longe do olhar dos visitantes, para agora poderem ser vistos mais de perto e num lugar mais amplo que recria as zonas costeiras subantárticas, com rochas, cascatas, gelo, estalactites e uma área para nadar com simulação de ondas de maré. O objetivo, explica o Oceanário, foi “elevar o padrão de bem-estar animal e a diversificação ambiental”.
Anteriormente conhecido como Antártico, o espaço ganhou também uma nova designação seguindo a nomenclatura da Organização Hidrográfica Internacional: Oceano do Sul. Aqui, vivem hoje 29 pinguins-de-magalhães, organizados em comunidade e cada um com o seu nome, e 12 andorinhas-do-mar-inca, que esvoaçam ali por cima, atentas ao que acontece cá em baixo. Para Xico, Sal, Zorrina, Frank e os outros pinguins existe toda uma nova casa para explorar, desde os recantos mais escondidos onde podem fazer ninhos, até ao fundo do oceano, onde arriscam mergulhar.

Para os vermos debaixo de água, vale a pena descer ao piso 0 do Oceanário e ficar colado ao vidro do tanque – à hora da refeição, passam a grande velocidade, em divertidos jogos de perseguição, para roubar o peixe da boca uns dos outros, como se não houvesse quantidade suficiente. Por aqui, parece não haver tédio. E pressão, só a das três quedas de água fria, que dão ao ambiente o fresquinho do Oceano do Sul.
Os aquaristas garantem, mesmo, que os pinguins já tinham saudades de receber visitas no Oceanário. A verdade é que todos aparentam uma alegre tranquilidade… ou quase todos. Mas até esse, ao fim de vários minutos a andar para trás e para a frente, lá se faz forte e finalmente mergulha, feliz.
Neste final de tarde, reina o silêncio na sala de leitura do primeiro andar da Biblioteca de Marvila. São várias as mesas que estão ocupadas por estudantes, rodeados de livros e apontamentos e de olhos postos no ecrã dos seus computadores portáteis. No carrinho das devoluções de empréstimos, os títulos variam, com volumes sobre Nietzsche, Picasso e Chaplin ao lado de O Príncipe, de Maquiavel, e do manual de conversação em inglês e português. Desde o alargamento de horário, em setembro, que a biblioteca está aberta de segunda a sábado, das dez da manhã às oito da noite – aliás, por aqui tudo passou a funcionar até essa hora, incluindo o café.
Também por isso, já não é silêncio o que existe na cave, onde está a acontecer um ensaio do coro e um encontro de jovens. Mas a animação maior encontra-se no rés-do-chão: na sala infantil, algumas crianças escolhem livros das prateleiras, sob o olhar vigilante e sorridente de Cristina. Há quem pegue em álbuns que não sabe ler, mas ninguém se incomoda com isso – são miúdos que costumam chegar sozinhos depois das aulas e por aqui andam entretidos até à hora do jantar, uns com os outros ou com as histórias ilustradas como companhia. “Quem usufrui mais deste alargamento é a nossa comunidade. As crianças vêm depois da escola fechar e só por isso já vale a pena”, nota Sofia Resende, coordenadora deste equipamento, sublinhando que também tem sido positivo para quem vem participar nas atividades que começam pelas sete da tarde e tem a possibilidade de requisitar um livro.

Foi a 15 de setembro que a rede municipal de Bibliotecas de Lisboa adotou novos horários, fazendo o alargamento de alguns e uniformizando outros. Marvila, Alcântara e Palácio Galveias – as chamadas biblioteca-âncora – passaram a estar abertas de segunda-feira a sábado, das 10h às 20h. No Campo Pequeno, Galveias teve, ainda, outra alteração no seu horário: a Sala José Saramago mantém-se aberta até à meia-noite, como espaço de leitura. E se o escritor dizia que, para si, esta biblioteca “era o mundo”, são muitos os que têm aproveitado para aqui vir fora de horas e tirar partido deste lugar de sossego onde os livros nas estantes rivalizam com a beleza das paredes, dos tetos e do chão.

Já os verdadeiros notívagos rumam a outra zona da cidade. Na Biblioteca António Mega Ferreira, inaugurada no final de maio no antigo Pavilhão de Portugal no Parque das Nações, o horário estende-se das oito da manhã às seis da manhã seguinte. Durante estas 22 horas é possível consultar a parte do espólio que ali está nas estantes do escritor, gestor e jornalista falecido há três anos. O serviço de referência funciona das 10h às 18h, nos dias úteis, mas a qualquer hora se podem folhear os livros da coleção de Mega Ferreira, sobre arte, urbanismo, Itália ou outras das temáticas que eram as suas preferidas. Nestas duas grandes mesas redondas e na mesa retangular – todas desenhadas pelo arquiteto Álvaro Siza Vieira, tal como as estantes e o restante mobiliário – há também quem fique a estudar pela noite fora. Garante o segurança que, às seis da manhã, é quase sempre necessário pedir a quem lá está para abandonar a sala e que, antes das oito, já estão pessoas à porta, à espera da abertura.

Esse horário daria jeito às irmãs Mafalda e Matilde Pinheiro, que vieram aproveitar o fim de tarde na Biblioteca de Alcântara – José Dias Coelho, bem mais perto de casa. “A vantagem é as pessoas poderem utilizar o espaço, com acesso à Internet, para ficarem a estudar. Penso que na época de exames este alargamento será uma mais-valia”, nota Ana Santos, coordenadora do equipamento. Na mesma sala de leitura estão as amigas de 23 anos Maria Ponte e Sara Gíria, a estudar, respetivamente, Engenharia Biomédica e Direito e Economia do Mar. Sara veio buscar um livro para a sua tese e conhece bem os cantos à casa, onde tem por hábito assistir a muitas das atividades culturais que acontecem. Na mesa, têm computadores portáteis, cadernos de apontamentos, lápis, canetas, estojos e garrafas de água. Não lhes falta nada para se concentrarem no estudo – e já se sabe que aqui o silêncio é garantido.

BIBLIOTECA PALÁCIO GALVEIAS
Campo Pequeno / 218 173 090
Segunda a sábado, das 10h às 20h
Sala de leitura: segunda a sábado, das 20h às 24h
BIBLIOTECA MARVILA
Rua António Gedeão / 218 173 000
Segunda a sábado, das 10h às 20h
BIBLIOTECA ANTÓNIO MEGA FERREIRA
Pavilhão de Portugal, Torreão Norte, Alameda dos Oceanos / 218 174 740
Todos os dias, das 8h às 6h
Atendimento ao público: segunda a sexta, das 10h às 20h
BIBLIOTECA ALCÂNTARA – JOSÉ DIAS COELHO
Rua José Dias Coelho, 27-29 / 218 173 730
Segunda a sábado, das 10h às 20h
As Bibliotecas de Belém, Camões, Coruchéus, Orlando Ribeiro, Penha de França e a Hemeroteca Municipal funcionam agora nos dias úteis e no primeiro e terceiro sábado de cada mês, das 10h às 18h. Todas elas encerram aos domingos, feriados e na última quarta-feira de cada mês até às 14h, à exceção de Marvila e do Palácio Galveias que encerram até às 15h na última quarta-feira do mês.
Celebras 20 anos de carreira. O que é que este número redondo representa?
Deixa-me feliz que, ao fim de 20 anos, ainda tenha a mesma vontade de fazer música que tinha no princípio. Consegui fazer vários discos e muitos concertos, foi um caminho sempre crescente: começou comigo a estudar enquanto fazia música ao mesmo tempo. Depois, comecei a trabalhar, voltei a estudar, tive uma bolsa de investigação, tudo isto ao mesmo tempo que fazia música, até passar a fazer apenas música. Portanto, é um reflexo de tudo isso. Faz-me sempre confusão esta ideia dos marcos temporais, mas gosto de perceber que, ao fim deste tempo todo, ainda me sinto muito parecido com o que era quando comecei. Não vejo uma mudança, mas sim uma evolução.
Vivemos num mundo de consumo rápido em que ninguém compra discos. Isso influencia a maneira como compões?
Penso que não tem impacto na maneira como componho porque sou sempre muito inseguro em relação a todas as coisas que faço, até elas chegarem a um ponto em que sinto que não conseguia fazer melhor. Antigamente tinha a ideia de que quem nunca desiste, mais tarde ou mais cedo, obtém algum resultado. Atualmente isso já não é bem assim. O resultado não depende só da dedicação ou do tempo que se investe. É também a sorte do algoritmo, é a conta do Instagram ou do Facebook ter sido criada há mais ou menos tempo. Há uma série de fatores e de variáveis que, no final, podem tornar ou não o trabalho que tivemos mais inconsequente. Antigamente trabalho significava resultados, atualmente pode não ser assim.
Qual o melhor feedback que te podem dar?
Sempre gostei de passar momentos da minha vida com música, portanto, se alguém me disser que passou momentos da sua vida a ouvir a minha música, parece que o ciclo fica mais real. Como se aquilo com que sempre sonhei ou que sempre me arrepiou ao ver os outros fazerem, estivesse a acontecer comigo. Se calhar esse é o maior elogio que podem dar à minha música. Para mim, a música serve para contemplar, para ser banda sonora de certos momentos. Portanto, se a minha tiver esse papel na vida de outra pessoa, acho que fica fechado um ciclo de felicidade.
Há alguma história engraçada que tenham partilhado contigo?
Tenho várias, umas mais felizes, outras menos. Uma vez toquei no casamento de um casal que se tinha conhecido num concerto meu. Eles queriam que eu tocasse uma música específica durante a entrada da noiva. Essa música tinha dois minutos e tal, e acabei por ter de a tocar em loop durante uns 15 minutos. Há histórias um bocadinho mais tristes, mas com um final não tão triste, como pessoas que estavam numa fase pior da vida e que uma determinada frase de uma música foi capaz, não de mudar a vida da pessoa, mas fazê-la perceber as coisas de outra forma. Atualmente, com as redes sociais, há uma facilidade muito maior de entrar em contacto com quem me ouve, por isso vou recebendo muito feedback.
Quando estás em processo de composição, em que momento dás as músicas por terminadas?
Tenho sempre medo que um dia esse momento deixe de acontecer e que eu fique para sempre descontente em relação a determinada música. Felizmente há sempre uma altura em que sinto que já não consigo alterar mais nada. Não há uma regra, mas há realmente um momento em que isso costuma acontecer. Normalmente choro quando isso acontece. Faço parte de uma banda, os You Can’t Win, Charlie Brown, e aí há sempre um barómetro: se eu chorar com a música é porque ela está fechada. Nas minhas canções a solo isso acaba por acontecer muitas vezes. Ou porque os acordes me emocionam de uma maneira extrema, ou porque as frases que estou a cantar são momentos específicos da minha vida que me fazem muito sentido, mas isso quase sempre acontece nesse momento final. Às vezes é mais rápido, às vezes é mais lento, não há uma regra.
És muitas vezes chamado de “homem-orquestra” por tocares todos os teus instrumentos. Para quem também faz parte de uma banda isso não é um ato solitário?
É um ato solitário, mas não me causa maus sentimentos. No período de ensaios pode ser um bocadinho mais maçador. Um ensaio em banda passa mais depressa do que um ensaio sozinho. Às vezes fico quatro, cinco horas a fazer a mesma coisa quando estou a compor e acabo por entrar num sítio de descoberta que é bom. É uma coisa que não sei explicar, até pode estar relacionado com a área que estudei e de que sempre gostei, que tem a ver com matemática e resolução de problemas. Esse momento é solitário, mas é um momento de procura e de descoberta. São momentos emotivos o suficiente para me manterem arrepiado, e isso mantém-me mais vivo.

Como não podia deixar de ser, o novo disco tem um título peculiar: 7305. Qual o significado?
7305 é o número de dias que 20 anos contém. A capa do disco é um calendário perpétuo destes últimos 20 anos. Esses 7305 dias representam o período entre 19 de março de 2005, quando foi o primeiro concerto de Noiserv, até 19 de março de 2025.
O disco tem algum fio condutor?
Como em todos os outros, as músicas refletem sobre coisas que me afetam, como dúvidas existenciais, ou o que éramos em criança, para dar exemplos. Depois, pela primeira vez, há duas ou três músicas que têm uma letra ligeiramente mais política, algo que nunca tinha escrito.
Porquê?
Estamos a viver uma fase muito conturbada. Essa realidade está muito mais na minha cabeça do que estava antes. A temática do disco é muito mais atual, está relacionada com o meu pensamento ou com as coisas que me vão afetando. Por exemplo, a 20.27 fala sobre os campos de concentração de Auschwitz, que visitei em janeiro do ano passado e que foi uma experiência muito impactante. Fez-me algum sentido abordar, de uma maneira mais filosófica ou mais metafórica, o que se passou ali. As músicas são sempre vivências e histórias, umas reais, outras interiores, mas não visíveis.
O disco conta com várias colaborações, como Surma, Afonso Cabral, Best Youth, Selma Uamusse, Milhanas, entre outros. Sabias exatamente que vozes querias para determinados temas?
Ao contrário dos outros discos, em que havia uma questão sempre muito mais solitária, aqui pensei nesta ideia de me ter cruzado com muitas pessoas cujo trabalho admiro ao longo destes anos. Não tinha, à partida, nenhuma ideia concreta, os convidados que surgiram foram aparecendo relacionados diretamente com as músicas. Quando estava a compor a Casa das Rodas Quadradas fazia-me confusão entrar sozinho no refrão. Achei que a voz da Milhanas ia ficar perfeita ali. A música em que a Surma participa tinha todo um universo que é uma referência para nós os dois, a questão da Islândia e dos Sigur Rós, e pensei que precisava de uma voz que fosse conectada com a minha, concretizando a ideia de uma amizade entre duas pessoas que estão no cimo de um lugar qualquer a cantar. Com A Garota Não, a letra da música é mais política e já tínhamos falado tantas vezes em gravar juntos que pensei ser a ocasião perfeita. Com o coro de vozes, tinha a premissa de que essa música seria só voz e guitarra, mas depois optei pelo coro. Convidei o Afonso Cabral, que é da mesma banda onde toco, a Selma, que mora perto de mim e andou comigo no liceu, o André Tentúgal, com quem falo quase todos os dias… Os convites foram surgindo assim, de forma natural. Não exagerando na poética, parece que foram as próprias músicas que puxaram aquelas pessoas para si.
Tal como aconteceu no disco anterior, tens vindo a revelar este novo álbum aos poucos. É uma tentativa de reviver os tempos em que se ouviam os discos do início ao fim?
É uma tentativa de que o disco não seja apenas uma música, mas sim muitos momentos. É uma forma de dar a cada um desses momentos um bocadinho mais de vida. Hoje em dia, a partir do momento em que um disco sai, parece que já é todo antigo. Claro que há pessoas que ainda gostam de ouvir o disco todo e outras que se vão identificar com uma música específica mesmo que ela não seja o single escolhido. A minha ideia inicial era esta: num período em que não há tempo praticamente para nada (pelo menos as pessoas têm esse sentimento), se eu der a cada música um mês de destaque, se calhar ela acaba por ter mais tempo de escuta. A tentativa foi um bocado essa.
A 26 de novembro, apresentas este trabalho no CCB. Os concertos são sempre momentos de grande originalidade. Estás preparado para surpreender o público outra vez?
Desde o disco de 2016 que tenho trabalhado sempre com o Berto Pinheiro na questão da luz. Em 2016 eram uns painéis que tinham uma câmara projetada, depois passámos para o cubo, que ganhou uma energia diferente de luz. Estamos a pensar em conjunto, a nível de luz e do próprio alinhamento, num conceito diferente. Fugir eventualmente da questão do cubo para se perceber que é outro lugar, mas tentar apanhar as coisas que em todos esses momentos foram relevantes, como as câmaras, que se justificam porque estou a tocar sozinho e há muitas coisas que estão escondidas e que as pessoas não conseguem ver. Porém, ainda estamos no período de descoberta. Em relação ao alinhamento, como é uma celebração dos 20 anos, é redutor tocar só o disco novo.
Vais ter convidados?
Sim. Ainda estou a perceber quais é que vou ter ou não. Até agora, posso confirmar a presença da Surma.
Cantor e compositor, João Pedro Pais assume-se como um homem de “histórias e memórias”. Com uma carreira artística de quase três décadas e centenas de concertos na bagagem, lançou o seu primeiro álbum de originais, Segredos, em novembro de 1997, onde figuram os singles Ninguém (é de ninguém) e Louco (por ti), que se tornaram canções emblemáticas da sua carreira.
Em março deste ano, lançou um novo trabalho, Amigo Improvável, que reafirma a sua identidade única. Ao longo das canções, o disco atravessa diferentes estados de espírito e paisagens emocionais, abordando a nostalgia, a coragem de recomeçar, a procura de novos horizontes e a celebração da amizade e do amor. Para a capa deste álbum, João Pedro Pais foi fotografado pelo seu velho amigo Bryan Adams.
 Reality Show: Os Raposos 3027, de Miguel Raposo
Reality Show: Os Raposos 3027, de Miguel Raposo
Em cena até 16 de novembro
Teatro Variedades
“Tenho uma proximidade muito grande com o José Raposo. Nesta peça, ele junta-se aos filhos, que são miúdos que nasceram no meio em que nasceram e transformaram-se em bons atores. Claro que o pai tem a experiência de uma vida. O pai vem de um teatro de variedades; começa, penso, no Parque Mayer e noutros teatros mais populares, e tornou-se num grande ator. E depois não é só o ser grande ator, é ser bom homem. Isso é que marca a história de vida das pessoas. Ser íntegro, ter caráter e identidade. Diz quem já foi ver que a peça é muito interessante, que está espetacular. Por isso aconselho e quero muito ir ver.”
Casa de Linhares e Sr. Vinho
Casas de fado
“Costumo ir à Casa de Linhares ter com o Jorge Fernando e com a Fábia Rebordão, e ao Sr. Vinho, com a Maria da Fé. Dá-me um imenso gosto e prazer ver cantar os outros, os seus fados, a modernidade que o fado atingiu… Até porque o fado foi mudando, consoante os intérpretes; já não é aquele fado tão tradicional como se cantava há 40 ou 50 anos. E vou aprendendo com isso, ao ouvir as harmonias, a cadência musical. Isso também me influencia e me motiva a fazer as minhas canções.”
Esperança: a Autobiografia, de Papa Francisco
Editora Nascente
“Gosto muito de ler biografias. Gosto de saber as histórias. O que me motiva são as histórias reais, aquilo que se passou mesmo. Ler a autobiografia de Jorge Bergoglio, o Papa Francisco, está a saber-me muito bem. E claro que, a seguir, já tenho a biografia do Kurt Cobain para ler. E há outros intérpretes com quem me identifico muito, como o Eddie Vedder ou o Sting, e que gostava muito que escrevessem biografias, para eu poder usufruir das suas histórias e memórias.”
 Batalha atrás de batalha
Batalha atrás de batalha
Filme de Paul Thomas Anderson
Em exibição nos cinemas
“É um filme com o Leonardo DiCaprio, Sean Penn e Benicio Del Toro, três atores enormes. Aliás, qualquer filme onde entre o Sean Penn é sinal de qualidade. Já o Leonardo DiCaprio é hoje muito mais do que um menino bonito, tornou-se um grande ator e é um homem de causas.”

Pier Vittorio Tondelli
Quartos Separados
Pier Vittorio Tondelli morreu vítima de SIDA em 1991, aos 36 anos. Nas suas poucas (mas influentes) obras, reafirma uma “escrita da vida”, uma adesão à realidade da geração dos anos 1980, marcada pelo “sexo, drogas e rock’n’roll” e pelo fim da contracultura dos movimentos juvenis que a antecederam: “A sua diferença, aquilo que o distingue dos amigos da terra onde nasceu, não é tanto o facto de não ter um trabalho, uma casa, um companheiro, filhos, mas precisamente o escrever, dizer continuamente através da escrita aquilo que os outros se sentem muito satisfeitos por calar”. Teo, jovem escritor italiano, narra a sua trágica história de amor com Thomas, um músico alemão, interrompida pela morte prematura. Durante quatro longos e dolorosos anos de luto, Teo reflete sobre os temas do amor e do sexo, da culpa e da solidão, e na questão central da linguagem que perceciona como incapaz de expressar a essência da relação amorosa (“Mas o que lhe parecia mais importante era o facto de, carta após carta, estar a elaborar com Thomas um novo código de palavras adequado ao seu amor”). A prosa é requintada, rítmica e musical, mas contaminada por certas “impurezas” que o autor compara a um “quadro em se vê a matéria, a pincelada, o gesto do artista”. LAE Clube do Autor

António Borges Coelho
Poemas
Por ocasião dos 90 anos de António Borges Coelho, a Biblioteca Nacional de Portugal organizou uma mostra de homenagem intitulada Dar voz aos que em baixo fazem andar a História. Efetivamente, um traço unificador do conjunto da obra do ilustre historiador é o de transformar os estratos médios, os trabalhadores rurais ou os escravos, em atores sociais e coletivos. O autor, pioneiro entre nós do estudo dos vestígios da cultura árabe, dos processos da Inquisição ou das raízes da expansão portuguesa, reúne em livro uma coletânea-balanço da sua poesia, revista uma última vez por si, aos 96 anos de idade, pouco antes do seu falecimento, ocorrido no passado mês de outubro. Para além da sua atividade de historiador, Borges Coelho escreveu também prosa de ficção, teatro e poesia. Vida literária que começou, justamente, com a publicação de Roseira Verde, recolha poética de 1962. Capaz de um genuíno sopro lírico e de celebrar uma ligação telúrica à terra, esta é uma poesia marcada pela luta exemplar do autor pela liberdade, contra o salazarismo, e pela sua penosa experiência de preso político. Por vezes, aflora o desespero (“Não há céu para os humanos / só betão chapa e óleo queimado”), mas prevalece o sentido militante de resistência: “Quem é capaz / de subjugar-me a chama? Quando quero / dou um salto das ameias / mergulho no mar de panorama / nado com os peixes as sereias.” LAE Caminho
John Steinbeck
Chama Devoradora
John Steinbeck (1902-1968), Prémio Nobel de Literatura em 1962, autor de As Vinhas da Ira (1939) e A Leste do Paraíso (1952), criou com Ratos e Homens, publicado em 1937, um género novo: o romance-peça teatral. Combinando formas já conhecidas, pretendia “permitir a uma peça maior alargamento do círculo de leitores e a uma novela a possibilidade de, se dela se conservar unicamente o diálogo, ser representada sem habitual revisão prévia”. A obra que ora se edita, dividida nos três atos tradicionais, é a sua terceira experiência no género. Narra a história de um homem consumido por uma “chama devoradora”. Joe Saul é um poderoso trapezista de circo (“espécie de pequeno mundo dentro do mundo”) que evoca a ascendência dos deuses da Antiguidade Clássica e dos jograis da Idade Média. Sentindo-se envelhecer e perder forças, é atormentado pelo facto de nunca ter tido um filho. John Steinbeck, inspirando-se numa narrativa medieval, desenvolve uma profunda reflexão em torno dos temas universais da continuidade do sangue, do desejo de imortalidade e da responsabilidade individual e coletiva pela vida de cada criança. LAE Livros do Brasil
Joël Dicker
Uma Catastrófica Visita ao Zoo
Joël Dicker propôs-se escrever “um livro que pudesse ser lido e partilhado por todos os leitores, dos 7 aos 120 anos.” Contrariando a tendência para esquecermos as crianças que fomos, Uma Catastrófica Visita ao Zoo é um relato de sucessivos e imprevisíveis acontecimentos, narrado por Joséphine, uma das protagonistas desta misteriosa história, já em adulta. Joséphine frequentava uma escola especial, juntamente com outros cinco meninos, de onde conseguiam ver a escola das crianças normais. Uma segunda-feira de manhã, bombeiros entram e saem da escola, numa agitação sem par. Tinha acontecido uma inundação. A “catástrofe inicial que se desenrolaria em cascata, de catástrofe em catástrofe, até à catastrófica visita ao jardim zoológico.” Descontentes com as investigações dos bombeiros, e, entretanto, já instalados na escola das crianças normais, os meninos, logo apelidados de “Esquisitoides”, resolvem levar a cabo a sua própria investigação para descobrir quem inundara a escola. Com a mestria a que já nos habituou, prendendo o leitor do início ao fim, Dicker apresenta-nos uma história que fala de inclusão e tolerância, de democracia e censura, das relações entre professores e alunos e também entre pais e filhos. “No fundo, as pessoas são como as estrelas: é quando as observamos com atenção que nos apercebemos de quanto brilham.” SS Alfaguara
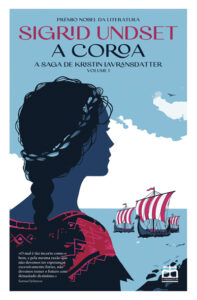
Sigrid Undset
A Coroa – A Saga De Kristin Lavransdatter, Vol. I
Sigrid Undset nasce na Dinamarca em 1882, filha de um arqueólogo com quem desenvolve o gosto pela história medieval e a mitologia. Em 1912 casa-se com o pintor norueguês Anders Castus Svarstad com quem tem três filhos. A partir de 1920 dedica-se à escrita de romances históricos e, em 1928, é galardoada com o Prémio Nobel de Literatura. Em 1924 converte-se ao catolicismo provocando um grande escândalo numa Noruega predominantemente protestante. Durante a II Guerra Mundial, opõe-se ao regime nazi e refugia-se nos Estados Unidos. A trilogia Kristin Lavransdatter, a sua obra-prima, decorre na Noruega da Idade Média, pouco depois do período Viking. Kristin pertence a uma família nobre e, desde cedo, demonstra uma personalidade forte e independente, contrastando com a religiosidade e a submissão das mulheres da época. Prometida em casamento a um pretendente escolhido pelo pai, conhece Erlend, um cavaleiro carismático, mas de reputação e ligações políticas duvidosas. Apaixonada – “Kirstin sentia que eram agora na verdade apenas um (…) e que sentiria na própria pele qualquer arranhadela que Erlend sofresse” – desafia a tradição e as convenções sociais e religiosas. Este extraordinário retrato de mulher em luta contra os constrangimentos sociais da Idade Média espelha os conflitos internos da autora, dividida entre maternidade e escrita, tradição e individualidade. LAE E-Primatur

Nuno Portas
A Cidade como Arquitetura
Em A Cidade como Arquitetura, livro escrito por Nuno Portas (1934-2025) em 1969, o arquiteto dá à estampa uma crítica particularmente lúcida, e em muitos sentidos visionária, sobre as cidades, parecendo antecipar muitos debates contemporâneos sobre participação e sustentabilidade. Numa obra hoje reconhecida como um marco na reflexão sobre o urbanismo em Portugal, o autor propõe um contributo “para armar melhor uma disciplina em refundação: a arquitetura urbana”. Para isso, Portas rompe com a visão de uma cidade resultante de planos técnicos ou funcionais, defendendo-a como “obra arquitetónica em grande escala”, ou seja, a cidade como estrutura viva e mutável, cuja qualidade depende da articulação entre projeto e experiência quotidiana e entre políticas públicas e práticas sociais. A atual edição, reimpressão fac-simile da quarta de 2011, assinalou a celebração dos 90 anos de Nuno Portas pela Ordem dos Arquitetos. FB Livros Horizonte
Silvia Federici
Além da Pele
A Orfeu Negro já tinha editado Calibã e a Bruxa, de Silvia Federici, um ensaio feminista sobre a transição do feudalismo para o capitalismo e de como este se apropria e explora os corpos das mulheres. Chega agora Além da Pele, escrito em 2020, com o subtítulo Repensar, refazer e reivindicar o corpo no capitalismo contemporâneo – um conjunto de textos sobre o corpo feminino e a necessária luta para a sua libertação. A filósofa italiana defende a ideia de que apenas haverá corpos livres quando se conseguir uma nova forma de organização social e individual – rebatendo até algumas importantes teorias feministas. Essa mudança, argumenta, tem de passar por alterações do quotidiano, uma vez que aquilo que no capitalismo é vendido como forma de libertação se revela, na verdade, um meio de enfraquecimento. Federici acredita que, para conseguirmos mudar o mundo, precisamos de corpos que dancem e de uma “militância alegre”, acrescentando que esta luta tem de ser vivida em conjunto, com amor e afetividade. Palavras escritas há cinco anos, quando o mundo parecia, apesar de tudo, bem mais “evoluído” nesse sentido do que nos dias de hoje. GL Orfeu Negro
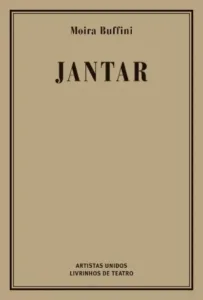
Moira Buffini
Jantar
Page, uma mulher abastada, fútil e entediada, prepara-se para reunir alguns amigos para jantar e celebrar o mais recente sucesso editorial do marido, Lars, um badalado “filósofo” da autoajuda. Para servir as iguarias requintadas que a própria preparou, conta com a ajuda de um misterioso criado que contratou através da internet. A primeira convidada a chegar é Wynne, uma excêntrica e falhada artista plástica, que granjeou brevíssimo sucesso quando exibiu uma pintura em que reproduzia os genitais do amante deputado. Seguem-se Hal, um microbiologista novo-rico, rude e boçal, e a sua companheira, a pivot de noticiário Sian, tratada recorrentemente pelo namorado como a “miúda das notícias”. Sentados à mesa, Page inicia o jantar procurando a cada prato não celebrar o sucesso do marido, mas humilhá-lo e insultar os convidados. Tudo parece estar a correr como planeara, quando irrompe pela casa Mike, um pobre coitado que, devido ao nevoeiro cerrado, acaba de destruir a carrinha que conduzia no muro da casa. Entre a comédia de costumes, a sátira e o grotesco, a dramaturga inglesa Moira Buffini assina uma comédia carregada de ironia que combina influências que vão de Buñuel a Pinter, passando pela melhor tradição do policial britânico. A peça, encenada por Pedro Carraca, está em cena no novo Teatro Paulo Claro, nova casa dos Artistas Unidos, até meados de novembro. FB Livrinhos de Teatro – Artistas Unidos
É na copa, junto à máquina de café e nos intervalos dos ensaios, que as angústias se revelam. Um dos atores anda em constante sobressalto, com medo de meteoritos, terramotos e a iminência do fim do mundo. Outro confessa-se nervoso com a leitura do texto em voz alta e as improvisações e só consegue acalmar-se recorrendo a ansiolíticos. Já a atriz enfrenta o pânico de ficar sem casa, depois de receber um aviso de despejo da senhoria. Eis o elenco de A Gaivota, de Anton Tchékhov, a peça encenada em Ansioliticamente falando, o novo espetáculo de Raquel Castro que estreia no Centro Cultural de Belém.
De 1 a 9 de novembro, a encenadora volta a jogar com ficção e realidade e, desta vez, as linhas parecem tornar-se ainda mais ténues ao levar o teatro para dentro do teatro, os ensaios de uma peça para dentro de uma outra peça. “O espetáculo começa de forma muito ficcional e teatral e caminha para uma coisa mais confessional, mais próxima das coisas que costumo fazer, a falar do meu ponto de vista das coisas”, diz Raquel, precisamente o nome que escolheu para a sua personagem, uma encenadora a braços com mais uma adaptação do clássico de Tchékhov e com um elenco à beira de um ataque de nervos.

Será para a ansiedade que aqui se olhará e não existe Victan, Lexotan ou outros ansiolíticos que salvem a situação. Nem incenso, meditação ou exercícios de relaxamento que controlem aquilo que vem descrito no dicionário como uma perturbação psicológica que se sente na expectativa de um perigo perante o qual nos achamos indefesos. “Ansiedade é o ponto de partida autofágico, como de costume. É um tema que me toca de forma pessoal e achei que era altura de falar sobre isso”, conta Raquel. “Fazer espetáculos autobiográficos põe-me em frente a questões que me inquietam ou que me preocupam, mas já não tenho a ingenuidade de pensar que os espetáculos vão resolver a vida. No entanto, acho que há uma necessidade de falar sobre este tema de uma forma generalizada e principalmente sobre a necessidade de termos de parar esta voragem. Não é só um problema individual, é um problema coletivo e sistémico de uma sociedade que nos obriga a estar em constante atividade e produção, sem tempo para as coisas.”

Em cena, cada uma à sua maneira, as personagens de Raquel Castro, Paulo Pinto, Pedro Baptista, Joana Bernardo e Sara Inês Gigante confrontam-se com os seus “abismos emocionais” e, também, com os das personagens de A Gaivota. O pântano imaginado pelo dramaturgo russo cruza-se com aquele em que nos vemos todos engolidos – seja no palco, seja na plateia. “As peças de Tchékhov têm um mal-estar que se manifesta de muitas formas, que é um pouco existencial e um pouco sobre a dificuldade em mudar e em avançar. A Gaivota é um texto de que gosto muito e achei que dentro dos Tchékhov podia ser o melhor para contar esta história. Foi escolhido já pensando que tem uma reverberação nestes temas ou que podia haver aqui um casamento entre a ficção e a realidade”, explica a encenadora.
Voltemos para junto da máquina de café, esse lugar de confissões onde se traficam ansiolíticos: Victan ou Lexotan? Na dúvida, sempre Tchékhov.
paginations here