2019 é um ano especial para o São Luiz, pelos 125 anos. Esta programação celebrativa pode ser entendida como a afirmação plena de uma direção artística?
Enquanto diretora artística, tem sido essencial aquilo que defino como uma espécie de “dramaturgia”, ensaiada ao longo dos últimos quatro anos, que passa pela fixação da memória. A memória entendida como processo de aprendizagem e de reflexão. Assinalar os 125 anos é celebrar a história rica que este teatro tem, encaixando a programação no olhar que diferentes criadores têm perante aquela que é uma história comum. Por exemplo, o espetáculo do Teatro Praga [Xtròrdinário] foi paradigmático desse olhar, uma vez que descobriu outras histórias dentro da história do teatro. Do mesmo modo, o da Joana Craveiro [Ocupação] estabeleceu a relação dessa mesma história com a da resistência antifascista. Pelo que até aqui se passou, e também pelo que reservamos para os próximos meses, poderei garantir que esta programação, por toda a liberdade que tive em prepará-la, é a afirmação de uma identidade…
Essa identidade pode ser definida para além desta linha programática da celebração dos 125 anos?
Com certeza. A identidade atual do São Luiz passa pela relação com a sua história, com a cidade e com os artistas. Aliás, se há algo que tenho privilegiado é o acompanhamento e a relação sólida com os artistas. Se olharmos para estes últimos quatro anos, verificamos que alguns deles estão presentes a cada temporada. Isso permite que cresçam e que tenham o espaço e os meios para darem continuidade ao desenvolvimento do seu talento.
Falemos dos grandes momentos que encerram esta celebração. O corolário será o livro que a jornalista Vanessa Rato coordenou e que reúne textos de várias personalidades…
Quisemos contar a história do São Luiz, mas não só. O livro reúne, sobretudo, uma série de textos da autoria de pessoas muito diferentes que refletem sobre a importância deste teatro hoje, não só na cidade, até porque tem a particularidade de ser um teatro municipal, mas na contemporaneidade e nas artes de palco. Como não havia ainda nenhum livro sobre o Teatro São Luiz, fico feliz por deixar uma marca não efémera desta celebração.

A temporada 2019/2020 arranca com a continuação desta celebração, ou seja, com o regresso a palco de A Dama das Camélias, peça de Alexandre Dumas (filho) que Eleonora Duce interpretou aqui no final do século XIX.
Por sinal, não foi uma encomenda, mas um encontro de vontades. Há anos que gostaria de ter em cena esta peça e, um dia, a Carla Maciel [atriz que vai protagonizar o espetáculo dirigido por Miguel Loureiro, em estreia a 6 de setembro] vem ter comigo a propô-la. Aceitei, mas desde que fosse feita no âmbito dos 125 anos do São Luiz, precisamente por ser um texto inscrito na história deste teatro devido à passagem por Lisboa dessa grande atriz.
Em novembro, há outro momento importante com o regresso do cinema à sala principal do São Luiz…
Com Metropolis, o filme de Fritz Lang que aqui estreou em 1928. Tal como nesse ano, o filme será acompanhado com música ao vivo, numa nova partitura de Filipe Raposo, que conduzirá o mesmo número de instrumentistas que à data da estreia do filme.
Do que passou nesta celebração, há algum momento que a tenha tocado particularmente?
A ópera do Offenbach, A Filha do Tambor-Mor, foi um momento muito especial por ter sido um projeto ambicioso e inteiramente nosso. E o que mais me agradou foi ter aqui em palco dezenas de alunos do ensino artístico de todo o país e apostar, de um modo tão evidente, na relação com as escolas. Aliás, confesso que gostaria de investir muito mais nesta relação que considero de vital importância para o futuro.

Atualmente, os três teatros municipais de Lisboa são dirigidos por não-artistas (a Aida aqui, a Susana Menezes no Teatro Luís de Camões e o Francisco Frazão no Teatro do Bairro Alto). Acredita que a exigência é maior por não serem artistas?
Talvez. Durante muito tempo, um programador a ocupar a direção artística de um teatro levantava muitas dúvidas. Hoje, acho que já não é bem assim, até porque é comum ouvir críticas a programadores-artistas acerca das opções estéticas que assumiam. Pessoalmente, também tenho as minhas, mas, e talvez porque não sou artista, consigo estabelecer o distanciamento que me pode permitir programar um espetáculo do qual posso não gostar particularmente, mas que é fundamental num determinado contexto. Diria que tenho a vantagem de não ter prisões do ponto de vista estético e, enquanto programadora, procuro estar sempre muito consciente e atenta ao sítio onde estou e ao que me rodeia.
Caso estivesse noutro teatro, seria uma programadora diferente?
Certamente. Programar um teatro municipal é desenvolver serviço público. Se estivesse no CCB ou na Culturgest seria diferente com toda a certeza.

Já referiu a relação com os artistas como fundamental na sua direção, mas há mais marcas identitárias…
A minha direção teve algumas preocupações. Em relação às mulheres, por exemplo, elas representam este ano mais de 50% dos criadores que vão passar pelo São Luiz. E estão aqui pela sua qualidade, não por serem mulheres. Orgulho-me deste ser o teatro que tem mais mulheres a trabalhar. Depois, há também a internacionalização, uma aposta inédita no São Luiz, e que tem permitido a inúmeros artistas circularem com os seus trabalhos por Paris, Istambul ou Brasil.
Concluímos com alguns destaques desta temporada?
Porque não? Teremos o regresso da Christiane Jatahy com o segundo capítulo de Nossa Odisseia; uma retrospetiva dos solos de Mónica Calle intitulada Este é o meu corpo; ou uma nova parceria de Ricardo Neves-Neves com Filipe Raposo, depois do grande sucesso de Banda Sonora, chamada A reconquista de Olivenza.
Em que fase de desenvolvimento se encontrava este projeto quando se deu a sua entrada?
Quando o Paulo Branco me propôs o filme já existia um primeiro guião do Rui Cardoso Martins. Quando aceitei, disse ao Paulo que gostava muito do tema, do assunto, mas que queria mexer no guião. Trabalhei sozinho em cima da versão do Rui, e depois entrou também o Gilles Taurand para trabalhar uma parte, tendo eu procedido à colagem final.
A escolha do ator Albano Jerónimo para o papel principal é decisiva no impacto do filme. Foi evidente para si que o João Fernandes tinha de ser ele?
Foi claríssimo. Lembro-me das conversas prévias que tive com o Paulo Branco e, mesmo antes da reescrita que permitiu que me apoderasse de parte da história para a tornar minha, o Albano era a única pessoa que via com o perfil certo para uma personagem desta dimensão. Não só pelas características físicas, mas também porque ele tem capacidade para aceder a uma loucura que não se percebe bem. Essa zona de ambiguidade tinha de existir no João Fernandes.

A contribuição de Paulo Branco em A Herdade vai muito para além do papel de produtor. Em que áreas se reflectiu o seu contributo?
A vontade de fazer um filme sobre este assunto nasce dele. Quando entro com o desejo de me apropriar emocionalmente do assunto, para não ficar limitado a executar o papel de realizador, o Paulo esteve sempre muito comigo. Não só do ponto de vista técnico, mas tínhamos boas discussões sobre filmes, sobre emoções e sobre cenas que deveriam entrar ou sair.
O filme só tem música na abertura e no fecho. O que justifica no seu entender esta opção?
Não foi algo de que tivesse consciência desde o início. Durante a montagem, com o Roberto Perpignani, comecei a sentir que o filme precisava de espaço e de tempo e de som. Som ambiente, dos ventos, do silêncio. E o processo apanha-me numa fase em que nos meus trabalhos no teatro não queria sublinhar emoções. O papel da música no cinema é o de encaminhar, de direccionar, de dar um determinado ambiente ao espectador. O próprio filme começou a rejeitar algumas experiências que fomos fazendo. A música ficou apenas nos momentos em que surgem os títulos.
A Herdade não mostra sexo ou violência, embora as consequências destes elementos sejam bem visíveis. Isto resulta de uma tentativa de fugir à gratificação mais óbvia do cinema? Ou há outra explicação?
Vou deixar para já de lado a parte sexual e falar das ações propriamente ditas. Gosto muito dos espaços que ficam “entre”. Entre os eventos. O filme tem bastantes eventos, mas consegui encaminhar de tal forma a narrativa para poder viver só com as consequências dos eventos. Uma zona de ambiguidade emocional de que gosto muito. Daquilo que as personagens estão a sentir. De onde tiramos sempre coisas diferentes da pessoa sentada ao nosso lado. Relativamente à questão sexual, como é um assunto tão fundamental naquela história, não quis mostrar o que não precisava de ser mostrado.

O filme dura duas horas e 45 minutos. Trata-se da primeira e definitiva versão de montagem ou existiram outras com diferentes durações?
No primeiro corte tínhamos três horas. Mas existia uma consciência muito clara de que havia várias cenas para resolver. Coisas que não estavam a funcionar. Falei com o Paulo Branco para saber se a duração poderia ser um problema. Respondeu que seria a que o filme pedisse. Então eu e o Roberto Perpignani estivemos muito à vontade no deixar o filme correr para o sentimento que pretendiamos.
O cinema português não costuma apresentar guiões com tanta qualidade de escrita e fôlego romanesco. As fontes de inspiração do filme são predominantemente de ordem literária ou cinematográfica?
Uma das minhas grandes vontades foi a de trazer para o filme o prazer que retiro da leitura. Gosto muito dessa zona que a leitura permite, de liberdade interpretativa, e quis que o interior das personagens e o que se passa dentro delas fosse entregue dessa forma. Quanto às referências que tínhamos, eram de filmes clássicos do cinema americano e italiano. Posso falar do Leone (Aconteceu no Oeste, de 1968), do Minnelli (A Herança da Carne, 1960); enquanto preparávamos o filme, andámos a rever filmes de que gostávamos desde a infância e conhecer outros novos. Do ponto de vista da literatura não consigo destacar uma referência. O que gosto é dessa regra fundamental que permite seres tu a construir o teu filme.
A Herdade exigiu um aturado trabalho de reconstituição? Que relação estabelece entre as limitações da produção e as soluções encontradas?
Muitas coisas estão preservadas. Aquele terreiro está muito assim, mas obviamente tivemos que apagar alguns sinais de modernidade, embora isso hoje seja relativamente simples. O terreiro foi uma das razões pelas quais escolhi aquele espaço. O terreiro com o pilarete no meio, e aquela dimensão foi o que me fez querer muito filmar aquela casa. Mas, parte dos interiores, não foram filmados no mesmo sítio.
Homens, cavalos e grandes espaços são elementos que associamos ao género do western. Podemos fazer esta leitura, a de A Herdade poder ser visto como um western lusitano?
Sim, e até era mais do que acabou por ficar. Filmámos bastantes cenas deles a cavalo, coisas mais típicas do western, mas acabaram por sair. Houve uma necessidade na montagem de tornar este João Fernandes heróico e humano. Ou seja, não querer transformá-lo num boneco em que não se acredita, e precisávamos de ter muitas zonas cinzentas nele. Acabou por ficar só a parte final, em que ele monta a cavalo noite fora, e adquire outra força.
No seu entendimento da personagem principal (João Fernandes), trata-se de alguém forte com uma capacidade invulgar de enfrentar as adversidades, ou será antes um homem fraturado por dentro, obrigado a crescer depressa de mais e a abdicar da sua inocência?
Ele parece um valente, mas depois há momentos em que não consegue assumir-se perante certas coisas. Eu adoro essa contradição na personagem, acho que a torna muito humana. Esse lado de cobardia, de dificuldade nos afectos, são zonas muito queridas para mim quando estou a trabalhar personagens. A dificuldade na comunicação, a incomunicabilidade que existe uns com os outros. Gosto disso. E gostei muito de trabalhar um homem valente que resolve vários assuntos, mas que nalguns momentos-chave não consegue.

O olhar do filme sobre aquela herdade e o seu mundo tem, a seu ver, alguma nostalgia ou procurou antes filmar uma realidade histórica que os novos tempos vieram substituir?
Nostalgia não tenho. Agradou-me muito no argumento original e na ideia base do Paulo Branco ver a história do nosso país de um ponto de vista que normalmente não é retratada. Para mim é claríssimo que ela tinha que mudar. Que aqueles tempos iam acabar e que aquela forma de viver ia terminar. Isso é claro nas condições de vida dos trabalhadores, na obrigatoriedade do ordenado mínimo. Tudo isso tem como consequência o fim dessa maneira de estar.
Demarcando-nos por último deste seu filme em particular, diga-nos de que cineastas se sente mais devedor? Portugueses ou estrangeiros.
São muitos e muito diferentes. Acho que tem a ver com certas fases. Os meus incontornáveis são pouco originais. Vou-lhe falar do Kubrick. Vou-lhe falar do Scorsese. Quanto a portugueses, não tenho ninguém de quem me sinta devedor, no sentido de lá ir beber.

Grada Kilomba
Memórias da Plantação
Numa carta à edição portuguesa, Grada Kilomba, escritora e artista interdisciplinar com raízes em Angola e São Tomé e Príncipe, compara Lisboa, a cidade onde nasceu e estudou psicologia e psicanálise, a Berlim, onde vive e se doutorou em filosofia. Na cidade alemã também marcada pela “história colonial e pela ditadura imperial fascista” e aponta uma “pequena diferença”: “enquanto eu vinha de um lugar de negação, ou até de glorificação da história colonial, estava agora num outro lugar onde a história provocava culpa, ou até mesmo vergonha. Este percurso de consciencialização colectiva, que começa com a negação – culpa – vergonha – reconhecimento – reparação, não é de forma alguma um percurso moral, mas um percurso de responsabilização. A responsabilidade de criar novas configurações de poder e de conhecimento”. Nesta obra profundamente inovadora que compila episódios quotidianos, escritos sob a forma de pequenas histórias psicanalíticas, a autora desmonta, de forma acutilante, a normalidade do racismo e reflecte sobre memória, raça, género e pós-colonialismo.
Orfeu Negro
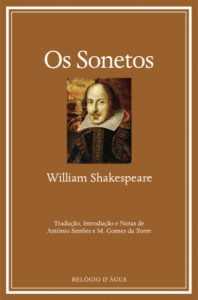
William Shakespeare
Os Sonetos
Os 154 sonetos de Shakespeare foram escritos, provavelmente, entre 1592 e 1598. Formam um extraordinário corpo de poemas que descrevem os aspectos de dois diferentes tipos de amor vividos pelo poeta (pessoal ou ficcionalmente?): o primeiro, por um jovem do sexo masculino (um esbelto jovem aristocrata que, possivelmente, não foi apenas objecto da afeição de Shakespeare, mas também seu benfeitor financeiro); o segundo, por uma mulher de compleição morena (a “dark lady”), associando a cor preta tanto às sua características físicas como à sua perversidade comportamental. Os poemas revelam distintos pontos de vista sobre o amor, unificados por um brilhante conjunto de observações sobre o poder da poesia para os registar (“Mas vós mais nestes versos brilhareis / Que na pedra manchada pelo tempo indecoroso.”) A tradução, introdução e notas de António Simões e M. Gomes da Torre dão nova vida a esta maravilhosa série de sonetos que têm com tema principal a preservação e perenidade da beleza através da arte poética.
Relógio D’Água

Ray Bradbury
A Morte É um Acto Solitário
Os dois mais célebres livros de Ray Bradbury (1920-2012), Fahrenheit 451 e Crónicas Marcianas, têm por tema o futuro da humanidade, numa perspectiva mais ou menos distópica. A Morte É um Acto Solitário surge como um objecto atípico na sua obra, romance policial inteiramente dominado pelo peso do passado num local onde, como exemplarmente expressa uma das personagens, “o tempo só funciona bem numa direcção. Para trás”. Em Venice, estância balnear decadente, um jovem escritor encontra um cadáver afogado no cais. Enquanto as mortes se sucedem, procura o assassino e cruza-se com uma estranha galeria de criaturas: uma ex-diva da sétima arte, uma cantora de ópera retirada dos palcos, um fabricante de olhos de vidro, o dono de uma sala de cinema flutuante que só exibe filmes mudos porque “quanto mais se fala, menos filme há para se ver”. Figuras fantasmagóricas, sombras espectrais de outro tempo que povoam este extraordinário romance crepuscular sobre a morte, a solidão e o medo. Porém, em todo este negrume, uma interrogação subsiste: “Pode o amor proteger as pessoas?”
Cavalo de Ferro
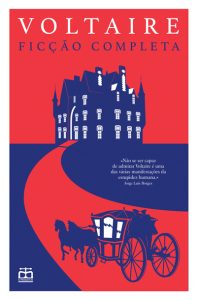
Voltaire
Ficção Completa
Voltaire ao tomar conhecimento do Grande Terramoto de Lisboa de 1755 insurgiu-se contra todos os que consideravam a catástrofe como castigo divino. No conto filosófico Cândido ou o Optimismo, utiliza o Terramoto como exemplo para criticar o paradigma do Optimismo Filosófico de Leibniz e a doutrina da Providência Divina. As deambulações do protagonista, em busca da sua amada Cunegundes, trazem-no a Portugal, país que satiriza como dominado por instituições fanáticas e supersticiosas. Para além de Cândido, a sua obra mais célebre, o leitor encontra neste volume o conto satírico, a fábula moral, o trecho romântico ou o romance histórico. Em Micromégas, Voltaire mostra-se pioneiro da ficção-científica. Em A princesa da Babilónia ou em Zadig inspira-se nos cenários exóticos que influenciaram os orientalistas seus contemporâneos para criar universos fantásticos em que discute filosofia da religião ou filosofia política. Citando o Professor Pangloss, esta edição da ficção completa de Voltaire oferece-nos “o melhor dos mundos possíveis”.
E-Primatur
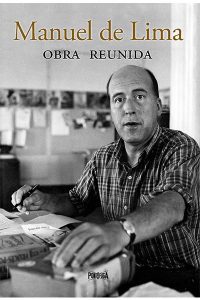
Manuel de Lima
Obra Reunida
À vida aventurosa e cronicamente precária, Manuel de Lima foi colher muitos dos elementos da sua ficção. “Mestre do nonsense português”, na opinião de Luiz Pacheco, publicou a primeira novela, Um Homem de Barbas, em 1944, sob os auspícios de Almada Negreiros. Seguiram-se Malaquias ou A História de Um Homem Barbaramente Agredido — romance editado em 1953 na Contraponto, de Luiz Pacheco —, O Clube dos Antropófagos (teatro, 1965; novela, 1973) e A Pata do Pássaro Desenhou uma Nova Paisagem (novela, 1972). Integrante da tertúlia surrealista do Café Gelo, tutelada por Mário Cesariny, e íntimo de Natália Correia, foi também artista plástico, destacando-se ainda como um dos mais temidos críticos de música e de televisão do país. Atravessada por um humor negro e absurdo com matizes surrealistas, a obra de Manuel de Lima (1915 –1976) surge finalmente reunida num único volume, incluindo reproduções de documentos dispersos ou inéditos que ajudam a conhecer melhor este criador singular na ficção portuguesa que urge (re)descobrir.
Ponto de Fuga
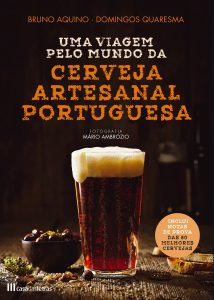
Bruno Aquino & Domingos Quaresma
Viagem pelo Mundo da Cerveja Artesanal Portuguesa
Conta a lenda que a cerveja foi incluída nas provisões da Arca de Noé por ser um alimento fácil de conservar e com reconhecidos méritos alimentares. Esta bebida alcoólica obtida pela fermentação de um cereal é universal e tem acompanhado a humanidade ao longo dos tempos. Em África usava-se mandioca, painço ou sorgo para produzir cerveja; na América do Sul milho ou quinoa, na Ásia arroz, cevada ou espelta. Visão abrangente sobre a história da cerveja, ingredientes, estilos e harmonizações com comida, este livro é um incentivo para que se aventure a fazer a sua própria cerveja. Inclui notas de prova das 50 melhores cervejas artesanais portuguesas e 15 sugestões que os autores acharam imperdíveis. Porque cada copo de cerveja representa um conjunto único de sensações, concebido para ser partilhado entre amigos. Esta visita guiada ao fabuloso mundo da cerveja artesanal assume-se como um tributo aos homens e mulheres que se esforçam por melhorá-la, transformando-a em algo mais que uma simples bebida.
Casa das Letras
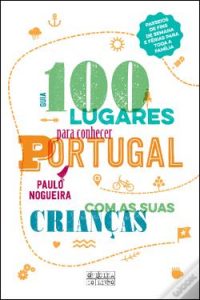
Paulo Nogueira
100 Lugares para Conhecer Portugal com as suas Crianças
As férias dos mais pequenos estão a terminar, mas o tempo ainda convida aos últimos passeios de verão. Este livro pode ser uma preciosa ajuda. Aqui, estão compiladas 100 ideias de locais a visitar com os miúdos, de forma a descobrirem, em família, o rico património do país onde vivemos. São uma centena de sugestões nas áreas da cultura e do lazer, entre monumentos, parques e museus, que prometem deslumbrar os mais novos e criar-lhes memórias irrepetíveis. De norte a sul do país, passando pela Madeira e os Açores, estas 100 propostas – umas mais óbvias que outras – pretendem estimular as famílias a usufruir de tempo em conjunto, potenciando recordações de uma infância feliz.
Oficina do Livro
A rentrée da temporada 2019/2020 do D. Maria II perfila-se como um minifestival de teatro que, em apenas dois dias, oferece aos lisboetas um conjunto de propostas irresistíveis. Fazendo adivinhar aquilo que vai ser a ambiciosa programação dos próximos meses, esta festa apresenta já uma conjugação perfeita entre grandes nomes do teatro nacional e internacional, uma vez que pela Sala Garrett irão passar criações de O Bando e do Toneelgroep Amsterdam, de Nuno Cardoso e de Thomas Ostermeier ou de Tiago Rodrigues e de Frank Castorf.
O Entrada Livre deste ano começa por trazer a Lisboa dois nomes de peso das artes performativas europeias – o francês Olivier Py e a espanhola Angélica Liddell. Ao primeiro cabe apresentar, no Cine-Teatro Capitólio, o espetáculo estreado em Avignon em 2018, Pur Présent, um olhar vibrante sobre o mundo de hoje, e o nosso lugar nele, a partir das tragédias de Ésquilo. Angélica Liddell está de volta a Lisboa, depois de A Letra Escarlate, para dirigir um conjunto de jovens atores em História da loucura na época clássica de Foucault.
Como é hábito, os espetáculos de abertura da temporada – Antígona numa encenação de Mónica Garnel e Coleção de Artistas de Raquel André – marcam presença e, claro, as leituras encenadas, com direção de criadores como Lígia Soares e Rui Horta. Em destaque estão também os lançamentos de livros e, para que esta seja uma festa sem limite de idades, a dupla Miguel Fragata/ Inês Barahona volta a apresentar o sensacional A Caminhada dos Elefantes. No sábado, o Largo de São Domingos volta a encher-se de música para mais um Concerto na Varanda, este ano com a voz quente da luso-moçambicana Selma Uamusse.
Todas os espetáculos e atividades são de acesso gratuito, porém, convém verificar as condições de acesso, normalmente sujeitas a levantamento prévio de bilhete.
Quando decidiu que queria fazer um filme sobre António Variações?
Candidatei-me a um concurso de apoio à escrita em 2013, o que quer dizer que, uns anos antes desta data, já andava a pensar nisto. Primeiro queria fazer algo sobre o “boom” do rock português, o início dos anos 80, quando eu era adolescente. Comecei a pesquisar e surgiu o António Variações. Percebi que ele tinha caído um pouco em esquecimento, havia canções dele que não conhecia e que devia conhecer, outras que já não me lembrava. Pesquisei e cheguei à conclusão de que queria saber mais sobre esse homem que tinha gravado o primeiro disco aos 37 anos e que era bem mais velho do que os músicos com quem trabalhava. A minha intuição foi que a história antes de ele ter gravado o disco pudesse dar um filme. A história do barbeiro que queria ser cantor…
Teve ajuda da família e amigos do António para construir a história?
Sim. O António tinha a vida muito compartimentada. A família conhecia uma parte da vida dele, mais ligada à infância e às idas a casa no Natal ou na Páscoa. Os amigos conheciam uma outra, e os colegas de trabalho e os músicos ainda outra. Ele não misturava as coisas. Surpreendeu-me o facto de o António ser o único artista que ia sozinho para estúdio, nunca levava um amigo ou familiar para o acompanhar. Era alguém que tinha a vida arrumadinha em gavetas. Eu ouvi as várias versões e compus a história a partir daí.
O Sérgio Praia, que interpreta o cantor, foi uma escolha imediata?
Tentei fazer este filme há 10 anos e ele foi a primeira pessoa que apareceu no primeiro dia de casting. De seguida houve outros que fizeram o casting, mas ninguém se aproximou daquilo que o Sérgio conseguia fazer. Ele foi uma coisa quase miraculosa. Precisava de um ator que tivesse mais do que parecenças físicas ou que fosse tecnicamente muito bom. No caso do Sérgio o que acontece é que, ao fim de pouco tempo, as pessoas que o estão a ver naquele papel, esquecem-se que é um ator a interpretar uma personagem.

Como foi trabalhar a banda-sonora do filme?
Uma parte importante para o guião foi quando recebi, através da família, uma série de cassetes de trabalho do António Variações. Eram várias composições e ensaios que ele tinha feito com as primeiras bandas com quem tocou. Achei os arranjos que ouvi surpreendentes, muito embora crus e com uma qualidade que nunca permitira serem editados. Apesar disso, percebe-se que havia ali muito potencial. Achei que estas versões deviam ser ouvidas e o que pedi ao Armando Teixeira (responsável pela banda sonora do filme) foi que fosse fiel ao original.
E a música inédita que foi incluída na banda sonora, como surgiu?
Havia dois inéditos nas cassetes. Um era muito longo, ele tocou-o no Trumps. Tinha cerca de vinte minutos, tentámos pô-lo mais pequeno mas nunca conseguimos. O outro que se chama Vou dar nas vistas, uma das frases da letra, sempre achei que era uma música “orelhuda”. Era o som dele, embora não se possa dizer que o António tivesse um som – ele era, isso sim, um fazedor de canções. Ele gostava da sonoridade de certos grupos, mas o som não era essencial para ele. O Sérgio (Praia) também gostou da canção e ficou rapidamente decidido que seria esse o inédito a ser lançado.
Para além de uma biografia, podemos dizer que o filme é também uma história de amor [entre António Variações e Fernando Ataíde]. Concorda?
Desde o princípio, quando fiz a estrutura do filme e conheci a história do António e do Fernando, soube que seriam eles os dois a terminarem o filme. No final da vida, o António voltava ao sítio onde poderia ter sempre estado, e voltava na companhia do Fernando. É trágico, mas também bonito, é o amor…
Como foram selvagens os Gregos quando, movidos pela soberba e pela ganância, arrasaram Troia. As feridas da longa guerra, que através de um cavalo de pau foi vencida pelo invasor, estão agora em sangue nos corações das mulheres troianas, a que Hécuba, “a outrora celebrada rainha de Troia”, dá voz: “perdi tudo: o meu país, os meus filhos, o meu marido.”
Tratadas como despojos de guerra, as mulheres troianas aguardam pelo destino que os deuses (e os Gregos) lhes reservam: a escravidão. É o drama delas, entre as ruínas físicas e psicológicas que lhes infligem, que faz de Troianas uma tragédia de mulheres que mais de dois milénios depois de Eurípedes a ter escrito continua a ser o texto canónico do teatro antibelicista.
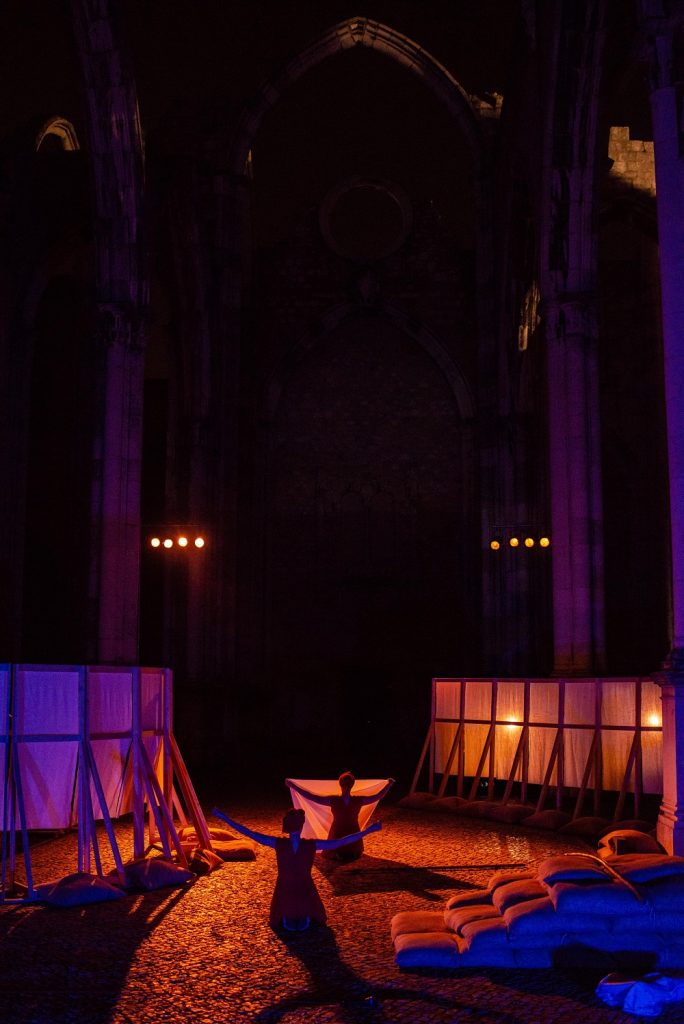
“A nossa decisão de levar a cena este texto foi tomada há cerca de quatro anos e é bastante natural que toda a conjuntura que se vivia e, infelizmente, persiste, tendo-se até agravado, tenha pesado na escolha”, refere António Pires, lembrando a subida ao poder de Donald Trump, as guerras na Síria e em países do Magrebe e, consequentemente, a crise migratória que provocou uma sucessão de tragédias.
Em Troianas está contida toda essa “componente social e política” que, agora, através de uma nova tradução de Luísa Costa Gomes (feita a partir da de George Theodoridis em língua inglesa e depois revista com Tim Eckert, a partir do grego) tornou esta “peça clássica mais simples, mais direta”. Essa é, aliás, uma das virtudes que Pires ressalva nesta versão, a qual permite ao público “visualizar inteiramente cada palavra e apreender com muita facilidade as ideias do autor”. Se bem que, como sublinha Luísa Costa Gomes na folha de sala, Eurípedes era já de si “muito pouco dado aos enfeites. Nem se pediam enfeites em temas tão dolorosos.”

Numa peça em que as grandes protagonistas são as mulheres, António Pires quis reunir algumas das atrizes com quem trabalha regularmente e muito admira. Para além de Rueff, o encenador entregou a Alexandra Sargento o papel de Cassandra, e a Sandra Santos o de Andrómaca. À jovem atriz Vera Mora, que volta a trabalhar com Pires, depois de ter participado em Ubu Rei ainda enquanto aluna da ACT, ficou reservado o da bela e traiçoeira Helena de Esparta.
Quanto à escolha de Maria Rueff para o papel de Hécuba, o encenador destaca “a capacidade inigualável que os comediantes têm para fazer tragédia. E a Maria tem tudo: tem a força, tem o nervo e tem a energia que leva a personagem a estar sempre no limite.”
Em cena até 17 de agosto, Troianas conta ainda com interpretações de João Barbosa, Hugo Mestre Amaro, Francisco Vistas e de alunos finalistas do curso de representação da ACT-Escola de Atores.
Gravado em apenas duas noites, a 7 e 8 de janeiro de 1969, Com que Voz demorou 14 meses a chegar ao público, embora nunca estivesse em causa a genialidade de uma obra que ficará para sempre marcada na música portuguesa como o mais feliz encontro da voz de Amália com a música de Alain Oulman. Escreve Frederico Santiago, no booklet que acompanha esta nova edição do disco, que foram “duas noites triunfais”, o “apogeu de outras, onde se preparou (e conquistou) um milagroso culminar.”
Aos 12 temas que compõem o álbum original (todos eles com poemas de grandes nomes da poesia portuguesa, de Camões a David Mourão-Ferreira, passando por Ary dos Santos, Alexandre O’Neill, Pedro Homem de Melo, Cecília Meireles e Manuel Alegre), esta edição junta ao inolvidável conjunto do disco original nove faixas, intituladas “à maneira do Com que Voz”, como Amor sem Casa (com poema de Teresa Rita Lopes, que se crê ter sido gravada a pensar, precisamente, no álbum, muito embora não figure no seu alinhamento), Amêndoa Amarga (numa versão inédita, de 69, ano da gravação do disco) ou a praticamente desconhecida versão com quatro guitarras de Cravos de Papel (poema de António de Sousa).

Mas, este Com que Voz 2019 guarda mais e vibrantes surpresas, nomeadamente a primeira versão de Trova do Vento que Passa (apenas tocada por Fontes Rocha e Pedro Leal, e, segundo consta, a que mais agradava a Oulman) ou o “único take alternativo que sobreviveu” de Madrugada de Alfama. Como se não bastassem estas e outras preciosidades, a presente edição inclui um excelente ensaio do pianista clássico Nuno Vieira de Almeida onde, após uma detalhada análise tema por tema, se conclui estarmos perante “’’um’ disco perfeito.”
No ano em que passam 20 anos sobre a morte da inigualável Amália e antecedendo o centenário do seu nascimento, Com que Voz regressa às lojas em edição cd (em breve, também em vinil) e é disponibilizado nas plataformas digitais Apple Music, Spotify e YouTube.
O DESCOLA é uma provocação para todos os que concebem a educação como um ato de liberdade. Resultado do trabalho conjunto e da aposta continuada da Câmara Municipal de Lisboa na dimensão educativa do património cultural e artístico da cidade, este programa de atividades reflete a vontade de o fazer chegar a todos, e ao longo da vida, como fonte de inspiração e sentido de pertença. Dirigido especificamente ao público escolar, o DESCOLA representa um desafio assumido pelas equipas educativas municipais, da EGEAC e Direcção Municipal da Cultura, no sentido de desenvolver um programa de actividades criativas sustentado em colaboração estreita com mediadores, artistas e professores.
As actividades propostas pelo DESCOLA – alinhadas, repensadas e criadas de raiz –, tiveram sempre o Perfil do Aluno do séc. XXI como referência, e o património cultural e artístico de Lisboa como campo de pesquisa, de questionamento e de criatividade.
No DESCOLA estão mais de vinte agentes culturais municipais – museus, teatros, arquivos e bibliotecas – que acreditam na força educativa das artes e da cultura e querem participar, com professores e alunos, na construção de escolas que se afirmem como comunidades de aprendizagem, abertas e interventivas.
Programa integral
Inscrição na newsletter
O Dia Aberto do DESCOLA é a oportunidade para professores e educadores experimentarem algumas das atividades preparadas para o ano letivo 2019/20 e conhecerem as linhas orientadoras da programação. O Dia Aberto acontece a 21 de setembro, sábado, das 14h às 18h30, na Biblioteca Palácio Galveias.
Inscrições aqui.
Mais informações: descola@cm-lisboa.pt | T. 218 173 624
DESCOLA 2019/2020
por ciclo e por tipologia de atividades:
Introdução
Professores e educadores
Pré-escolar
1.º ciclo
2.º ciclo
3.º ciclo
Secundário
Serviços e equipamentos, informações e contactos para marcação
Isabel Abreu explica a génese do projeto. Tudo começa na admiração mútua existente entre ela e a fadista Aldina Duarte. Nasceu uma “vontade grande de nos juntarmos e de podermos trabalhar juntas. A Aldina falou de quatro fados que já faziam parte do repertório dela (no disco Contos de Fados, 2011): Ainda Mais Triste, letra de Manuela de Freitas (inspirado por Longa Jornada Para a Noite, texto de Eugene O’Neill do qual é protagonista Mary Tyrone), Branca, Branca, letra da mesma (baseado em Um Eléctrico Chamado Desejo, peça de Tennessee Williams, onde a figura principal é Blanche DuBois), Fado Com Dono, escrito por Maria do Rosário Pedreira (servindo-se do mito de Orfeu e Eurídice) e À Espera de Redenção, letra, uma vez mais de Manuela de Freitas (partindo da tragédia Medeia, de Eurípides). Às duas mulheres, a atriz e a fadista, reuniram-se dois homens: o ator, dramaturgo e encenador Miguel Loureiro, com quem Isabel Abreu já tinha trabalhado, e o pianista Filipe Raposo, trazido por Aldina Duarte de outras aventuras musicais.

O trabalho fez-se de uma sucessão de encontros para onde cada um trazia propostas que levaram à reflexão conjunta. As letras dos fados existentes proporcionavam uma primeira dramaturgia. Juntaram-se os textos canónicos das quatro personagens. Miguel Loureiro escreveu ainda um texto para as mesmas personagens. Finalmente a música trazida por Filipe Raposo, de sua autoria e também dos colossos Johann Sebastian Bach e Kurt Weill. “Tivemos uma gestão do tempo completamente diferente do habitual”, refere Isabel Abreu. “Tínhamos semanas em que nos encontrávamos dois dias.” Acrescenta o encenador: “Elas tiveram esta ideia há dois anos, depois surgiram as conversas iniciais, e houve um tempo para desenvolver a parte da escrita. Do que havia nestas personagens, três delas feitas no palco pela Manuela de Freitas, e a da Maria do Rosário que é uma personagem mais mitológica, Eurídice.”
Quatro pilares, quatro figuras que conduziram Miguel Loureiro às fontes da sua proveniência. Os autores, os textos que fizeram evoluir a sua escrita específica para o espetáculo. Um recital de músicas e palavras, com uma dramaturgia que faz incidir a luz nas zonas de sombra. “Fui descrevendo sensações numa espécie de itinerário com vento doentio, as notas musicais entendidas como condições atmosféricas que envolvessem os textos, e de gradações de desgraça: Blanche Dubois presa num colete de forças; Mary Tyrone viciada na morfina; Medeia lidando com a morte, com o assassínio; Eurídice num estado post mortem, no Inferno.”

O espetáculo abre com uma pontuação kurt weilliana de duas irmãs, ambas chamadas de Anna, e que são na verdade uma desdobrada em dois corpos, que amparadas uma pela outra avançam pelo cenário despido de tudo o mais, além do piano, de algumas cadeiras, e do equipamento necessário à apresentação da música, atravessado por uma iluminação bastante crua. Elas entram às cegas, para depois serem possuídas pelas quatro identidades que surgem da complementaridade ao trabalho de ambas. Uma atriz e uma fadista. “Não há nem houve nunca a intenção de ir fazer o que o outro faz. Vive-se mais da sensação do encontro e da comunhão. Podes servir o outro, mas nunca procurar fazer o que o outro faz.” Palavras, uma vez mais, de Isabel Abreu, que remete para a dinâmica pedida de empréstimo ao ballet satírico Sete Pecados Mortais, de Bertolt Brecht e Kurt Weill. O piano de Filipe Raposo dá o ponto de gravidade no palco, lança a noção de périplo e chega a deslocar-se em cena tal como as duas mulheres que darão voz e funcionarão como silhuetas das outras quatro.
“Não se trata propriamente do desejo erótico”, esclarece Miguel Maia antes de explicar que O Barão, a partir do texto de Branquinho da Fonseca com excertos do ensaio As Portas da Perceção de Aldous Huxley, é o primeiro tomo daquilo “que poderá ser um díptico ou, quem sabe, uma trilogia” de Estudos sobre o desejo.
Falemos então desse “desejo” que o encenador define como “um conceito que é fulcral na criação artística, por ser a força motriz de qualquer ato consciente ou inconsciente de criação”. Aqui, ele é moldado em cena, fazendo do “palco o lugar do desejo”, onde Inês Garrido, Isac Graça, Rita Marques e Telmo Mendes “competem por personagens como se fosse o ato de amor que cada um nutre por elas.”
Venham! De 11 a 21 Julho – Armazém 16 – Reservas: www.cepatorta.org/barao
Posted by Companhia Cepa Torta on Thursday, 4 July 2019
O ponto de partida é O Barão, para muitos a obra-prima de Branquinho da Fonseca, publicada em 1942, onde o escritor narra a chegada de um inspetor escolar a uma remota aldeia transmontana, tomando conhecimento da misteriosa e intimidante figura do Barão. Cada personagem do conto (desde os gatos vadios à Professora que apresenta o Inspetor ao Barão) permite aos atores encetar “um exercício de agilidade, transformando-se aos olhos do público numa e noutra personagem”, refere Isac Graça.
Este é o trabalho de ator no jogo teatral, o qual neste primeiro tomo dos Estudos sobre o desejo é encetado como um campo de pesquisa e experimentação. “Aquilo que lhes exigi foi que conseguissem contar a história do Branquinho da Fonseca”, sublinha o encenador acerca desta “cocriação dirigida”.
Mas, à obra do escritor beirão, Maia acrescentou ainda mais uma variável ao jogo: excertos do ensaio de Huxley sobre as suas experiências com mescalina. “Um modo de explorar o inesperado, de chegar à verdade das coisas para que exista a perceção de que não é só o corpo dos atores que se mostra. É, sobretudo, a sua mente ”, explica.
A partir destas “regras”, “cada um de nós foi livre para trazer-se a si mesmo ao jogo”, e a Branquinho, Huxley e outras referências “que convocámos em conversas e discussões sobre o desejo de criar este espetáculo”, juntaram-se palavras de cada um dos atores. Estudo sobre o desejo – Tomo I: O Barão transforma-se então numa viagem ao fazer teatral.
Em estreia num armazém industrial de Marvila Velha, com comboios a passar a poucos metros de distância, o espetáculo está em cena, de quinta a domingo, até 21 de julho. Em outubro, tem atuações agendadas para as Caldas da Rainha e para o antigo Cinema Passos Manuel, no Porto.
paginations here