
Mário Lúcio Sousa
O Diabo foi o meu Padeiro
“Morriam-nos, para não nos matarem, este era o segredo (…) Se nos matassem, a culpa seria deles; se nos deixassem morrer, o ónus seria levianamente nosso”. Esta afirmação de uma das personagens deste romance refere-se à sua devastadora experiência na Colónia Penal do Tarrafal. Nos 45 anos do encerramento do campo de concentração, Mário Lúcio Sousa, escritor e músico cabo-verdiano, dá voz aos que sofreram na pele as terríveis condições de encarceramento: vários prisioneiros chamados Pedro, chegados em diferentes vagas de Portugal, da Guiné, de Angola e de Cabo Verde, relatam a história desta sinistra prisão e dos que a governaram ao longo dos anos. Prisioneiros que tinham em comum, além do nome, a luta pela liberdade e a mesma língua. O Diabo foi o meu Padeiro homenageia os que aí perderam a vida e os que sobreviveram, respeitando os diversos modos de falar da língua que os unia. No Tarrafal “viver era morrer”. Esta descida aos infernos tem o efeito de uma verdadeira catarse colectiva porque, afinal, “a compreensão da morte liberta-nos de todo o medo”
Dom Quixote

António Borges Coelho
Comunas ou Concelhos
Por ocasião dos 90 anos de António Borges Coelho, a Biblioteca Nacional de Portugal organizou uma mostra de homenagem intitulada Dar voz aos que em baixo fazem andar a História. Efectivamente, um traço unificador do conjunto da obra do ilustre historiador é o de transformar os estratos médios, os trabalhadores rurais ou os escravos, em atores sociais e colectivos. Seria, portanto, inevitável que Borges Coelho se viesse a interessar pela génese do poder local em Portugal. A presente obra questiona a existência “de um movimento concelhio peninsular, não no sentido de política administrativa ou de organização do território impulsionada de cima por monarcas e senhores mas no de forças sociais e políticas organizadas de baixo e por fim vitoriosas”. O autor lembra que “o concelho nasce da luta dos servos pela sua libertação e é ele próprio um instrumento decisivo de liberdade”. Obra fundamental que explora a génese histórica dos concelhos, contextualizando-a nos processos de Reconquista e choque cultural entre cristãos e muçulmanos.
Caminho
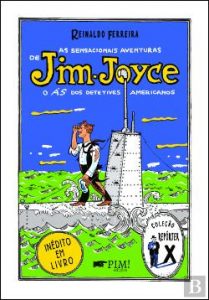
Reinaldo Ferreira
As Sensacionais Aventuras de Jim Joyce
A adolescência de Reinaldo Ferreira foi marcada pela leitura compulsiva dos fascículos norte-americanos com capa ilustrada a cores, editados em Portugal a partir de 1909, que relatavam episódios completos das aventuras de heróis como Nick Carter, o Capitão Morgan, Buffalo Bill, ou Texas Jack. Em 1924, o Repórter X acabaria cumprir o sonho de conceber um herói de folhetim que rivalizasse com os seus ídolos de juventude. Publicadas no Brasil as dez narrativas que formam a série As Sensacionais Aventuras de Jim Joyce, o Ás dos Detectives Americanos ambientam-se na América dos loucos anos 20, unindo mistérios aparentemente insolúveis a sensacionais proezas detectivescas e revelando um mestre da arte narrativa do imprevisto, do suspense e do desfecho inesperado. Inéditas em livro, estas histórias são agora objecto de uma cuidada edição com uma introdução de Joel Lima e capa de Nuno Saraiva. São ainda recuperadas as capas e ilustrações de Stuart Carvalhais e Alfredo Morais para os fascículos da publicação original.
PIM! Edições
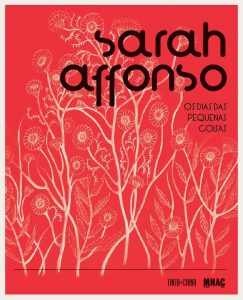
Sarah Affonso – Os Dias das Pequenas Coisas
Apesar de uma obra multifacetada que percorre o desenho, a pintura, a ilustração, a cerâmica, os bordados e a decoração de móveis e interiores, Sarah Affonso permanece, 120 anos após o seu nascimento, relativamente desconhecida do grande público. O seu casamento com a figura prometeica de Almada Negreiros, e o facto de ter nascido num pais que impunha fortes barreiras sociais à afirmação artística feminina, muito terão contribuído para este facto. Este livro, bem como a exposição do Museu Nacional de Arte Contemporânea que lhe dá origem, pretende colmatar essa falha e divulgar o trabalho de uma das mais notáveis modernistas portuguesas. Álbum ilustrado dos seus trabalhos, fotobiografia e colectânea de ensaios desenvolvidos por especialistas de diversas áreas, esta belíssima publicação é uma digna homenagem a uma artista que, apesar de todos os condicionalismos, criou uma obra com uma linguagem e temática próprias sabendo ser, simultaneamente, nas palavras de Emília Ferreira, directora do MNAC, uma “hábil tecedeira” do seu tempo.
Tinta-da-china/MNAC
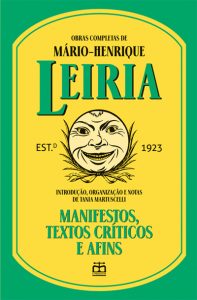
Mário-Henrique Leiria
Manifestos, Textos Críticos e Afins
Mário-Henrique Leiria (1923-1980), escritor experimentalista, distinguiu-se nos géneros de vanguarda da sua época como a ficção cientifica ou o policial psicológico que incorporou no surrealismo, movimento ao qual sempre se manteve próximo. Espírito inconformista de ironia contundente, escolheu como alvos principais da sua obra o capitalismo, a guerra, o estilo de vida da burguesia e todas as formas de violência e autoridade. Inédito em formato livro, este terceiro volume das obras de Mário-Henrique Leira reúne os mais dispersos materiais saídos da pena desta figura incontornável do surrealismo português: manifestos, textos críticos, cartas, e um sem número de textos que não se enquadram em categoria nenhuma. O autor escreve e opina sobre tudo e todos neste retrato de Portugal e do mundo visto por um autor diferente de uma forma diferente. A perspectiva da análise política, social e artística é sempre corrosiva e incómoda (e muito divertida) e permite pela primeira vez ao leitor português uma leitura mais abrangente sobre o homem e a sua obra.
E-Primatur

Maria Teresa Horta
Quotidiano Instável
Maria Teresa Horta foi uma das primeiras mulheres a dirigir um suplemento literário num jornal, a par do trabalho pioneiro de Natércia Freire responsável pelo suplemento artes e Letras no Diário de Notícias , entre 1959 e 1974. Em 1968, Maria Teresa Horta é convidada para dirigir o suplemento «Literatura & Arte» do jornal diário A Capital, exercendo um jornalismo literário de notável qualidade. Quotidiano Instável é o título da coluna publicada pela escritora nesse suplemento, entre 1968 e 1972. Inicialmente concebida como um espaço de crónica, a coluna assumiu progressivamente um carácter ficcional, especialmente notório quando lemos as crónicas reunidas num livro como agora acontece. A belíssima prosa poética de Maria Teresa Horta acaba assim por ser lida como uma unidade ficcional, a prenunciar o primeiro romance da escritora, Ambas as Mãos sobre o Corpo, que Eduardo Prado Coelho considerou uma obra-prima.
Dom Quixote

Gine Victor
Veloz como o Vento
A história verídica contada neste livro aconteceu há cerca de trinta anos no planalto de Oum-Tchim-Sin, na Mongólia Interior. Kumbo, um destemido jovem mongol, captura um pónei negro selvagem e tenta adestrá-lo através do amor. Apesar de, nos dias que correm, a Mongólia se estar a modernizar, na época em que Kumbo, filho adotivo de um chefe mongol, treinava o seu Veloz como o vento, os nómadas dessas vastas planícies viviam ainda como tinham vivido os pais e os pais dos seus pais. Nesse mundo selvagem e estruturado, onde as fábulas não tinham lugar, Kumbo vai mostrar que o amor pode tudo. O romance de aventuras Veloz como o Vento valeu à escritora Gine Victor o Prix Jeunesse, em 1960, um prémio francês para o melhor livro juvenil. O livro conta com as ilustrações de Rachel Caiano e a tradução portuguesa original esteve a cargo do poeta Herberto Helder, reconhecendo-se na prosa o seu estilo inconfundível.
Ponto de Fuga
Na nova produção do Teatro Aberto, os jovens futuros médicos vienenses da década de 1920 da peça original de Ferdinand Bruckner dão lugar a jovens millennials. São estudantes de medicina, ambiciosos e talhados para competir pelo seu lugar no mundo. Surgem-nos, como sublinha Marta Dias, a encenadora e responsável pela adaptação, “como dois tipos de pessoas: as que têm sonhos e as que têm objetivos; as que trabalham e as que seduzem; as que são criativas e as que cumprem; as que lutam e as que desistem; as que têm pena e as que tratam mal; as que manipulam e as que sobrevivem.”

Poder-se-ia julgar estar, cada tipo delas, em lados opostos da barricada. Porém, em Doença da Juventude, impera desde o primeiro minuto a “lei do mais forte”. Não é difícil perceber quem está vulnerável, nem custará entender que vontade acabará por triunfar.
O espetáculo inicia-se, precisamente, com um prólogo bastante elucidativo. Projetado na tela, assiste-se à terrível cena de um frágil antílope a ser devorado vivo por uma matilha de cães selvagens. No ambiente distópico do palco, elucidativo de “um mundo descartável e repleto de estímulos consumistas”, as perspetivas de vida que podemos avaliar como mais corretas são literalmente engolidas pelas feras. Mesmo aqueles que nos parecem mais firmes nas suas convicções, percebem que têm de vestir a pele de animais ferozes para não serem devorados como o antílope na savana.

Se a juventude vienense dos anos 20 contribuiu enquanto adulta para a tragédia do nazismo, o que será do mundo quando chegar o tempo de uma geração embrenhada em gadgets e tecnologia, “com pouco ou nenhum interesse pelo outro e completamente autocentrada no Eu?” A peça original não responde, e esta “versão geração Y” também não, embora deixando pairar dúvidas carregadas de certezas sombrias.
“Perante o mundo em que vivemos, será a lei do mais forte o caminho natural das relações humanas”, questiona a encenadora. “Aquilo que os futuros médicos de Bruckner representam são uma juventude doente, tantas vezes autofágica. E aquela que me parece ser de urgente reflexão é perceber quais são as causas da doença.”

Interpretado por um elenco jovem, o espetáculo Doença da Juventude está em cena até 29 de dezembro, na Sala Azul do Teatro Aberto, de quarta a sábado às 21h30 e, aos domingos, às 16 horas.
Quando a 29 de outubro a ZDB abriu as suas portas, num “espaço de cerca de 100 metros quadrados, na Rua da Vinha” ao Bairro Alto, poucos arriscariam supor que um grupo de 15 jovens recém-formados em artes acabava de lançar a semente para aquela que viria a ser uma das mais influentes estruturas artísticas do país. Um desses jovens era o catalão Natxo Checa, então com 25 anos, que lembra a criação da ZDB como “uma questão de sobrevivência”. Estávamos em 1994, o ano de Lisboa – Capital Europeia da Cultura, da abertura do Centro Cultural de Belém e da Culturgest, da Casa de Serralves, no Porto, “e, em conjunto com outros artistas acabados de se formarem nas mais diversas áreas, das belas artes à música, passando pela arquitetura, pelo teatro ou pelo cinema, víamos a Cultura ser tomada pela geração que nos antecedia. Foi preciso tomar a iniciativa, pois só assim o nosso trabalho poderia tornar-se visível.”
Com a “bênção” de Joseph Beuys
Cada um dos artistas associados pagava a parcela correspondente da renda do imóvel da Rua da Vinha e acabava de se comprometer a manter-se por um ano. “O que pretendíamos era mostrar o nosso trabalho, e até final desse ano programámos quatro exposições, vários concertos, um festival de performance e um outro de vídeo internacional”, lembra Natxo. Com a irreverência da juventude, à associação seria dado o nome de Zé dos Bois, uma corruptela do nome do influente artista experimental alemão Joseph Beuys. “Julgo que foi o Tiago Gomes, da revista Biblía, que o sugeriu e, como foi moda nos anos 90 as galerias serem rebatizadas com o nome dos galeristas, pareceu-nos perfeito.”
Aqueles intensos meses iniciais de ZDB acabaram por ser marcantes. “Muito naturalmente, sem pensarmos nisso, definimos com grande clareza o que haveria de ser a ZDB, uma entidade em que a comunidade artística se revê, sejam aqueles que apoiamos, sejam os outros.” Juntar tornou-se o verbo que ainda hoje a atual direção artística conjuga com orgulho quando tem de tomar decisões. “Criámos a ZDB para viabilizar projetos artísticos num espírito de comunidade, com uma ideologia e um pensar próprio e isso mantêm-se: a priori, nunca fechamos a porta a nenhum artista.”

Os verdes anos
Ao fim de um ano, a grande discussão entre os artistas associados era se a ZDB servia somente para dar exposição aos seus trabalhos ou se outros poderiam entrar e comungar desse espaço. A última via acabou por triunfar e nasceu o Festival Atlântico, uma bienal internacional de artes performativas que haveria de decorrer em 1995, 1997 e 1999. Natxo sublinha a ajuda prestada pelo amigo Marcel-li Antúnez, conceituado artista visual catalão, que lhe dava feed back do que se passava no panorama internacional, e foi determinante na construção da programação. E, com humor, recorda os primórdios da internet, em que artistas tão relevantes como Marina Abramovic “tinham na sua página o número de telefone de casa”, o que “facilitava bastante o contacto.”
Apesar do fôlego demonstrado e da experiência internacional decorrente de programar o Atlântico, a ZDB já não tinha residência na Rua da Vinha e debatia-se com a precariedade de espaços para prosseguir a atividade. Natxo acumulava praticamente a responsabilidade de programação em todas as áreas e impunha-se tomar a decisão de continuar com o projeto ZDB, ou acabar e limitar-se ao festival. A opção passou por continuar a ZDB, “garantindo uma programação mais regular ao longo de todo o ano e com isso ganhar maior consistência no meio artístico.”
O Palácio Baronesa de Almeida e o início de um novo ciclo
O regresso ao Bairro Alto, em outubro de 1997, permite à ZDB instalar-se na Rua da Barroca, no Palácio Baronesa de Almeida, um edifício da segunda metade do século XVIII, onde chegou a viver Almeida Garrett e que, no início do século XX, enquanto casa da aristocrata que lhe deu nome, era tido como “terreno neutro” para tertúlias entre “os homens de letras e os homens políticos”, na descrição do pai da olisipografia Júlio de Castilho. É já nesse magnífico espaço de 2500 metros quadrados que a ZDB toma a decisão de terminar com o Festival Atlântico e com a edição da revista f l i r t, uma publicação dedicada às artes, bilingue e com distribuição gratuita.
Natxo nota que, em 1999, a ZDB define um processo de renovação que passa por “deixar de trabalhar especificamente com a geração dos anos 90, refletida em 2000 com uma exposição da dupla João Maria Gusmão + Pedro Paiva, ainda estudantes das Belas Artes”. Nos anos seguintes, “deixámos de ser uma estrutura de vontade para incorporar uma vontade estruturada”. Chegou o “tempo de profissionalizar, de dar uso à experiência adquirida”. “O processo de especialização” fez Marta Furtado entrar na estrutura para desenvolver a área das artes performativas e Nelson e Pedro Gomes, hoje na Filho Único, para programar a área da música até 2006.

Entre a sala de ensaios e a sala de espetáculos
Marta começou por ser uma frequentadora da ZDB até ser convidada para dirigir a área na qual tem formação, conhecimento e, sublinha, “uma maior afinidade”. Em 2005, com o arranque do Negócio, na Rua d’O Século, “o teatro e a dança encontram da parte da ZDB uma resposta à necessidade de espaço físico e condições logísticas para o desenvolvimento de trabalho nessas áreas”. Esse espaço, que Marta define como “uma ponte por entre a sala de ensaios e a sala de espetáculos” acolheu companhias como a Mala Voadora e o Teatro do Vestido ou criadores como John Romão e Patrícia Portela.
Embora encerrado há um par de anos, altura em que a renda do local se tornou incomportável, tal não significou um abrandamento na atividade da ZDB nas artes performativas. “Continuamos com as residências de artistas e, muito em breve, vai surgir um novo espaço,” garante a programadora.
A ZDB a formar novos músicos
Sérgio Hydalgo chega à ZDB, por 2007, já a galeria era uma referência no panorama da música em Lisboa. Porém, o antigo radialista, autor do programa Má Fama, solidificou e diferenciou ainda mais esse papel apostando “numa rede nacional e internacional que agregou estruturas que têm como foco músicos emergentes, ou underground. A isso, juntámos uma programação regular que dá voz e espaço a propostas que não têm visibilidade em mais lado nenhum.”
O papel da ZDB na divulgação da música alternativa, leva Sérgio a crer que “o fervilhar da cena musical lisboeta” se deve muito ao que foi acontecendo no “aquário” (a sala de concertos da galeria com montra para a rua), mas também pela aposta “pioneira de residências na vertente musical, com parcerias na produção de discos ou no acompanhamento próximo dos músicos”, apontando Gabriel Ferrandini como um exemplo recente.
Quando se questiona como é que a ZDB conseguiu trazer a Portugal bandas como Animal Collective ou músicos como Kim Gordon, dos Sonic Youth, a resposta dada passa por outra característica muito especial: a forma como se acolhe e se está disponível “para ir buscar o artista ao aeroporto, para conversar e jantar com ele”. “Eles vêm, são mal pagos, mas saem contentes”, brinca Natxo.

Únicos, after all these years
Mais do que um centro cultural, “somos uma casa dos artistas”. A filosofia ZDB está implícita no modo como se trabalha com os artistas e naquilo que se lhes dá: “meios, visibilidade, acompanhamento e inserção em redes internacionais”.
Natxo sublinha, sobretudo, a relação com os artistas visuais: “o artista que acolhemos na ZDB está aqui o tempo que for preciso e quando nascer um corpo de trabalho com sustentabilidade própria, expomos.” Por isso, com graça, Marta admite que Natxo “nunca os larga, e é pelo mundo fora” – ainda há meses, esteve com André Príncipe no Zimbabué e noutras paragens distantes com Gabriel Abrantes.
Esta forma singular de ser e de estar tem resistido a todos os contextos e, orgulhosamente, o trio que dirige a ZDB assume que, todos os dias, se reinventa para os acompanhar. Afinal, como nos lembra Marta, “esta é uma casa de liberdade. E isso é aquilo que verdadeiramente importa para um artista.”
Escreveu o Manual do Bom Fascista. Como conhece tão bem esse sujeito?
Porque nasci em Portugal, em 1961, e foi um ano com uma óptima colheita. Acho muita graça às pessoas que agora se queixam que estamos a ideologizar as crianças. Vê -se que não foram meus colegas de escola, onde tínhamos na sala de aulas o retrato do Dr. Salazar e a cruz. Mesmo que não fossemos católicos, eramos obrigados a seguir os seus preceitos. O meu irmão mais velho teve que ir à Mocidade Portuguesa. Eu, por uma razão qualquer, acho que o meu avô disse que eu era asmático, consegui escapar. Mas, ainda me lembro, aos dez anos, no Estádio Nacional, durante um exercício de ginástica, fazerem a saudação do braço estendido. Estamos a falar de 1971, durante a chamada Primavera Marcelista. Como dizem os ingleses: “descanso a minha mala” [I rest my case].
Este manual é um livro de autoajuda?
Se o quisermos colocar dentro de um género, descende de uma linhagem que vem da sátira romana, passa pela Utopia de Thomas More, pelo Elogio da Loucura de Erasmo, e depois, na época moderna, pelo magnífico texto Uma Modesta Proposta de Jonathan Swift que propõe, para resolver o problema da fome na Irlanda, apenas porque é bom para a economia, que os ricos comam os filhos dos pobres. Com isso, Swift inaugura a forma moderna, que já vinha do Erasmo, de dizer as coisas ao contrário. O humor negro moderno, a ironia da nossa época tem à volta de três séculos e esse pai que é o Jonathan Swift. Como vemos, a tradição dos livros de autoajuda como livros humorados é grande, e eu inscrevo nela este texto. Por isso, o slogan publicitário é: Não se contente em ser um facho no armário, seja mesmo um bom fascista! O meu livro pode ser lido por pessoas que não gostam da “coisa”, ou por pessoas que não sabendo que gostam da “coisa” gostam dela. Pelo menos, assim, já ficam mais conscientes, porque o grande inimigo da vida é a estupidez. Há pessoas que passam a vida inteira sem saber o que são.
Afirma que o “melhor fascista” nunca leu um livro. Como o pretende convencer a ler este?
Dizendo que é para rir e que tem bonecos. Em Portugal lê-se pouco. A indústria do livro sobrevive graças a duas instituições maravilhosas: o Natal e os aniversários. É o único país que eu conheço que quando compro um livro perguntam: “é para oferecer?” A hipótese do livro ser para ler é mais improvável do que ser para oferecer.

Confesso que me revi nalgumas situações descritas no livro. Nessa altura o Manual, além de muito divertido, torna-se inquietante. É esse o objectivo?
Acho que o humor, a ironia interessante é sempre inquietante. Um sinal de que estamos a ficar com a cabeça estreita é quando apontamos o dedo aos outros: a velha brincadeira do individuo que se queixa do engarrafamento ou dos condutores de domingo, sem perceber que ele é o engarrafamento e que ele é o condutor de domingo a queixar-se dos outros. Ler este livro e começar a rever-se nele é um sinal de saúde mental. O meu medo são as pessoas que lêem o livro e não se revêm de todo porque se acham o máximo.
É uma questão de lucidez?
Sim. Não lhe posso garantir, nem a si nem a mim, uma vida maravilhosa até ao fim, cheia de lucidez. Mas acho que a prevenção para ficarmos estreitos da cabeça é aceitarmos sempre a possibilidade de estarmos a ficar estreitos. Vivemos numa euforia do ter razão, seja à direita seja à esquerda (o fascismo é de direita, mas também há fascistas de esquerda). Eu penso de forma clara que a marca da obra literária é a ambiguidade. Num texto comunicacional o objectivo é só esse: se em vez de um café, pedir ao balcão “aquele néctar escuro que revitaliza os nervos e as sinapses” a senhora do bar vai dizer – O quê? Ao contrário, num texto literário é bom haver ambiguidade, o prazer da leitura de um poema é o prazer de ler um texto ambíguo. O que é engraçado é que, hoje em dia, mesmo no campo da literatura, os bárbaros estão chegando. Estão a tornar óbvio tudo o que não o devia ser. Num mundo onde há cada vez mais gente convencida de que tem razão, onde os líderes políticos dizem “venham por aqui que eu tenho razão” e, às vezes, são os mais insanos que o dizem (o homem mais genial, segundo ele próprio, é Donald Trump, e o mais honesto, segundo o próprio, é Bolsonaro), se calhar a função moral do objeto literário e do humor escrito no século XXI é não ter razão. O escritor é aquele que diz: “eu não tenho razão, mas vou tentar ajudar-vos a pensar e, como sei que vocês se cansam depressa, pelo meio vou dizer uma piada ou outra.”
Por isso diz que mais importante que perguntar se o fascismo está “entre nós” é descobrir se está “dentro de nós”?
É sempre esse o princípio, até porque não há um gene do fascismo. Dizer que há tipos que nascem fascistas é terrível, é já fascista em si mesmo. O fascismo está dentro de nós é a tese do livro. Entendo que há um fascismo histórico e político e outro intemporal que, volta e meia, vem ao de cima, a maior parte das vezes está a larvar, outras vezes põe a cabeça de fora, noutras chega ao poder. Nos EUA, chegou ao poder. O Philip Roth escreveu uma fantasia há alguns anos [A Conspiração contra a América] e agora temos o resultado. Alguém vai apontar que a culpa do Trump é do Philip Roth. É possível. A imaginação por vezes é apenas lucidez, vê mais longe.
O bom fascista do seu Manual é português. Em que se distingue dos seus congéneres estrangeiros?
Pela mansidão. Penso que um Manual do Bom Fascista em Espanha ou na Alemanha seria menos manso. É sintomático que nunca tenhamos repensado a nossa colonização. Há quem ainda acredite no mito de que o colonialismo português era bonzinho, que “eles” gostavam de nós. O nosso fascismo era como a sociedade portuguesa: oportunista e preguiçoso. Porque nós somos mais o animal que está à espera do que o animal que age.
Diz que o bom fascista nunca ofende, passa a vida a ser ofendido. Vai sentir-se ofendido com este livro?
O drama do livro, ao contrário do artigo de jornal, é que só é lido por quem o quer ler. Portanto, é um objecto de não poder, tem um valor simbólico, mas nunca chega aos leitores a quem queria convencer. Portanto eu não vou ofender os fanáticos do futebol, ou os racistas ou os fanáticos vegans, porque esses não o vão ler. Mas vão saber que existe pelo facebook, porque eu uso muito as redes sociais. Vão-lhes chegar os ecos do livro. Depois, as pessoas que me apetece ofender ou provocar um bocadinho são os leitores compradores do livro que pensam que se vão rir dos outros e acabam por descobrir que a piada é também para eles. Mas aí é uma provocação amável, porque me coloco também como alvo do riso. Ou seja, o livro deixa de ser altivo e torna-se compassivo. Gosto de me ver como uma pessoa compassiva. A luta do futuro vai ser entre a empatia e a falta de empatia. O princípio da ficção é pormo-nos no lugar do outro. E é esse exercício de empatia que dá esperança à humanidade.
Umberto Eco fala da suspeição do fascismo pela cultura, na medida em que esta se identifica com o sentido crítico. O Rui afirma que o bom fascista detesta intelectuais.
É verdade, porém a questão portuguesa do ódio ao intelectual não é muito grande porque, em Portugal, nunca houve muitos intelectuais. É por isso que Portugal é um país bonito, porque é o sítio em que uma pessoa com meio neurónio já passa por génio brilhante. A nossa elite intelectual deixa muito a desejar. É a mesma elite que acha que o Gil Vicente é importante e que não compreende que o teatro sempre foi um sinal da nossa pobreza franciscana. A prova é a falência do teatro português ao longo dos séculos, sempre foi muito poucochinho, com pouca produção. É o elo fraco da nossa literatura: poesia está bem, narrativa também, mas não o teatro. Porquê? Porque o teatro depende de haver um coletivo. Nós somos o país que teve um espectáculo de revista no D. Maria e foi a coisa com maior sucesso. Ainda hoje a grande maioria dos grupos de teatro do país não representam textos de autores portugueses. Há aqui um cosmopolitismo que me doí. Outra prova da falência intelectual portuguesa é o facto de muito dos nossos intelectuais respeitados em certo tempo não terem obra. Não temos um só texto filosófico que seja internacionalmente lido. O único grande filósofo português é português porque o pai nasceu em Portugal: o Espinosa. Quando um polemista como o Alberto Pimenta é sufocado e só agora é que começam a dar-lhe atenção, e a falar como se sempre tivessem gostado dele, são sinais de falência.
E essa falência deriva da falta de coletivo?
Sim, porque sempre fomos muito poucos e nunca houve uma estrutura coletiva para o pensamento. As pessoas estavam sempre isoladas, sempre falando sozinhas. O próprio Fernando Pessoa… metade do que ele disse é pastiche; é bom, mas é pastiche, é regurgitado, uma versão portuguesa do que se fazia lá fora. E isto diminui-nos sempre. Sentem-se sempre as poucas leituras. Eu vou às escolas e as pessoas dizem-me – nunca li um livro seu, mas gostava muito de o ver na televisão. Até nos meios universitários isso se sente. Na faculdade, falo com um colega e ele diz: “não li, mas ouvi dizer que é mau”. Temos sempre as mesmas cristalizações.
Os escritores que cultivam o humor têm mais dificuldade na consagração, em serem levados a sério?
Comigo acontece isto: durante muito tempo chamavam-me “engraçadinho”, agora que o humor está na moda acusam-me de não ter humor suficiente. É verdade que o humor como género é sempre historicamente diminuído, sempre visto com uma coisa baixa. Mas, por vezes, é o humor que melhor agarra a alma de um país, e um bom exemplo é a personagem principal da nossa cultura ser o Zé Povinho. Uma excepção importante foi quando atribuíram o Prémio Nobel da Literatura ao Dario Fo. Ele passeou-se pela Feira do Livro de Frankfurt com a mulher, [a atriz] Franca Rame, vestida de freira dando passinhos de boneco mecânico e sorrindo para toda a gente. Aí tiro o meu chapéu: este homem era palhaço antes de ganhar o Nobel e palhaço continuou no dia do Nobel.
Apesar de uma obra multifacetada que percorre o desenho, a pintura, a ilustração, a cerâmica, os bordados e a decoração de móveis e interiores, Sarah Affonso permanece, 120 anos após o seu nascimento, relativamente desconhecida do grande público. O seu casamento com a figura prometeica de Almada Negreiros, e o facto de ter nascido num país que impunha fortes barreiras sociais à afirmação artística feminina, muito terão contribuído para este facto.
Contudo, Sarah foi uma das primeiras a transpor tais barreiras sociais à afirmação das mulheres como artistas, no Portugal das décadas iniciais do século XX. Foi a primeira mulher a frequentar, contra todas as convenções, o Café Brasileira, no Chiado, o que revela não só os preconceitos do seu tempo, mas também o espírito independente com que os encarava. Na sua arte construiu também uma linguagem e uma temática próprias, usando como matéria-prima as vivências e as memórias.
A pintora passou duas temporadas fundamentais para a sua evolução artística na cidade de Paris, a primeira no final de 1923, a segunda no ano de 1928. Aí viu exposições de Paul Cézanne e de Henri Matisse, colaborou esporadicamente com Sonia Delaunay e mostrou-se atenta ao trabalho de Georges Braque ou de Marie Laurencin, com quem partilhava o gosto pelos retratos femininos.

Neste contexto, a obra de Sarah Affonso enquadra-se numa tendência clara de reafirmação da figuração que marca a arte europeia do pós-guerra. No seu caso, uma figuração intimista e sensível num registo inédito em Portugal, remetendo para um universo feminino e familiar e reconvertendo para uma arte moderna e cosmopolita as artes e o imaginário popular da sua infância minhota.
No livro de referência 100 Quadros Portugueses no Século XX, José-Augusto França dedica um belíssimo texto à obra Sereia de Sarah Affonso, datada de 1939, escrevendo:
“O que há de melhor neste quadro de devoção popular e lembrança minhota da pintora é que a sua importância de protagonista vai toda para a sereia nua e rosada, dengosa na sua cabeleira de estopa dourada, e não para a Senhora da Salvação! À graça católica sobrepõe-se a graça da arte (…)”

Em seguida, define de forma lapidar a principal contribuição da pintora para a arte portuguesa da sua época e a paradoxal e singular posição que nela ocupa: “Aparecendo nos ‘independentes’ de 1930, a pintora levou às salas de exposição uma lufada de ar novo e saboroso, (…) definindo um gosto infantil de inocência poética, numa dimensão insólita de modernismo que aqui de certo modo deteve a sua capacidade de invenção original – até (se fosse o caso de fazer história) à estruturação final e sintética das pinturas de Almada nas gares marítimas de Lisboa, seis ou sete anos mais tarde -, numa lógica cronológica em que Sarah Affonso, esposa e colega de Almada, cabe sem caber. O que é , aliás, a sua situação na pintura nacional do seu tempo.”
Por vezes, Sarah Affonso deixa de lado o retrato, a grande marca autoral da sua obra, optando por integrar nas suas composições determinados aspetos do vernáculo minhoto: as suas tradições e as suas feiras, procissões e romarias, a par das mitologias populares. Nestas obras evidencia a forma como a cidade de Viana do Castelo marcou a sua infância e adolescência, deixando-lhe na memória o carácter especial da terra minhota.

Em 1962, António Pedro salientava “a originalidade gostosíssima da aventura minhota desta pintora sem folclore – o Minho de que falo está na memória do gosto, não na anedota e é portanto categoria, não acidente.”
A exposição do Museu Nacional de Arte Contemporânea, bem como o catálogo editado, pretende colmatar essa falha e divulgar o trabalho de uma das mais notáveis modernistas portuguesas, homenagem a uma artista que, apesar de todos os condicionalismos, criou uma obra com uma linguagem e temática próprias sabendo ser, simultaneamente, nas palavras de Emília Ferreira, directora do Museu Nacional de Arte Contemporânea, uma “hábil tecedeira” do seu tempo.
Inspirado e dedicado ao público juvenil, Fit (IN) nasce de perguntas. “Apesar de partir de uma ideia concreta, a ideia de tempo, do tempo interior de cada um e até mesmo da velocidade, há uma série de perguntas e curiosidades que eu e o João tivemos desde o início: será que ouvimos a nossa própria velocidade? Em que velocidade é que estamos? E será que essa velocidade é sempre a mesma todos os dias?”, sublinha Yola Pinto. “A verdade é que é fascinante a forma como cada um de nós se ajusta para acordar de manhã, sair à rua e poder conversar com o outro e nos entendermos”, acrescenta.
“Uma vez que temos fisicalidades diferentes – eu sou mais ator e a Yola mais bailarina –, quando surgiu a ideia de construirmos esta performance baseada no encaixe, percebemos que podíamos fazer os dois ambas as coisas. Como é que encaixamos os estados de espírito de cada um no tempo presente? Como é que eu encaixo o meu tempo no tempo da outra pessoa com quem estou a falar; e como é que encaixo o meu tempo, a minha vontade, de estar a trabalhar com a Yola e ela comigo?”, adianta João de Brito. “Este trabalho tem a ver com estados de espírito, tem a ver como nos sentimos em determinado momento”, resume.

Será, afinal, possível viver num mundo onde o tempo de cada um de nós exista também para lá dos contornos da nossa pele? Aos artistas fascina-os a “empatia estonteante” que as idades mais jovens têm com o tempo: momentos feitos de quase nada e de um impulso primitivo de liberdade. E isso comove-os pelo mágico encadear de uma coisa que leva a outra e depois a outra, lembrando uma coreografia pré-estabelecida, onde o tempo de cada um de nós é a principal unidade de medida. “Nunca tiveram a sensação de que há dias em que a nossa velocidade é completamente diferente da do resto do mundo?”, questionam os intérpretes.
“Quando estreamos um espetáculo gostamos de saber o que fica na cabeça de cada um. O que chama mais à atenção, quais são as dúvidas que o espetáculo suscita, quais as questões, os pensamentos… Até porque este espetáculo nasceu assim, precisamente de perguntas”, conclui Yola.
A performance, que se desenvolve em sincronia com a música de David Santos, tocada ao vivo, conta com cenários “vivos”, que também dançam, desenhados pela cenógrafa Sara Franqueira.
Fit (IN) é uma peça dirigida a crianças com mais de 10 anos, e conta com a produção executiva do LAMA Teatro. Até sexta-feira, dia 25, as sessões destinam-se a escolas e no fim de semana, 26 e 27 de outubro, ao público em geral.
O teu primeiro disco, Avesso, saiu em 2014, mas foi com o mais recente O material tem sempre razão (2018) que caíste nas bocas do mundo. Que relação tens com o primeiro disco?
É a relação que se tem com um primeiro filho, com o qual se comete todos os erros [risos]. Tenho muito carinho pelas canções desse disco, mas eu era outra compositora na altura. Vinha muito da composição jazzística, não sabia muito sobre produção musical. Fui eu que fiz os arranjos e que produzi, pelo que acaba por ser um disco mais acústico. O segundo disco é muito diferente… Começa logo no facto de ter contratado um produtor [Benjamim]. Teve uma produção muito mais cuidada, as canções foram pensadas de forma diferente. Mesmo o tipo de canções é muito diferente. As do primeiro disco tinham mais partes, quase como se fosse música para filme; não tinham propriamente um refrão. Neste, procurei fazer canções mais universais e que não tivessem pontas soltas, só mesmo o que a canção precisava.
Há muito tempo que querias trabalhar com o Benjamim. Foi difícil ‘conquistá-lo’?
Convidei-o a assistir a um concerto meu no Popular Alvalade. Cantei muitas canções em inglês e algumas (poucas) em português. Na altura estava a fazer música mais indie rock, influenciada pela Angel Olsen e pela Melody’s Echo Chamber e nem sequer me apercebi que ninguém precisa de mais uma Angel Olsen e que, expressando-me em português, acabo por me tornar mais original. Ele foi ver o concerto, gostou muito, e combinámos um café para ver se fazia sentido ele produzir o disco. Entrou logo a matar e disse que achava que eu devia cantar em português. O que me levou a dar esse passo foi o facto de ter uma canção em português de que eu gostava muito e que poderia até vir a ser um single, mas que nunca chegou a ser (Vai ser melhor). Na altura fiquei um bocadinho deprimida e disse-lhe que ia pensar. Ele deu a entender que se eu não o fizesse, não trabalharia comigo. A partir daí passei uns meses a escrever canções, comecando do zero. Quando voltei a ligar ao Benjamim, ele ficou muito admirado por eu ter seguido o conselho dele. Gostou das canções que lhe enviei e começámos a trabalhar.
Foi difícil passar a escrever em português?
Para dizer a verdade, não. Sempre escrevi em português, mas as canções que escrevia em português seguiam uma lógica mais tradicional, ligada ao fado, não eram tanto a típica canção pop. Eu não sabia escrever canções pop em português, porque as letras têm de ser mais simples, com o limite se saber até onde funciona a simplicidade e até onde passa a ser falta de imaginação. Foi um desafio adaptar a minha linguagem à pop, mas deu-me muito gozo descobri-la. De resto, sempre escrevi poemas em português.
O material tem sempre razão dá nome ao teu segundo disco. É uma expressão que foste buscar ao teu pai…
Gosto muito da frase. Sendo uma expressão simplista, pode ser aplicada a vários contextos. Dou aulas de canto, e uma coisa que digo muitas vezes é que não é suposto haver dor ou esforço quando cantamos. Se dói, é porque alguma coisa está errada, porque ‘o material tem sempre razão’. É uma expressão que também uso quando estou a ensinar. Acabei por levar isto para o que tem sido o meu percurso artístico, para o que tem sido perceber como funciona esta indústria e como é que podemos continuar fiéis a nós próprios e, ao mesmo tempo, chegar ao público. Fiz o primeiro disco e andei a compor compulsivamente. Compus algumas coisas que depois não consegui cantar. Pensei “se quiser seguir por este caminho se calhar vou ter mais notoriedade”. Tinha potencial de chegar a meios mais generalistas, mas não o consegui fazer…
Não te identificavas com isso?
Exato. Quando tentamos desviar-nos daquilo que somos, há um curto-circuito porque, lá está, ‘o material tem sempre razão’. Há uma canção no álbum que fala disto, e a certa altura pensei que fazia sentido usar esta expressão para dar o nome ao disco.

Algumas músicas deste disco têm um lado muito anos 80, algumas delas fazem até lembrar a Lena d’Água. É uma sonoridade com que te identificas?
Foi uma descoberta. Tinha muito mais o rock dos anos 90 (Alanis Morrisette, Sheryl Crow…) como referência, depois veio o jazz… Obviamente que conheço a Lena d’Água e sou grande fã dela. Quando me comparam à Lena d’Água isso é um grande elogio. Mas somos pessoas diferentes, e às vezes os rótulos podem ser perigosos porque metemos a pessoa numa caixa e não conseguimos ver para além disso. A estética deste disco foi um bocadinho uma exploração. O Benjamim domina o vocabulário das várias épocas. Costumamos dizer que o disco é de 1979, porque algumas canções têm um lado muito de final dos anos 70 e os singles são assumidamente mais anos 80. Acho que é uma mistura…
Também há uma piscadela de olho aos Beatles (em Mais uma Estrada)…
Sim, no final da canção. Foi o Benjamim que insistiu para ficar assim. Eu disse-lhe: “depois vão dizer que plagiei os Beatles” [risos], mas ele achou que era um tributo bonito.
Este disco tem passado por várias salas (lisboetas) e não só, e sobe agora ao palco do Villaret. Como tem sido a reação do público?
Tem sido muito boa. É sempre surpreendente para mim ouvir as pessoas cantarem as minhas canções. É uma sensação maravilhosa ver que as canções deixam de ser minhas e passam a ser das pessoas. Há quem só conheça os singles, e isso também é um desafio: fazer o concerto, ir contando um bocadinho da minha história e criar uma ligação com o público. O mais surpreendente é aparecerem crianças no final do concerto com o disco para assinar, e os pais dizerem-me que os filhos cantam imenso as minhas canções. Acho isso incrível.
O ano passado participaste no Festival da Canção com um tema do Benjaim, Zero a Zero, o que te trouxe mais mediatismo. Como avalias essa experiência?
O festival é, em primeiro lugar, um programa de televisão bastante mediático. Há muita gente que me conhece por causa da minha participação no festival, com tudo o que tem de bom e de mau. A vantagem deste novo formato é que se tornou muito mais eclético e estamos a dar acesso às pessoas ao que se está a fazer na música portuguesa mais alternativa. Houve pessoas que passaram a conhecer o meu trabalho e ficaram fãs, outras nem por isso. Para mim foi uma prova de fogo. Não fazia concertos há algum tempo porque tinha estado a preparar o disco, e fui logo parar a um programa com esta exposição toda. Foi um desafio importante conseguir estar à frente de uma câmara, cantar com segurança e defender a canção do Benjamim. Foram mais as vantagens do que as desvantagens, mas tive alguma dificuldade a lidar com os haters, aquelas pessoas que vão para as redes sociais destilar ódio, mas isso faz parte. Não podemos agradar a todos…
O teu percurso académico começa no jazz. Como se deu essa passagem para a pop?
Comecei por ir estudar Direito para a Universidade Nova de Lisboa. Na verdade, queria ser jornalista porque sempre gostei de escrever e fui um bocadinho ao engano para Direito… Cheguei a uma fase de alguma frustração e foi isso que me fez procurar algo extremo. Acabei por ir para o Hot Clube porque, ou ia para uma vertente mais clássica (que era muito distante do que queria fazer), ou ia para o jazz. Além disso, queria muito aprender com a Maria João (que na altura já não dava aulas lá, mas eu não sabia) e com a Paula Oliveira. Inscrevi-me então no Hot Clube, e conciliava com a faculdade. Andava sempre de um lado para o outro, mas muito mais entusiasmada… até na faculdade ganhei outro ‘boost’. Mergulhei no jazz, depois fui para o conservatório de Amesterdão a reboque de alguns músicos meus colegas no Hot Clube. Foi uma experiência de vida importante. Foi aí que comecei a escrever música a sério, mas ainda numa lógica mais jazzística. Depois comecei a seguir o caminho das canções. Quando comecei a escrever, percebi que aquelas canções não eram jazz. Já não fazia sentido ter solo, ou ser tão acústico. Eram canções pop, que precisavam de uma roupagem pop.

Para além do teu projeto a solo e de dares aulas, participas regularmente noutros projetos (como os Happy Mess ou Cassete Pirata) e escreves para outros artistas. Como consegues conciliar tudo?
É uma loucura [risos]. Depende das fases. Há alturas em que é mais tranquilo porque há menos concertos. É mais complicado quando de repente tenho aulas, concertos, quando preciso de tempo para compor. Quando não tenho tempo para compor começo a ficar mais nervosa. Até agora ainda não houve grandes choques nos concertos de Cassete Pirata e de Happy Mess. Ainda não houve nenhum conflito de calendário.
Vais ter convidados especiais no concerto de 30 de outubro?
Este concerto pretende ser uma celebração do ano que passou e dos concertos que temos feito. Chegou a altura de começar a preparar o próximo disco, mas já teremos uma ou outra canção nova. Os convidados são pessoas que estão ligadas a este projeto: o Benjamim, porque além de produtor do disco, é um amigo; o Samuel Úria (que logo no início escreveu um artigo sobre o Leva-me a Dançar, que me deu uma confiança que foi importante), e por fim, a Luísa Sobral. Conheço-a há anos, mas nunca trabalhámos juntas. Estou muito entusiasmada.
O que se segue?
A verdade é que isto passa a correr, o disco já fez um ano por isso está na altura de lançar mãos ao trabalho. Ainda não compus o disco todo, mas gosto sempre de ter canções a mais para escolher depois as que são mais fortes. Estou nesse processo, preciso de tempo para isso. Em paralelo, tenho escrito para vários artistas. A artista que foi mais decisiva, o ano passado, foi a Carminho. Temos uma história muito engraçada: há uns anos mandei-lhe uma canção [O Menino e a Cidade] por email; ela, muito educadamente, respondeu a dizer que tinha gostado muito da canção, mas não sabia quando é que faria sentido gravá-la e pedia-me que esperasse. Eu assim fiz e fui-lhe mandando outras coisas. Um dia ela chamou-me e conversámos imenso. Ela respeita muito o trabalho do compositor e é muito honesta. Um músico pode gostar muito de uma canção e depois, no contexto de um disco, não fazer sentido. Entendo isso perfeitamente, mas as canções são como filhos, e também custa quando não sabemos o que lhes vai acontecer. Tenho imenso orgulho que ela tenha gravado a minha canção, porque sou uma grande fã. Também já compus para a Elisa Rodrigues, de quem gosto bastante, e que gravou duas canções minhas. Escrevi para a Marta Hugon, a Sofia Vitória, a Cláudia Pascoal… Ainda há mais alguns artistas, mas não posso anunciar para já. Divirto-me imenso a escrever para outros porque me permite ter várias vidas, sem ser eu a assumir todas as personagens.
O que o atraiu no convite feito pelo Doclisboa, além da possibilidade de mostrar Rétrospective (2019), um dos seus últimos trabalhos?
O meu trabalho não tem uma relação com o cinema. Fiz este filme de maneira muito experimental, como forma de dar exposição ao meu trabalho, e para grande surpresa minha, tenho recebido convites de festivais de cinema. Dá-me enorme satisfação pois permite que um novo público possa descobrir o meu trabalho.
Aceitaria ter como lema para as suas criações “uma dança para todos e tudo pode ser visto como sendo dança”?
É uma forma simplificada de ver as coisas, espero que o meu trabalho não se resuma a isso. Mas sendo uma das questões que levanta, posso aceitá-lo.
Alguma vez teve a intenção de provocar o público nos seus espetáculos?
Nunca na vida. Sempre fiz o que me pareceu ser necessário. Prestei muita atenção, sempre que trabalhei sobre a articulação do sentido, para que toda a gente pudesse compreender o que procurava expressar, mas uma parte do público, a parte burguesa, a academia, os profissionais da profissão como dizia Godard, os que acreditavam saber o que era a dança, insurgiram-se e provocaram o escândalo. Essas pessoas estão hoje esquecidas, na reforma, ou estagnaram nas redações do seu jornal ou na cave do Ministério da Cultura. Travou-se uma batalha estética, venci-a e pude prosseguir com o meu trabalho sem esses filistinos.
Lembra-se de alguma reação particularmente violenta, que tenha ido além dos protestos verbais ou do abandono da sala?
Recordo-me de que uma vez um espectador tentou dar-me um murro na cara.
A razão para ter abandonado desde cedo a nudez liga-se ao facto de se ter tornado um cliché na performance?
Não, tratou-se de uma ideia para um espetáculo apenas. O espectáculo seguinte era sobre o vestuário, no caso sobre as t-shirts que toda a gente usa sem se preocupar com o que trazem escrito.

Rétrospective apresenta uma memória pessoal dos seus trabalhos. Que interesse tem hoje para si aquilo que fez?
São várias as razões que levaram a estas escolhas. Após a peça Véronique Doisneau (2004) para essa bailarina da Ópera de Paris, ficou claro para mim que deveria abandonar os solos autobiográficos. Mais recentemente, o encenador suíço Milo Rau pediu-me que participasse na série de trabalhos que estava a começar em Gand, intitulada Histoire du théâtre. Respondi-lhe que saberia apenas fazer a história do meu teatro. Ao mesmo tempo, uma produtora de audiovisual propôs-me que realizasse qualquer coisa para televisão sobre o meu trabalho. Comecei por tentar escrever a minha autobiografia, debruçando-me sobre os arquivos filmados da companhia. Contar a minha vida de coreógrafo rapidamente me aborreceu; por outro lado, pus-me a imaginar o que resultaria da montagem de excertos de várias peças para esse projeto televisivo. Percebi que o que tinha em mente nunca poderia ser exibido pela televisão que é um meio bastante formatado. Decidi então fazer uma nova peça, que seria um filme para projetar nos teatros. O que é, acredito, uma péssima ideia! Mas este filme não pode passar em mais lado nenhum. Não tem ambição cinematográfica, é constituído por imagens de arquivo, pela captação de espetáculos, daí um filme para televisão, mas algumas imagens são de muito má qualidade. Pensei disponibilizá-lo através do YouTube mas como existe nudez não é possível. Um museu não seria opção porque existe uma dramaturgia, uma cronologia: não podemos apanhá-lo em curso como fazemos nos espaços das exposições. Em suma, só restavam os teatros. É uma conclusão por defeito, mas o teatro é verdadeiramente o espaço onde me sinto livre. Tenho a sensação de poder fazer tudo o que me apeteça. O material de que dispunha são dezanove peças. Foi somente aí que tive consciência de que seria a 20.ª peça e de que tinham passado cerca de 25 anos desde que comecei a produzir espetáculos. Não seria motivo para festejar, mas sim refletir: em vez de fazer algo novo, ver o que tinha para me contar esse conjunto de peças antigas. Para meu grande espanto, o que se impôs no momento em que assistia a todas essas imagens de arquivo, foi a dança. A dança é apenas uma das questões levantadas pelo meu trabalho anterior mas agora, com o recurso à imagem em movimento, o que se revelou foi o caminho doloroso e tortuoso da dança e da coreografia nos meus espetáculos. Digo agora porque esta retrospetiva é produzida a partir do meu momento presente. Tenho a certeza de que se a tivesse feito há cinco anos ela seria diferente e será de novo diferente se voltar a fazê-la dentro de cinco anos. O que me impressionou enquanto fazia mentalmente a colagem das cenas umas nas outras, imaginando o trabalho do montador, foi a lógica de alguns pressupostos coreográficos que pus em prática em certos momentos e durante algumas peças.
O que procura nas artes performativas enquanto espectador?
Ter experiências novas.
A diversidade humana é aquilo que continua a inspirá-lo enquanto criador?
Sim, a diversidade humana produz danças diversas e explorei essa via em anos recentes com grande alegria.

Uma vez que a sua companhia deixou de se deslocar de avião (por razões ecológicas), nunca mais apresentará os seus trabalhos fora da Europa?
Não, de forma alguma. Em 2007, eu vinha de avião de Melbourne para Paris. Tínhamos estado a apresentar The Show Must Go On. Num dos jornais oferecidos a bordo, li um artigo que afirmava que devido ao aquecimento do planeta, todas as pessoas deveriam reduzir a sua pegada de carbono. Ao meu lado, no avião, iam os 20 dançarinos da companhia, e tive a ideia de que a partir daquele momento, não viajaríamos mais com toda a companhia, e que enviaria apenas dois ou três dançarinos para que eles montassem os espetáculos no estrangeiro com recurso a dançarinos locais. Foi a minha primeira ação ecológica. Em 2014, a programadora de um importante teatro parisiense fala-me de um espetáculo sobre ecologia que irá receber. Entusiasmado com a notícia, pergunto qual a origem da companhia. “Austrália”, diz-me ela. Nesse momento senti que havia ali qualquer coisa de errado: como podemos exprimir qualquer coisa em termos artísticos, fazendo exatamente o seu oposto. Mais recentemente, já este ano, estou no meu apartamento de Paris. Regulo o aquecimento de modo a poupar o máximo de energia possível. De repente dou conta de que dois dos meus assistentes estão a regressar de Hong-Kong, onde estiveram a remontar a peça Gala com dançarinos locais, e dois outros meus assistentes deslocam-se para Lima com o objetivo de remontar o mesmo espetáculo. Então concluo que eu próprio sou um hipócrita e que a minha vida se resume ao mau teatro, totalmente vaidoso. Entro numa depressão que se prolongará por semanas até chegar à conclusão de que o meu trabalho não pode continuar a contribuir para a destruição do planeta, e decido que nem eu nem qualquer elemento da minha companhia viajará mais de avião. Isto causou o pânico generalizado no seio dos meus colaboradores mas depois instalou-se a calma e começámos a ponderar alternativas para podermos trabalhar internacionalmente sem viajar de avião. Nessa altura estava a iniciar os ensaios da peça Isadora Duncan em Paris com a dançarina Elisabeth Schwartz, e tive a ideia de fazer uma segunda versão da peça com uma outra excelente dançarina “duncaniana” de Nova Iorque, que tinha descoberto na internet, Catherine Gallant. Existirão duas versões da peça: uma que rodará na Europa e outra no nordeste dos Estados Unidos. As duas dançarinas deslocar-se-ão apenas de comboio. Quanto aos outros espectáculos, trabalhamos atualmente as partituras das peças mais requisitadas no estrangeiro, tais como The show must go on e Gala. Trabalhamos com coreógrafos locais das cidades que programam essas peças (Taipé, Cidade do México, Buenos Aires, Beirute, etc.) de modo a que eles possam reconstitui-las com base nas partituras, vídeos e ensaios por teleconferência. O meu próximo projeto é uma peça para uma atriz e vou trabalhar em simultâneo com diferentes intérpretes em Berlim, Paris, Sheffield e Nova Iorque por enquanto, e talvez Lisboa, se encontrar a atriz ideal. Isto muda completamente a minha forma de trabalhar e é muito estimulante.
Já encontrou resposta para o que é o teatro?
Sim.
Queremos começar este artigo com uma viagem no tempo. Como nas histórias (e nos filmes), com “Era uma vez…”, ou com “há muitos, muitos anos”. Num perímetro de cerca de um quilómetro, entre a Alameda D. Afonso Henriques e o primeiro terço da Avenida de Roma, passando pelo Areeiro, a oferta cinematográfica e de espaços de exibição era pujante. Na Alameda, o Império; na Avenida Guerra Junqueiro, o Star; junto ao Areeiro, o complexo multiplex Alfas; na Frei Miguel Contreiras, o Vox, mais tarde King; e na Avenida de Roma, duas salas tão icónicas como os filmes que exibiam: o Londres e o Roma.
Por estas bandas de Lisboa foram nascendo gerações de cinéfilos e amantes dos filmes que ora não perdiam um filme da moda – como os Rambos que estreavam no Roma -, ora não resistiam às obras-primas de Bergman ou de Woddy Allen que se exibiam no Londres. E ainda havia os Alfas onde, por exemplo, se estreou, no início dos anos 80 do século passado, a primeira aventura de Indiana Jones; e o Star, que fazia gala em passar os grandes sucessos do cinema comercial francês; e o King que, nos princípios dos noventas deu a ver as primeiras obras de um dinamarquês que fazia furor nos festivais de cinema europeus chamado Lars Von Trier, ou o jovem e ainda desconhecido Quentin Tarantino com a sua muito promissora primeira obra, Cães Danados.
O tempo e a cidade mudaram e, ano após ano, os cinemas foram fechando, sendo tomados por usos que varreram da memória material aquilo que outrora foram.
Até que, há quase quatro anos, um jovem realizador de cinema teve vontade de partilhar com o público os filmes que viu na infância e devolvê-los ao ecrã de cinema. Assim nasceu, no antigo Cinema Roma, hoje Fórum Lisboa (a sede da Assembleia Municipal), um “quase cineclube” a que, pelas características da programação, chamou CinePop. À persistência de Tiago P. de Carvalho o devemos.

A mira de Clint Eastwood sobre as asas do Batman
Tiago conta que a ideia de programar filmes em sala foi inspirada por “aquela imagem tão recorrente no cinema, sobretudo americano, de encontrar personagens a ver filmes icónicos”, classificação que atribui aos filmes “que qualquer um de nós pode não ter visto mas já ouviu falar”. Por isso, a programação do CinePop é tão heterogénea e não segue, temporada a temporada, nenhuma temática específica, “embora esteja atenta ao que se vai passando no panorama do mercado de exibição ou às efemérides – uma das “lutas” do programador é exibir os Batman dirigidos por Tim Burton no ano em que passam 30 anos sobre a estreia do primeiro filme.
Como Tarantino estreou este ano Era uma vez… em Hollywood, “fazia todo o sentido abrir a temporada com Cães Danados. E, sem ter tido consciência imediata disso, programei a trilogia dos dólares [também conhecida como a trilogia do Homem Sem Nome] de Sérgio Leone”, protagonizada por Clint Eastwood, ator americano que, tal como o personagem de Leonardo Di Caprio no último Tarantino, acabou por ir relançar a carreira a Itália com westerns spaghetti que são, hoje, filmes de culto embora muito pouco vistos em sala.
Outros destaques da temporada são o incontornável filme de terror O Exorcista, de William Friedkin, e a versão de 1992 de A Família Addams, protagonizada por Raul Julia, Anjelica Huston e uma muito jovem Christina Ricci.

Com a cumplicidade do público… e de Nuno Markl
Um dos grandes trunfos do CinePop é a interação que Tiago mantém com o público, seja nos dias das sessões, seja através das redes sociais. “Concluo que sou muito menos cinéfilo do que a maioria dos espectadores habituais. Por isso eles têm sido também uma grande ajuda na programação de cada temporada”. Porém, “às vezes é-me complicado gerir a indignação de alguns que querem este ou aquele filme, e isso nem sempre é possível, seja pela dificuldade na negociação dos direitos, seja pelos valores que os mesmos podem envolver.”
Nem mesmo os fãs de cosplay vão passando incólumes aos domingos no antigo Cinema Roma. “Quando passámos aqui os primeiros Star Wars produzidos, filmes que estiveram em stand by por três anos devido a negociações difíceis com o gestor dos direitos, apareceu um grupo de cosplayers; e o mesmo aconteceu quando exibimos o Ghostbusters”. As sessões de cinema podem tornar-se assim um acontecimento: “no The Big Lebowski [filme de culto dos Irmãos Cohen, com Jeff Bridges] decidi surpreender o público durante o intervalo, tendo-me posto a servir white russians em robe, aqui no foyer.”
Inestimável, e essencial ao longo destes anos, é a colaboração do radialista e humorista Nuno Markl, “também ele um cinéfilo e um cúmplice que, sempre que pode, vem às sessões fazer uma breve apresentação sobre o filme. E quando não lhe é possível, gravamos a apresentação e exibimo-la”. Tiago assume que, parte do sucesso do projeto, se deve “à sua notoriedade e à maneira incansável como divulga o CinePop.”
O privilégio de realizar um sonho neste Cinema
Voltar a ter cinema no “velho” Roma é uma conquista, e Tiago reconhece o privilégio de concretizar “este sonho numa sala de 600 lugares, com excelentes condições de projeção e de som, ao nível dos melhores cinemas da cidade”. Até porque seria impossível haver CinePop sem o apoio do Fórum Lisboa e da sua equipa, uma vez que o projeto subsidia-se a si mesmo com a bilheteira. “E, por vezes, com o meu próprio dinheiro quando as sessões não cobrem os custos com os direitos de exibição do filme.”
Apesar da persistência, Tiago P. Carvalho lembra, que ano após ano, equaciona acabar com o projeto. “Exige muito tempo, muita disponibilidade e criatividade”. Porém, sente-se que há um público que cresce e que se envolve, um público de diferentes gerações que compreende os que ainda lembram o bairro quando por ali existiam cinemas e aqueles que procuram descobrir os filmes de que apenas ouviram falar. O CinePop até pode “estar na corda bamba”, mas promete resistir.
Apaguem-se as luzes. A temporada vai começar!
Visitar CinePop no facebook
Foi a última peça escrita pelo dramaturgo austro-húngaro Ödön von Horváth, em 1937, pouco antes de falecer aos 36 anos. Ao longo da sua curta mas profícua vida de escritor (iniciada em Berlim, no início da década de 1920), Horváth tornou-se autor de um teatro que espelha uma época ensombrada pela ascensão e triunfo do nazi-fascismo. Depois de décadas em que permaneceu praticamente esquecida, a sua obra irrompeu nestes anos de crise económica e social por alguns dos grandes palcos da Europa, nomeadamente em Inglaterra (onde era um autor praticamente desconhecido) ou na Alemanha que o “redescobriu” com particular entusiasmo.
Portugal, naturalmente, não foi exceção. Horváth tornou-se, hoje, um dramaturgo representado com regular assiduidade nos nossos palcos (a exemplo, ao longo dos últimos anos Tonán Quito dirigiu Histórias dos Bosques de Viena, Fé, Caridade e Esperança e Casimiro e Carolina, e a Companhia de Teatro da Almada levou a cena as peças Em direção aos céus e Noite da Liberdade). Agora, é a vez de Cristina Carvalhal apresentar com as “suas” Causas Comuns, O Dia do Juízo, mais uma tragédia de Horváth que é, como todas as suas peças, uma “comédia”. Mas, uma comédia sombria a que a encenadora emprega um ambiente fantasmático, sublinhado pelo trabalho em vídeo da autoria do realizador Pedro Filipe Marques.
Passado numa pequena cidade rural, em O Dia do Juízo acompanhamos a rotina do Sr. Hudetz (Carlos Malvarez), chefe da estação de comboios e seu único funcionário desde que o Estado decidiu racionar os gastos com pessoal, zelando meticulosamente para que nenhum sinal falhe. Uma noite, porém, Hudetz é seduzido por Anna (Júlia Valente), a jovem filha do taberneiro local (Pedro Lacerda), e falha por segundos a sinalização. Ocorre então um terrível acidente que, não só afetará brutalmente a vida do chefe da estação, como a de toda a comunidade, colocando a nu pequenos dramas de personagens em permanente conflito com a própria perceção do acontecimento.

Depois de um longo período de esquecimento, Ödön von Horváth tornou-se, nos últimos anos, um dramaturgo muito revisitado. É um autor para tempos sombrios?
Já queria ter feito esta peça há uns quatro ou cinco anos, precisamente no período da troika. Porém, só agora foi possível. O Horváth escreveu-a em 1937, já com Hitler no poder, retratando um tempo de crise, com falta de empregos, com a desvalorização da moeda e com a fome a assolar muitos europeus. Nos anos da troika, muitos desses problemas ressurgiram um pouco por toda a Europa, tendo-se refletido com maior violência em economias mais frágeis, como a portuguesa. Talvez por isso, nos últimos tempos eclodiram tantas revisitações à obra de Horvath, autor que tão bem espelha tempos difíceis.
E porquê esta peça especificamente?
Apesar de estarmos a viver um tempo de recuperação, esta é uma peça que aborda questões intemporais como a responsabilidade individual – a do chefe da estação que falha o sinal, a do talhante que acossa a noiva por ciúmes, etc. – ou a condição da mulher – o preconceito sobre a mulher mais velha que casou com o jovem, a desconfiança perante a rapariga que usa produtos de beleza… São temas presentes nos dramas de cada personagem e acabam por ter repercussões em toda a ação.
O sublinhado à responsabilidade individual é um alerta para todos nós?
A nossa responsabilidade, hoje, é acrescida porque, através da internet, podemos veicular todo o tipo de opiniões. Vivemos numa sociedade inundada de imagens e informação, muitas delas falsas, que desfilam sem filtros de qualquer espécie. Hoje, através de redes sociais, cada um de nós tem quase o poder de, consciente ou não, provocar revoluções. O alerta que a peça deixa é que cada um de nós, mesmo nos mais pequenos gestos, é responsável na construção da coisa pública.
Mas, esta é também uma peça sobre a culpa…
Com certeza. Faz parte da nossa civilização judaico-cristã, e persegue-nos desde que nascemos [risos]. Mas é, sublinho, uma peça sobre a responsabilidade. Veja-se o caso do acidente: o Estado racionalizou tanto os meios que conta apenas com um empregado para sinalizar o tráfego que passa pela estação. Provavelmente, se houvesse mais um trabalhador, o sinal não falharia e não se dava a tragédia. No apontar de responsabilidades, o chefe da estação falhou, mas o Estado não assumiu as suas responsabilidade ao colocar sobre a supervisão de um único homem a segurança dos passageiros.

A utilização do vídeo é, para além de ser por vezes uma contracena, o espelho sobre a atualidade?
Achámos que dava muitas valências ao espetáculo. Por um lado sublinha a volatilidade da opinião pública, que passa muito pelas imagens, pela manipulação da informação em redes sociais, cada vez mais capazes de fazer eleger “capitães Bolsonaros”. Depois, dá-nos também um lado espetral que pode contextualizar este tempo em que vivemos, em que as coisas são cada vez mais tomadas pela aparência e pelo imediatismo.
Traçando um paralelismo com as redes sociais, aquilo que se passa na peça é também essa capacidade de naquela pequena comunidade cada um dos seus elementos passar de herói a vilão de um momento para o outro…
É um pouco como quem lê o título e não se interessa por ler o resto da notícia. Ou seja, basta o título para formar uma opinião e difundi-la. Na peça, dá-se um fenómeno semelhante quando uma apreciação ou um boato sobre alguém é capaz de contaminar toda a comunidade.
O Dia do Juízo reúne muitos atores como quem já trabalhaste e outros que diriges pela primeira vez. Feliz com este belíssimo elenco?
Muito, mesmo muito. Conseguimos reunir cúmplices de muitos anos e muitos projetos, como a Manuela Couto e a Cucha Carvalheiro, a atores com quem queria muito trabalhar, como o Paulo Pinto ou o Ivo Alexandre. A eles consegui juntar o Carlos Malvarez, o Eduardo Frazão, o Pedro Lacerda e a jovem Júlia Valente, que selecionámos num casting e com quem estamos muito contentes. É um elenco de luxo!
paginations here