Odile e Odette dançam entrelaçados, num amor que acreditam capaz de criar futuro e de fazer uma revolução. Mas já sabemos que, em O Lago dos Cisnes, não há histórias com finais felizes. Nem no clássico bailado de Tchaikovsky, nem nesta “especulação”, como lhe chama o encenador Daniel Gorjão, a dias da estreia no Centro Cultural de Belém, a 28 de maio.
Há muito que Gorjão queria levar esta obra para um palco de teatro e desviá-la do cânone do bailado clássico. Foi agora que aconteceu, depois de, já há uns anos, ter desafiado o escritor André Tecedeiro a escrever um texto “sobre a forma como pode reverberar nos dias de hoje”.
“Tinha vontade de trazer uma história da dança para o teatro, no sentido inverso ao que se costuma fazer. É raro trazer peças marcadamente do repertório da dança clássica para o teatro e dar-lhes palavras. Fui perseguindo essa ideia, mas o que podia fazer com ela já foi muitas outras coisas que não isto que é agora”, explica o encenador. O texto final, diz, acabou por ser muito partilhado entre os dois e também com os intérpretes. “Acredito que o espetáculo agora comunica mais com o tempo atual do que se o tivesse feito há dez anos.”

Em cena, reconhecemos nomes de personagens, mas nem sempre elas correspondem ao perfil e à posição na trama que originalmente Tchaikovsky lhes deu. O Lago dos Cisnes está lá, com toda a sua carga dramática, mas está também com leituras que nos levam para outros caminhos: os da mutação, da aceitação (ou não) do outro, da violência e do medo, da culpa e da mentira. “Penso que toca vários temas ao mesmo tempo: a fluidez, o género, a família, o amor, o desejo – para mim, o desejo é muito presente no espetáculo”, sublinha Gorjão.
Questionar o padrão
Ao contrário do ballet clássico, que elege corpos perfeitos capazes de gestos coreográficos irrepreensíveis, aqui procuraram-se corpos disruptivos que nos confrontam com conceitos pré-estabelecidos. No palco, Batata, Duarte Melo, Inês Cóias, Rita Carolina Silva e Zé Couteiro não nos parecem menos admiráveis nos seus movimentos. “É o que dá esperar coisas de corpos alheios”, havemos de ouvir, na peça, a filha dizer à mãe – mulher tóxica, que tudo quer controlar –, perante a desilusão desta e a rejeição a que a condena. “Queria questionar o padrão dos corpos usados naquilo que é uma companhia de repertório. Em audição, escolhi estes atores, com estes corpos e estas histórias e, de alguma forma, quis trazer isso para cena”, afirma Gorjão.

Por isso, nas audições onde escolheu os intérpretes, conta, foi em busca de “corpos reais”, sem nenhuma ideia já definida. “Estava aberto a ver pessoas que nunca tinha visto. Para este espetáculo, não podiam ser só os atores que conheço.” Depois, pediu-lhes movimentos a que não estavam habituados e foi de encontro ao que daí resultou. “Não quis anular o lugar de onde isto partiu. Há muitas coisas na coreografia que remetem para uma codificação coreográfica que existe no bailado clássico e fui à procura de outras referências, nomeadamente ao universo da revista Vogue. Foi uma tentativa de ver como é que isso se comporta nestes corpos que não estão treinados como estão os dos bailarinos clássicos. São corpos reais, com pouco treino a nível de movimento. Queria perceber como é que isto ressoava neles. Para mim, estas pessoas dançam com os seus corpos e isso está certo. É dentro dos seus movimentos que isto se torna bonito, frágil e vulnerável.”
Num cenário espelhado e ao som de música composta por Máximo propositadamente para o espetáculo, este O Lago dos Cisnes lembra-nos que somos todos “um corpo de possibilidades”. Ali naquele bosque, naquela água, todos se hão de transformar, de alguma maneira e será assim, afinal, que se criará um futuro. Bem vistas as coisas, “uma forma é só uma forma” e não há como mergulhar em nós mesmos para perdermos o medo. Haverá poesia maior no fim dos tempos?
Reconhecido como um dos grandes intelectuais portugueses das últimas décadas, António Mega Ferreira foi escritor, jornalista e gestor cultural. Como mentor de vários projetos culturais de grande relevo, contribuiu para projetar a imagem da então jovem e periférica democracia, ávida de inscrever-se no espaço europeu. Destaque para a Expo-98, ambicioso projeto de comemoração dos 500 anos da chegada dos portugueses à Índia, que transformou e requalificou definitivamente a zona oriental de Lisboa.
É, justamente, num dos mais icónicos edifícios criados para o evento, o Pavilhão de Portugal, projetado pelo arquiteto Álvaro Siza Vieira, que nasce a Biblioteca António Mega Ferreira, o mais recente equipamento cultural de proximidade a abrir as suas portas à cidade. Este equipamento acolherá a biblioteca pessoal do escritor, fruto de um memorando de entendimento assinado pelos herdeiros de António Mega Ferreira, a Câmara Municipal de Lisboa, a Junta de Freguesia do Parque Nações e a Universidade de Lisboa, proprietária do edifício.

Por se tratar de uma coleção patrimonial, a sua consulta ficará circunscrita ao espaço da biblioteca para que curiosos e estudiosos possam, a partir dela, conhecer melhor António Mega Ferreira, intelectual que adotou o compromisso cívico de, em prol da liberdade individual, empenhar-se na educação social e cultural das populações.
A par da sua coleção, este espaço disponibiliza também muitas das obras editadas durante a Expo-98, num trabalho conjunto com o Centro Interpretativo do Parque das Nações, que ficará igualmente instalado no Pavilhão de Portugal. A biblioteca será um espaço de estudo e de trabalho, a funcionar 24 horas por dia e que acolherá uma programação cultural, em articulação com a Reitoria da Universidade de Lisboa e do Centro Interpretativo, sob a gestão da Junta de Freguesia do Parque das Nações.
Chegou o mês dos arraiais e marchas populares e das celebrações em torno do mais amado santo dos lisboetas, Santo António. Como não poderia deixar de ser, Lisboa está em festa e, num misto de tradição e contemporaneidade, a Câmara Municipal de Lisboa e a Lisboa Cultura/EGEAC prepararam uma programação que aposta na diversidade para chegar a todos os públicos.
Este ano, os grandes momentos estão reservados para o Castelo de São Jorge e para a Praça do Comércio. Na Praça de Armas do monumento há Música no Castelo, um ciclo de concertos de entrada gratuita que tem como protagonistas o jovem pianista Gil Brito (dia 7, às 18h), Rui Massena com o seu novo projeto (no mesmo dia às 19h) e Carminho, acompanhada por André Dias, na guitarra portuguesa, Flávio Cardoso, na viola de fado, Pedro Geraldes, na lap steel guitar e guitarra elétrica, Tiago Maia, no baixo acústico, e João Pimenta Gomes, no mellotron (15 de junho, às 20h30).

Entretanto, tal como no ano passado, o encerramento das Festas de Lisboa faz-se em dose dupla na Praça do Comércio. Primeiro, a 28 de junho, os D.A.M.A. reúnem-se a uma série de convidados, como Ágata, Bandidos do Cante, Beatriz Felício & Buba Espinho e Los Romeros, para uma fusão entre a pop e a música tradicional portuguesa; na noite seguinte, o palco é de Bárbara Bandeira que, com a Banda Sinfónica da GNR, revisita os seus principais hits com arranjos orquestrais e outras surpresas. Ambos os espetáculos estão agendados para as 21 horas.
Festivais e diversidade
Durante nove dias, Lisboa recebe o grande evento europeu que celebra a igualdade e os Direitos Humanos. Sob o tema “Proudly Yourselves”, o Europride 2025 conta com um programa diverso e inclusivo que terá uma conferência sobre direitos humanos, exposições, workshops, palestras, atividades desportivas, concertos e performances e a Marcha pelos direitos LGBTI+ que está agendada para dia 21 entre o Saldanha e a Praça do Comércio.

No âmbito da presença da capital portuguesa na Expo de Osaka, a cidade japonesa vem a Lisboa com uma programação especial que inclui exposições, oficinas e cinema. Em destaque, a mostra Osaka – 55 anos depois, desenhar o futuro, que leva ao MUDE – Museu do Design (até final do mês) o projeto desenhado por Frederico George e algumas peças projetadas para o interior do pavilhão português na Exposição Universal de Osaka em 1970; e um ciclo de longas e curtas-metragens japonesas, no Cinema São Jorge (entre 5 e 7 de junho), onde não faltarão o incontornável Viagem a Tóquio, de Yasujiro Ozu, ou o espetacular Os Sete Samurais, de Akira Kurosawa.
Antes, a 31 de maio e 1 de junho, também no Cinema São Jorge, e nos teatros e na rua do vizinho Parque Mayer, há Around Classic, um festival que, diz a organização, “promete reinventar o modo como se vive e sente a música clássica”. Ainda no âmbito dos festivais, a não perder os Recitais de Jazz dos estudantes finalistas da escola do Hot Clube de Portugal, no Teatro da Comuna, de 12 a 15 de junho.
Santo António, Feira do Livro e ciências
Este ano, as Festas marcam presença na Feira do Livro de Lisboa (de 4 a 22 de junho, no Parque Eduardo VII) através de uma programação especial no espaço municipal, o auditório Lisboa Cultura, onde vão decorrer conversas, oficinas e apresentações de livros. A história da cidade, personalidades como Pessoa, Bordalo e Santo António dão o mote para esta programação concebida em colaboração com a Rede de Bibliotecas de Lisboa.

Por falar em Santo António, não podemos deixar passar em claro mais uma edição da Trezena de Santo António que, durante 13 dias da primeira quinzena de junho, alia a fé à cultura popular no Museu de Lisboa – Santo António, com fados e guitarradas, percursos, oficinas, uma exposição de Tronos de Santo António e um espetáculo de teatro assinado pelo dramaturgo e encenador André Murraças.
Como aprender é também uma festa, a Agenda não poderia deixar de destacar mais uma edição da Noite das Ideias, no Teatro Municipal São Luiz. A 25 de junho, a partir das 18 horas, noite dentro, escritores, poetas, bailarinos, cientistas, jornalistas, músicos, ilustradores e filósofos juntam-se em torno do tema Poder de Agir – Em busca de um novo horizonte de universalidade para pensar e debater o mundo. Há ainda espaço para performances, espetáculos, encontros literários e ateliês.
A programação integral das Festas de Lisboa pode ser encontrada aqui.
Denise Fernandes nasceu em Lisboa e cresceu na Suíça, mas é o país de origem dos pais, Cabo-Verde, que tem inspirado o seu trabalho. A curta Nha Mila, realizada em 2020, sobre o encontro, em Lisboa, entre duas amigas que viveram a infância neste arquipélago vulcânico de África, foi o prenúncio para a primeira longa-metragem: Hanami. Integralmente filmado em Cabo-Verde, o filme acompanha o crescimento de Nana, uma menina que aprende a ficar num local de onde todos querem sair. “É um conto insular, que atravessa partidas e memórias entre Djarfogo, a Ilha do Fogo, em Cabo Verde, e o mundo fora. Filmes como o Hanami precisam de público presente e atento para poderem permanecer em sala. Desejo que o filme encontre o seu público e que quem o veja, o leve consigo por um tempo”, afirma a realizadora.
O filme venceu em Locarno, na secção Cineasti del Presente, os prémios de Melhor Realizador Emergente, Prémio Boccalino de Melhor Argumento e obteve uma Menção Especial do Júri “Primeira Longa-Metragem”. No Festival IndieLisboa, em 2024, arrecadou o Prémio MAX de Melhor Longa-Metragem Nacional. A jovem cineasta realizou ainda Idyllium (2013), Pan sin mermelada (2012) e Una notte (2011). Dia 19 de maio, às 19h, no Cinema City Alvalade há uma conversa após a exibição de Hanami, com a realizadora Denise Fernandes e Marta Lança, fundadora da plataforma Buala.

Le Notti di Cabiria, de Federico Fellini
19 de maio, às 21h30; 23 de maio, às 15h30
Cinemateca Portuguesa
O filme sugerido integra uma carta branca com dez títulos escolhidos por Eduardo Geada, no âmbito do ciclo Eduardo Geada, O Olhar do Desejo, que apresenta uma retrospetiva de toda a obra cinematográfica e uma parte significativa da produção televisiva do cineasta português. “Cabiria é uma personagem maravilhosa, uma força da natureza. Um pouco louca, muito teimosa, absolutamente viva. Procura amor nos lugares mais improváveis e talvez, sem saber, esteja à procura de outra coisa: aprender a gostar de si. Le Notti di Cabiria é um filme que me faz rir e chorar.”
Ciclo Chantal Akerman
A partir de 24 de maio
Cinemateca Portuguesa
A propósito da exposição Travelling, que percorre as várias etapas da carreira da cineasta belga Chantal Akerman (patente no MAC/CCB, até 7 de setembro), a Cinemateca apresenta seis sessões dedicadas a Chantal Akerman. “Este ciclo todo é um presente. Aconselho ver qualquer filme que esteja em exibição. Há um filme no programa que está entre os meus favoritos: News From Home. É uma espécie de carta de afeto (ou de amor) filmada entre Nova Iorque e a voz da mãe da própria Chantal, que permanece na Europa, longe dela. Esse laço epistolar, nesse cenário de ruas e solidão urbana, é qualquer coisa que me toca profundamente, uma conversa entre o mundo exterior e o mundo interior. Todo o ciclo é uma oportunidade de mergulhar na maneira de observar e viver o mundo desta cineasta.”

Entre os vossos dentes, obras de Paula Rego e Adriana Varejão
Até 22 de setembro
CAM – Centro de Arte Moderna da Gulbenkian
“A Paula Rego sempre me pareceu uma espécie de fada. Há qualquer coisa de encantatório no modo como ela pinta, um universo que é ao mesmo tempo feroz, fantástico e profundamente feminino. Fico hipnotizada. Esta exposição junta-a à Adriana Varejão, artista brasileira contemporânea que estou a começar, com muito prazer, a descobrir.”
Qrê Voltá
Novo álbum da Cachupa Psicadélica (lançamento previsto para finais de maio)
“Cachupa Psicadélica é um projeto musical que não se deixa agarrar, atira notas e melodias em todas as direções e, de alguma forma, acerta sempre. A música é hipnótica, experimental, melancólica e groovy. O crioulo cabo-verdiano repousa sobre estas melodias como se tivesse nascido para isso. Qrê Voltá (quero voltar) está para sair e eu espero como se esperasse uma tempestade bonita.”
“P.S: Escrevo estes textos enquanto ouço Amor Cavol, desta banda de piratas, em loop.”
A Expedição Rocambolesca do Professor Mariposa
Simon-Catelin e F. Soutif
O professor Óscar Mariposa e a sua ave palradora partem em busca da borboleta levana misteriosa, ameaçada de extinção. Será que a encontram ao longo das páginas deste livro, em que atravessam rios, lagos e ribeiras, montanhas, grutas e túneis, charnecas e florestas cerradas, e sobem ao cimo de árvores, moinhos e mastros de navios? Uma história em que os leitores também se podem transformar em exploradores (quem descobre a borboleta?) e que chama a atenção para a necessidade de proteger a biodiversidade, falando da importância das borboletas para o equilíbrio do planeta. Lilliput
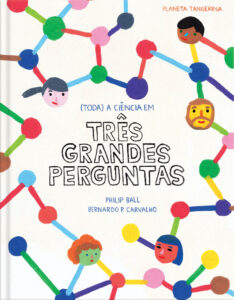
Três Grandes Perguntas
Philip Ball e Bernardo P. Carvalho
O título completo deste livro é (Toda) A Ciência em três grandes perguntas e fala disso mesmo com um à-vontade e uma aparente simplicidade, capazes (acreditamos) de conquistar os jovens a quem é dirigido. Numa edição com mais de 200 páginas, mostra-se como “a Ciência existe para nos ajudar a fazer mais e melhores perguntas” e não para nos dar todas as respostas, como habitualmente se espera. Sigamos os personagens que nos guiam por toda a informação aqui contida e defendamos a importância de confiar num cientista. Planeta Tangerina
O Tempo Corre Como Um Rio
Emma Carlisle
Tem bonitas ilustrações da natureza e dos animais que nela vivem, este livro que fala sobre o passar do tempo e as mudanças que ocorrem ao longos dos anos (até em nós). Um desafio à observação atenta de tudo o que existe ao redor, que, muitas vezes, muda sem nos apercebermos disso. É também um convite para nos sentarmos na margem de um rio e percebermos como são “comunidades efervescentes” onde podemos fazer descobertas incríveis – sem pressas, de olhos bem abertos. No final, há ainda sugestões de atividades para fazer ao ar livre, aproveitando cada momento. Fábula
As Aventuras do Dinis – o mini-biólogo
Dinis Rocha
Foi nas redes sociais que Dinis Rocha se deu a conhecer como o “mini-biólogo”, em vídeos em que nos dava a conhecer a sua paixão por animais. Agora, aos 12 anos, edita este livro em que escreve sobre “51 animais incríveis para descobrires”, que bem conhece, mas também dos 50 animais que gostava um dia de encontrar ou até dos animais que tem em casa. No tom solto a que já nos habituou, fala sobre segurança, dá dicas para quem quer ser explorador, defende a importância da defesa do ecossistema, conta os seus maiores sustos e também as piores mordidelas que já recebeu… Um livro cheio de boa disposição e com muitas curiosidades e informações interessantes – porque a Ciência não é só assunto de adultos e interessa mesmo a muitas crianças. Planeta Júnior
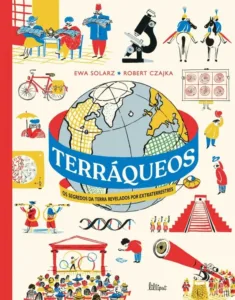
Terráqueos – os segredos da Terra revelados por extraterrestres
Ewa Solarz e Robert Czajka
Eis um “relatório” com tudo aquilo que os extraterrestres descobriram sobre nós e o nosso planeta. De forma divertida, quer no tom do texto, quer nas ilustrações, compilam-se nestas páginas muitas informações e dados, tão variados como a água e os animais, a anatomia e o modo de funcionamento do corpo humano e dos seus órgãos, os géneros e os relacionamentos, o tamanho e o peso dos seres humanos, os seus hábitos e até as suas fés e as suas incapacidades. Em letras pequenas, mesmo no final, vem um aviso discreto: “Hipótese estimada de sobrevivência da espécie Homo Sapiens – 50%”… Lilliput

O Clube dos Cientistas: Contrarrelógio
Maria Francisca Macedo
Há uma nova aventura dos irmãos Chico, Carlos e Catarina, em mais um volume da coleção O Clube dos Cientistas. Em contrarrelógio para entregar o trabalho final de Ciências, que não está a correr bem, veem-se a braços com uma explosão na estufa improvisada do diretor de turma. Um mistério para descobrir, num livro que alia o prazer da leitura ao gosto pela ciência. No final, existe um caderno de experiências para explorar e um “faz tu mesmo” para a criação de uma horta hidropónica. Booksmile

Doce Gotinha: Uma grande viagem
Inês de Barros Baptista e Alberto Faria
Começou por ser um disco e um espetáculo musical e transformou-se depois num livro, esta história de uma gota de água, que nasce e se estreia a chover, seguindo pelo mundo em aventuras até voltar à nuvem de onde saiu. Um projeto que procura despertar os mais novos para a importância da água enquanto recurso natural e a necessidade da preservação dos ecossistemas. O livro – com texto de Inês de Barros Baptista, adaptado de uma história original de Isaque de Andrade, e ilustrações de Alberto Faria – inclui um QRCode para se poder ouvir as músicas em streaming (a autoria destas é de Emanuel de Andrade e a narração é de Catarina Furtado e José Pedro Gil). Livros Horizonte
Aprender com Ciência: O Ciclo da Água
Aprender com Ciência: O Ciclo das Rochas
Catarina Pinheiro e Sara Paz
São os dois primeiros volumes de uma nova coleção dedicada à Ciência e dirigida às crianças que frequentam o 1.º e o 2.º ciclos. Em cada um deles, uma história ficcionada sobre o tema e, nas páginas seguintes, desafios, atividades práticas e propostas de exploração. De forma divertida e com a ajuda de muitas ilustrações, a informação pedagógica é transmitida nos textos da professora Catarina Pinheiro. A descoberta do mundo natural, pela mão de Gota de Água e de Grão de Areia, prontos a espicaçar a curiosidade dos leitores e a ajudarem-nos a ter metodologias de trabalho científico. Fábula

A Magia dos Oceanos
Gabby Dawnay e Mona K
Em cinco minutos, lê-se uma destas nove histórias em rima passadas no fundo dos oceanos. No final de cada uma, há informações sobre todos os animais e organismos que nadam por estas páginas: o Peixe-Palhaço, o Tubarão-Branco, a Baleia-de-Bossa, as Medusas, a Enguia Mágica, o Polvo, o Pinguim, o Cavalo-Marinho e a Tartaruga Marinha. Para explorar com curiosidade e descobrir a vida que fervilha dentro de água. Lilliput
Ganhou visibilidade nas Golden Slumbers (projeto que tem a meias com a irmã, Margarida, desde 2014), e tem colaborado com artistas como JP Simões, Marinho ou Samuel Úria. Em 2018, estreou-se nos discos a solo com One e, dois anos depois, lançou o EP Room for all. Em maio de 2024, Monday regressou aos álbuns com Underwater, feels like eternity. Um ano após esse lançamento, Cat (como é tratada no meio artístico) inicia uma digressão por salas intimistas. Em Lisboa, apresenta-se na Sala LISA, o cenário perfeito para mostrar, ao vivo, as suas canções melancólicas, que navegam por sonoridades entre a pop e a folk. As letras de Underwater, feels like eternity refletem sobre autoconhecimento, aprendizagem e alguma nostalgia. Um trabalho “profundamente íntimo, construído ao longo de quase dois anos e algumas lágrimas”.
Wolf Manhattan
16 de maio, às 21h30
Galeria Zé dos Bois
Monday sugere o espetáculo que Wolf Manhattan leva à ZDB no dia 16. Wolf Manhattan é uma criação de João Vieira (conhecido por projetos como White Haus ou X-Wife), uma persona folk-punk-garage que o compositor e produtor portuense criou durante a pandemia. Trata-se de um personagem que se desdobra em múltiplas facetas, tendo o primeiro disco, homónimo, saído em 2022, num formato que incluía também um livro e um jogo de tabuleiro. O segundo álbum, Real Life Is Overrated, foi editado o ano passado e é agora apresentado ao vivo num concerto que conta com a participação da própria Monday, que também colabora no disco, na canção Smoke Machine. “Escolhi este concerto porque gosto muito da música de Wolf Manhattan e porque vou participar [risos]”.
On Earth We’re Briefly Gorgeous
Livro de Ocean Vuong
“Recomendo muito o último livro que li, On Earth We’re Briefly Gorgeous, do escritor e poeta americano e vietnamita Ocean Vuong”. Autor da coletânea de poesia Night Sky with Exit Wounds, que recebeu vários prémios, Ocean Vuong publica regularmente em jornais e revistas como The Atlantic, Harper’s, The New Yorker ou The New York Times. Com edição portuguesa da Relógio d’Água, o livro recomendado por Monday foi publicado no nosso país com o título Na Terra Somos Brevemente Magníficos. Trata-se de uma carta de um filho à mãe que não sabe ler, e evoca o passado de uma família cuja história tem como epicentro o Vietname. “Este é o primeiro romance de Ocean Vuong, e é mesmo bonito, arrebatou-me”.

Entre os vossos dentes, obras de Paula Rego e Adriana Varejão
Até 22 de setembro
CAM – Centro de Arte Moderna da Gulbenkian
A última escolha recai sobre a exposição Entre os vossos dentes, que reúne obras de Paula Rego (Lisboa, 1935 – Londres, 2022) e Adriana Varejão (Rio de Janeiro, 1964), duas artistas de diferentes gerações (e continentes). A mostra inclui 80 obras de ambas, dispostas em 13 salas temáticas cenografadas por Daniela Thomas. “Escolhi esta exposição porque gosto muito do trabalho da Paula Rego. Quando era miúda, a pintura dela fazia-me impressão de um modo visceral, mas, à medida que fui crescendo, passei a identificar-me com as mensagens que ela passa de forma tão agressiva. Estou com muita curiosidade em visitar esta exposição”.
Pedro é quem começa. A poucos metros dela, a partir de uma aresta do quadrado suspenso do chão que compõe a cena, anuncia-lhe que acabou, que não se pode continuar “a adiar eternamente” a decisão de acabar. Gradualmente, o discurso vai-se tornando mais violento, “assassino”, como descreveria o encenador Nuno Gonçalo Rodrigues, que de Final do Amor diz ser, precisamente, “uma peça fria e assassina”.
O texto de Pascal Rambert chegou-lhe por vontade da atriz Inês Pereira. “E ainda bem que assim foi. Sinto um enorme alívio por ter sido ela a sugerir fazê-lo e não eu!”, confessa, apontando o estado de devastação emocional em que tanto a atriz como o seu par, Pedro Caeiro, terminam cada ensaio e, adivinha-se, cada récita.

É que, depois de ele estraçalhar sem contemplações a memória desse amor que já não existe, Inês responde. E não é meiga, longe disso, sobretudo a partir do momento em que vai à mais profunda fealdade de uma tríade de palavras “feias” para lhe anunciar que elas são como que o “retrato de ti no meu coração”. Aqui, “já estamos numa montanha-russa, os atores estão emocionalmente despidos, expostos perante a plateia e, devido ao dispositivo cénico [o tal quadrado suspenso] não têm onde se agarrar. É devastador”.
Chega então o momento de perguntar se haverá razão a assistir cada um deles? E quem ganha esta espécie de duelo derradeiro no “final do amor”? “Durante quase uma hora temos uma pessoa a dizer atrocidades na direção de outra sem que esta tenha algo que a proteja, nem sequer uma parede para se encostar ou uma cadeira para repousar o braço. Depois, isso volta a suceder, mas do outro lado. Portanto, e pelo que vamos percebendo por quem tem vindo a assistir a ensaios, parece ser uma impossibilidade tomar partido por um ou por outro.”

Embora exista essa “impossibilidade de nos posicionarmos, ora porque achamos que ele tem razão e ela está mal, como tão depressa percebemos que ele está a ser bruto e que ela é uma vítima”, Inês e Pedro são personagens onde se reconhece aquilo que o encenador define como “demasiada humanidade”. Perante o desnecessário e a brutalidade, eles são, como tantos outros, um casal em guerra, e como ele lhe lembra, deixando bem claro do que se trata quando o amor dá lugar ao ódio, “a guerra não é uma coisa engraçada”.
Do dramaturgo que escreve para os ‘seus’ atores
Final do Amor (Clôture de l’amour, no original), estreada com grande furor no Festival de Avignon em 2011, foi, à semelhança de quase todas as peças de Pascal Rambert, especificamente escrita para os atores, no caso, Stanislas Nordey e Audrey Bonnet. A relação do dramaturgo e encenador francês com os “seus” atores passa por uma escrita para intérpretes específicos, estando, entre muitos, as notabilizadas Emmanuelle Béart e Marina Hands ou os atores portugueses Beatriz Batarda e Rui Mendes, que protagonizaram, em 2018, Teatro, espetáculo encenado por Rambert no Teatro Nacional D. Maria II.
O texto, que os Artistas Unidos levam agora à cena, foi o que consagrou internacionalmente Rambert, tendo sido encenado em mais de uma dezena de países, dos Estados Unidos à China. Em Portugal, podemos conhecer duas versões: a de Victor de Oliveira, traduzida e interpretada pelo próprio e Gracinda Nave, em 2016; e a de Ivica Buljan, com Pia Zemljič e Marko Mandić, no Festival de Almada em 2018.

A tradução de Victor de Oliveira (publicada nos Livrinhos de Teatro) é, precisamente, a que serve a atual versão. “Procurando manter o mais possível a tradução, fiz sobre ela uma versão cénica que traduz muito da forma obsessiva com que me envolvi neste trabalho”, conta Nuno Gonçalo Rodrigues. “O objetivo foi, sobretudo, manter uma certa ambiguidade, muito presente na versão original em francês, e que em português nem sempre é possível. Acho que o espetáculo precisava disso, mais a mais, sabendo que o texto foi escrito para atores específicos e a Inês e o Pedro o estão a receber com essa desvantagem.”
Deste modo, o encenador sublinha “o intenso trabalho de adaptar ao corpo e à voz de quem agora diz aquelas palavras a tradução do Victor, pensando que tal como a peça original foi escrita para determinados atores, também a tradução foi feita para ser dita, no caso, pelo próprio Victor e pela Gracinda”.
Outro aspeto a que Nuno Gonçalo Rodrigues deu especial atenção foi à dualidade sempre presente no texto deste resvalar de “uma certa poesia, de um registo mais erudito e intelectual, para a maior banalidade, para o corriqueiro e para múltiplos estrangeirismos”. Um dos exemplos que aponta com especial graça é a evocação do mito de Orfeu e Eurídice surgir “de repente, entre um welcome, welcome ao meu mundo“.
Servido por dois atores “absolutamente incansáveis”, que fazem do texto autenticamente seu, Final do Amor prepara-se para arrebatar plateias a partir de dia 9, no Teatro Meridional, mantendo-se em cena até 25 de maio.
Quem nunca teve vontade de arrumar as meias na gaveta sem as dobrar? Quem nunca se esqueceu de devolver o tupperware que trouxe de casa da mãe ou nunca lhe perdeu a tampa? É destes e de outros pormenores que se faz o quotidiano familiar de todos nós – e também da atriz e encenadora Raquel Castro, que os põe agora em palco.
Depois da estreia em 2023, em Tomar, e de ter estado já em vários concelhos do país no âmbito da Odisseia Nacional do Teatro Nacional D. Maria II, o espetáculo As Castro chega à nova Sala Estúdio Valentim de Barros, nos Jardins do Bombarda, onde fica de 8 a 18 de maio. A partir da pesquisa da sua árvore genealógica, Raquel volta a criar uma peça de autoficção, em que, falando de si, fala connosco e, também, de nós.

“Quando decidi fazer a minha árvore genealógica, tive a intuição de que me podia dar pistas para alguma coisa”, começa por dizer. Esse foi o ponto de partida deste espetáculo, em que, na companhia dos atores Sara Inês Gigante, Sara de Castro, Tânia Alves e Tónan Quito, desenrola uma enorme folha de papel com mais de 200 nomes dos seus antepassados. “Queria perceber se o que sou hoje é o reflexo das pessoas que vieram antes de mim e rapidamente entendi que sou mais fruto da minha mãe e da minha avó do que propriamente dos pentavós que tenho”, conta Raquel.
Uma história maior
Em As Castro recua a uma tetravó que se casou com um tio e a uma bisavó que enviuvou e ficou responsável pela Latoaria Ferrão, em Lisboa, olhando a condição feminina das mulheres que vieram antes de si. Mas é sobretudo da relação com as duas ascendentes mais diretas que Raquel fala em palco. Do envelhecimento da avó e dos cuidados que isso implica ao envelhecimento da mãe e àquilo que as afasta e aproxima – tal como dá por si a repetir à filha o que ouviu da mãe ou a discordar dela por terem diferentes formas de encarar a vida (será mesmo preciso dobrar as meias antes de as pôr na gaveta…?). O que se herda, o que se quer mudar, aquilo em que nos revemos ou que recusamos, disso tudo se faz este olhar para trás. “É uma personagem à procura de si própria, enquanto vai desenterrando o passado”, comenta a atriz e encenadora. Um passado feito de algumas surpresas, boas descobertas, algumas feridas e muitas dúvidas.
Recorda Raquel Castro que esta criação acabou por ser atravessada pela realidade dos constrangimentos da pandemia e pela doença da avó. Não foram momentos fáceis, reconhece, mas fazer o espetáculo ajudou-a a geri-los – “escrever este texto apazigua-me”, revela em cena. “Ao mesmo tempo que este trabalho serviu como desculpa para me afastar dessa realidade, foi uma forma de refletir sobre ela e de, na verdade, estar mais próxima dela”, explica.
As Castro constrói pontes entre várias gerações – sejam elas passadas ou futuras. Raquel é bisneta, neta e filha, mas também mãe e, um dia, muito provavelmente, avó, bisavó, trisavó… “Através de histórias muito pessoais, quis que este espetáculo contasse, de alguma forma, uma história maior”, afirma. Em palco, estão as Castro, sim, mas estamos também todas nós e todas as nossas. Com outros apelidos, as Castro somos nós.
Desenhado para famílias e crianças, esta produção da CiM – Companhia de Dança pretende descomplicar e desconstruir a cegueira. “A ideia que esteve na base da criação de Uma Outra Forma foi precisamente mostrar que é possível falar sobre deficiência visual de uma forma leve e prática. Como tal, todo o espetáculo foi construído a partir de perguntas que me foram feitas por crianças em vários momentos da minha vida”, afirma Joana Gomes, criadora e intérprete.
“Além de dar às crianças um lugar para fazer questões, o objetivo de Uma Outra Forma é fazê-las perceber que a cegueira e o braille não são ‘bichos-de-sete-cabeças’; que, de uma forma artística e lúdica, é possível abordar vários temas que, de início, podem parecer pesados e densos”, acrescenta.

O ponto de partida para este espetáculo foi, aliás, a história de vida de Louis Braille, criador do sistema de escrita e leitura tátil para pessoas cegas ou de baixa visão. Assim, numa viagem cheia de dança, fascínio, movimento, letras e palavras, Joana e Maria Inês Costa, cocriadora e intérprete, homenageiam o seu importante contributo para a vida das pessoas com deficiência visual, ao mesmo tempo que ensinam que, mesmo não conseguindo ver nada, é possível ver-se tudo. Basta, para isso, fazê-lo de uma outra forma.
“Tu não vês mesmo nada, Joana?!”
O espetáculo, que conta com dramaturgia de Rosinda Costa, nasceu de um desafio lançado pela Quinta Alegre – Um Teatro em Cada Bairro, com o objetivo de promover o trabalho de artistas com deficiência, numa altura em que Joana “andava com a ideia de criar um projeto sobre a deficiência visual dedicado aos mais novos”.
“Nas vezes em que trabalhei em contexto de sala de aula, percebi que havia muitas dúvidas, que as crianças têm sempre muitas perguntas e que, muitas vezes, não têm um lugar onde possam colocá-las”, diz a criadora, sublinhando que “havendo ausência desse espaço, não ficam devidamente esclarecidas e desenvolvem a impressão de que a cegueira é um tabu”.
No final do espetáculo, que acontece a 10 de maio, às 14 horas, há espaço para interação com o público e as crianças podem também experimentar o braille e esclarecer as suas dúvidas, “sem filtros e sem tabus”.
A entrada é gratuita, mediante reserva de bilhetes para umteatroemcadabairro.corucheus@cm-lisboa.pt.
Depois de ter refletido sobre a solidão em tempo de redes sociais com a peça Glory Hole, Tiago Torres da Silva está de volta ao teatro com o inédito Do outro lado do muro. A peça, que se estreia a 8 de maio no Variedades, conta a história de Rodrigo, um cantor de sucesso que durante um concerto sofre um grave acidente. Confrontado com a irreversibilidade da deficiência motora, o protagonista vai ter de se redescobrir, encontrando na mãe o seu maior suporte. O espetáculo conta com o apoio da Associação Salvador, entidade que promove a inclusão de pessoas com deficiência motora, fundada por Salvador Mendes de Almeida em 2003.
Tiago Torres da Silva é, além de premiado dramaturgo, encenador e escritor, um dos mais profícuos poetas e letristas de fado, tendo sido cantado por vozes tão notáveis como Carminho, Ana Sofia Varela, Ricardo Ribeiro e Camané. Também do outro lado do Atlântico, no Brasil, nomes como Maria Bethânia ou Ney Matogrosso já cantaram a sua poesia.
Moreno Veloso
Teatro Maria Matos, 7 de maio
O talentoso filho de Caetano Veloso apresenta-se mais uma vez em Portugal com a delicadeza e a alegria com que a sua voz doce nos brinda em todos os concertos.
Eutanasiador
Teatro da Trindade, a partir de 8 de maio
Encenado por Diogo Infante, este texto de Paula Guimarães promete incomodar o público numa interpretação de Sérgio Praia que se prevê antológica.

Nani Medeiros
Fama d’Alfama, 9 de maio
A brasileira mais portuguesa que conheço e dona de um talento incrível apresenta o seu espetáculo onde transita pelo fado e pelo choro com a mesma naturalidade. Além disso, no Fama d’Alfama janta-se maravilhosamente.
Final do Amor
Teatro Meridional, a partir de 9 de maio
O texto de Pascal Rambert ganha encenação de Nuno Gonçalo Rodrigues e isso já é razão mais que suficiente para que eu não queira perder este espetáculo porque o Nuno é um artista que me inspira e incomoda.
Todos queremos uma casa para os Artistas Unidos.

Festival Indielisboa
Até 11 de maio
Na programação do Indielisboa não posso deixar de destacar o documentário Memórias do Teatro da Cornucópia [filme de Solveig Nordlund], no dia 11, às 18h30, na Culturgest. É como se estivessem a mostrar-me a minha juventude.
paginations here




