Comecemos pelo nome: porquê Wolf Manhattan?
A ideia partiu de uma história que inventei, de um miúdo que vivia com o tio num apartamento em Nova Iorque e que, a dada altura, decide gravar canções numas cassetes que ficam perdidas no tempo e que acabam por ser encontradas anos mais tarde. Associei esta ideia à figura do lobo enquanto animal solitário, que se afasta da alcateia e se isola. Peguei nessa ideia do lobo isolado num mundo à parte, e em Manhattan como sendo o local onde ele se inspira e acaba por gravar as canções. Nova Iorque é uma referência para mim em todos os meus projetos. É uma grande influência, não só musicalmente, mas a todos os níveis culturais, desde o Woody Allen ao Andy Warhol, dos Velvet Underground aos LCD Soundsystem, tudo isso são referências. Tenho um apreço especial por Nova Iorque, onde fui sempre muito bem recebido com os meus outros projetos.
Esta personagem nasceu durante a pandemia. Foi um período criativo para ti?
A ideia nasceu de um conjunto de fatores. Não foi só o facto de estar sozinho e de ter tempo para refletir. Quando, seja por que motivo for, quebramos um ritmo ou uma rotina, acabamos por alterar os nossos hábitos e acho que isso aconteceu com a pandemia. Com os meus projetos – White Haus e X-Wife – ao estarmos distantes uns dos outros, cada um em sua casa, isso fez com que começasse a virar-me para outras coisas, foi inevitável. Algumas das canções já estavam escritas há algum tempo, mas não se enquadravam nos meus outros projetos, já que a estética é diferente. No entanto, quer a minha namorada, quer o André Tentúgal [produtor do disco] disseram-me que tinha de fazer alguma coisa com estas canções…
O disco ilustra um pouco a ideia do it yourself, com poucos instrumentos…
Houve duas fases: na primeira gravei o disco todo sozinho em estúdio. Quando tinha à volta de 20 a 25 canções apresentei-as ao André, que produziu o disco comigo. Olhámos para elas, vimos quais é que tinham potencial e aquelas que não acrescentavam nada. A ideia era ter uma boa seleção de músicas de forma que o disco fosse variado. Levámos 18 canções para estúdio e dessas escolhemos 13. Com o André em estúdio, conseguimos trabalhar as canções e potenciá-las ao máximo a nível de cuidado com a voz e os arranjos… foi importante ter alguém do outro lado, ter uma visão de fora. Quando estamos demasiado compenetrados perdemos noção de algumas coisas.
O vídeo do single Voices in my Head conta com realização do André Tentúgal. Qual a ideia por trás?
A capa do disco foi feita pelo ilustrador inglês Toby Evans-Jesra, cujo trabalho admiro e que convidei para este projeto. Ilustra um teatro onde estão algumas personagens a assistir a um espetáculo. Há um coelho e um crocodilo, que são os protagonistas do vídeo. A pensar nos vídeos, mas também nos concertos, pedi a uma artista do Porto chamada Madalena Martins que criasse as cabeças dos bonecos. Depois falei com a Matilde Ramos para criar o cenário. Surgiu então a ideia de criar um concurso de talentos onde os concorrentes só fizessem disparates. No final do vídeo, eu, o coelho, o fantasma e o crocodilo vamos embora juntos numa carrinha e formamos uma banda. A ideia era criar algo que se identificasse com o som e com toda a estética.
Há, aliás, um cuidado muito grande com essa parte estética. A própria capa do disco é um jogo…
Gosto muito de jogos de tabuleiro. Por norma, o tabuleiro é desdobrável. Lembrei-me de trazer isso para o disco, até porque tinha o tamanho ideal para fazer uma espécie de Jogo da Glória. Sempre achei o Jogo da Glória muito aborrecido porque só tem a ver com sorte, não tem estratégia nenhuma. Aqui criei cartões que têm perguntas sobre as canções. Há todo um universo que foi pensado: o jogo, os personagens, o próprio espetáculo em palco vai ser uma mistura entre uma peça de teatro e um concerto. Não quero que seja simplesmente um concerto onde estou vestido de forma banal. Há toda uma performance, uma indumentária, um cenário montado… entusiasmei-me com o projeto e fui criando ideias… tenho visto alguns projetos que me dão a sensação de que as pessoas não se esforçam. Em festivais, por exemplo, acontece muito estar a banda em palco a debitar canções e não dá mais nada para além disso. É um bocado preguiçoso. Para mim é importante fazer as coisas com algum brio e entusiasmo.

O disco saiu a 22 de setembro e tem uma edição em vinil. É um objeto de particular importância para ti?
Para lançar o disco em vinil tinha de ser um objeto apetecível e foi isso que tentei criar com o jogo e com as personagens. Não é só um disco feito com qualidade, há mais para além das canções. Atualmente acho que não se pode apenas lançar o disco em vinil e esperar que as pessoas comprem, se também têm acesso à música nas plataformas digitais. Fico muito desiludido quando compro um vinil caro e não traz nada lá dentro, nem sequer as letras. Fico a pensar que gastei tanto dinheiro no objeto, que mais valia ter comprado o CD. Compro música nos vários formatos: digital, CD e vinil. Se for música para passar nos meus dj sets compro digital, se for para ouvir em casa depende do preço: se o vinil for o triplo do CD prefiro comprar o CD. Se o vinil for uma peça incrível e intemporal, então compro o vinil. O vinil vende muito os álbuns clássicos como Nirvana, Fleetwood Mac, Pink Floyd…
Para além do disco, há também um livro. Podes explicar melhor o conceito?
As ideias foram-se desenvolvendo à medida que foram acontecendo. Quando descobri este ilustrador inglês, Toby Evans-Jesra, surgiu a ideia de fazer uma fanzine, mas achei que era giro publicar um livro. Apresentei a ideia à editora independente Stolen Books, o que me permitia também chegar a outro público. Não quero que este projeto esteja fechado só no público da música. Aqui estou a jogar em muitas frentes: no livro, no jogo, na música… não estou só a limitar-me a dar um concerto. O livro conta a história toda do lobo, de como ele conhece o manager – que depois tem uma ligação ao concerto. Pedi então ao Toby que fizesse 20 ilustrações. É um livro ilustrado impresso em risografia, numa edição limitada e numerada, é uma edição de artista, uma peça que não é suposto vender milhares de exemplares. É tudo um pouco underground, mas espero que cresça porque acho que tem potencial.
Que feedback tens tido?
É curioso porque achava que o disco era para um certo tipo de público, mas tem chegado a um público que não estava à espera. Tenho recebido mensagens e comentários nas redes sociais de pessoas que estão ligadas a outros géneros musicais e que gostaram bastante. Isso foi surpreendente porque achei que estava a fazer isto para um certo tipo de público e depois agarrei outro. Há pessoas que me dizem que este é o meu melhor trabalho até à data. Para mim é muito importante, porque edito discos há 20 anos e isso é altamente motivante. Tenho tido feedback de muito público de várias idades, mas penso que tem sido honesto. Há pessoas que não se identificavam tanto com a linguagem de White Haus, que é mais eletrónica, mas identificam-se com Wolf Manhattan.
No dia 28, apresentas este novo conceito na ZDB. O que estás a preparar?
Vou apresentar essencialmente o disco, mas não só. Vou também tocar músicas inéditas até porque este disco só tem 30 minutos, não dá para sustentar um concerto. Há canções que foram editadas de forma a caberem no disco, e que ao vivo terão uma versão mais alargada, vão crescer um pouco. Gosto de quando os concertos não são exatamente iguais aos discos, quando os músicos fazem introduções e mudanças a meio. Vai haver também uma ou outra surpresa que não posso revelar… O primeiro concerto ao vivo vai acontecer na ZDB. Eu queria espaços que conseguissem captar um pouco esta imagem da capa: um teatro acolhedor, onde há alguma proximidade com o público, com um palco que não fosse muito grande, as cortinas vermelhas. O ambiente que quero recriar implica uma sala especial. Houve esse cuidado, e a ZDB enquadra-se na perfeição. Será ainda criado um cenário que recria este imaginário. O André Tentúgal também estará comigo em palco. Vamos estar em personagem, vai ser uma espécie de uma peça, não vai haver comunicação com o público. É uma performance, um espetáculo com princípio, meio e fim. A própria sonoridade e as luzes têm de se adaptar ao espaço e ao tipo de espetáculo. Estou a pôr as fichas todas neste projeto [risos].
A sua vida é indissociável da música. Lembra-se de alguma vez ter procurado viver de outra coisa?
Não. Comecei a tocar piano aos oito anos, mas desisti porque era muito maçador. Nos primeiros anos de aprendizagem praticamente não se toca, é só aprender solfejo e fazer escalas. Passei para a viola aos 10 e percebi logo que era isso que queria fazer.
Mas havia algum incentivo familiar, ou foi algo totalmente natural?
Em minha casa ouvia-se muita música. Comecei a aprender piano porque o meu pai achava ser importante na minha formação. Quando passei para a viola percebi que havia amigos meus com 10, 11 anos que também tocavam e que seria giro ter um grupo – algo que veio a acontecer quando eu tinha 14. Nessa altura já eu ouvia Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan…
Então tinha o apoio da sua família?
Lembro-me de termos conversas em que o meu pai dizia que isso era tudo muito bonito, mas que os estudos eram o mais importante. Ele fazia questão que eu tirasse um curso superior. Mais tarde, quando estive em Inglaterra, acabei por estudar Psicologia porque não sabia qual seria o meu futuro e o mercado em Inglaterra é muito mais complicado do que em Portugal. Lembro-me de passar no metropolitano e de ver pessoas a tocar que, se fosse em Portugal, seriam superestrelas. Tive logo a perceção de que ser músico em Inglaterra seria muito difícil. O acordo que tínhamos era esse: podia dedicar-me à música, mas os estudos estavam em primeiro lugar.
Cantor, compositor, produtor, editor, descobridor de talentos… afinal como é que se define?
Como músico. Comecei como músico (viola, viola baixo, contrabaixo), mas depois a minha grande paixão começou a ser compor. À medida que ia ouvindo canções e que ia crescendo, ia percebendo melhor o que estava a ouvir. A princípio ouvia e tentava copiar, nem prestava muita atenção às palavras, não tinha maturidade para isso. Quando comecei a tocar em grupos percebi que o que era interessante era a parte criativa, de escrever música.
É autor de muitos êxitos de sucesso dos mais variados artistas…
70% a 80% das músicas que escrevi foram para outras pessoas. Dá-me sempre imenso prazer entrar na pele dos outros, tentar percebê-los enquanto cantores e intérpretes, mas também seres humanos. Nos anos 70, quando o Carlos do Carmo me começou a pedir canções, eu já sabia que tinha de escrever uma coisa próxima do Fado. Ele era realmente um intérprete fabuloso, que podia cantar Frank Sinatra tão bem quanto cantava Alfredo Marceneiro. Escrever para o Carlos do Carmo implica entrar na pele dele, no mundo dele. Escrever para as Doce, por exemplo, era completamente diferente, mas era precisamente isso que me apaixonava. Conhecer as pessoas, perceber para onde queriam ir. Quando vinham ter comigo acontecia uma coisa curiosa: geralmente, era porque queriam dar um novo rumo à carreira.
Pediam-lhe que escrevesse algo específico?
Às vezes eram encomendas completamente abertas, perguntavam-me se eu tinha alguma coisa na gaveta, mas eu nunca tinha, porque escrevo sempre de propósito para alguém. Por vezes, sobrava uma ou outra. Aconteceu-me com a Ana Moura, há pouco tempo, ela pedir-me uma canção, eu escrever três e ela usar uma. As outras duas que sobraram foram para a gaveta. Aí sim, ficam na gaveta coisas que eu escrevi para uma pessoa e que acabam por ir parar a outra. Mas não gosto de escrever sem saber para quem é. Não consigo escrever uma canção e ficar à espera que alguém a queira usar. Havia pessoas que eu não conhecia e que me telefonavam a dizer que gostavam de cantar uma canção minha.
Recorda-se de alguma encomenda mais inusitada?
Tive várias, algumas muito conhecidas. Aconteceu com o Vítor Espadinha, no final dos anos 70. Ele era ator, nunca tinha cantado. Quis ir à Visita da Cornélia [concurso da RTP1 emitido em 1977] e uma das provas consistia em cantar. Escrevi-lhe uma canção que se chamava Palhaço até ao Fim, em que ele estava em frente a um espelho e se ia maquilhando enquanto cantava. Era uma canção muito triste que falava de quem estava naquela profissão por fatalidade e não por prazer. Ele não cantava, mas foi aprendendo. Entretanto, ficou desempregado porque foi afastado do teatro por razões políticas e pediu-me ajuda. Ele tinha uma voz excecional, era um diseur fantástico, mas precisava de treino. A influência para o Recordar é Viver foi o Joe Dassin, e a fórmula foi essa: escrever uma letra onde ele tinha, sobretudo, de falar e que tinha um refrão pequeno, com o apoio de um coro feminino. Esta canção nasceu da necessidade do Vítor cantar porque estava desempregado e vendeu meio milhão de cópias. Outra situação com piada foi uma encomenda da Adelaide Ferreira, para quem escrevi Papel Principal. Ela tinha-se zangado com o namorado da altura e pediu-me uma canção de raiva, de um amor que acabou. Disse-me que, musicalmente, queria algo que soasse a uma balada dos Scorpions. Ela adorou a canção, entrou no primeiro disco dela e ninguém ligou nada. 15 anos depois, queriam usar a canção numa novela, mas disse-lhe que não fazia sentido usar a versão de 1983, porque estava datada. Decidimos convidar a Dulce Pontes para fazer um dueto e foi essa versão que acabou por entrar na novela. Foi aí que a canção ganhou um novo balanço e caiu em tudo o que era karaoke deste país [risos].

Escreveu mais de 500 canções. Consegue eleger uma que seja mais especial?
Não. Cada uma tem as suas especificidades e a sua forma de escrita. O que eu escrevi para o Quarteto 1111 nos anos 70 não tem nada a ver com o que escrevi para as Doce nos anos 80, ou para a Ana Moura, recentemente.
O próprio processo de escrita mudou…
Tenho uma teoria que vou defender até morrer: todas as canções são canções de amor. Seja amor romântico, amor pela paz, pela liberdade, pela preservação do planeta, pelas causas sociais… mesmo quando se canta contra uma coisa, está-se a cantar a favor de outra. Se cantas contra a pobreza, estás a afirmar que queres que as pessoas sejam felizes e que não sejam pobres. Tudo é amor de alguma forma. Podemos estar a cantar o desamor, mas ao mesmo tempo estamos a cantar o amor. Isto foi sempre o que norteou as minhas canções e isso percebe-se. O tempo só as marca porque a realidade que as rodeia é outra, seja em termos políticos ou sociais. As canções têm um tempo e percebe-se em que tempo foram escritas. Pelo som, consigo perceber em que década é que uma canção foi escrita. Raramente me engano [risos].
O mercado português é pequeno para os novos talentos?
Uma das coisas que me faz confusão neste mundo da música – e que se estende também a outras áreas – é a concorrência desenfreada e sem qualquer sentido, porque há espaço para toda a gente. As coisas começam a ser perigosas quando as pessoas se começam a copiar umas às outras. A vitória do Salvador e da Luísa Sobral no Festival da Canção, e depois na Eurovisão, foi um marco na história da música portuguesa. A Luísa escreveu uma canção brutal, lindíssima, que o Salvador interpretou com grande doçura e envolvência. Depois disso, toda a gente quis cantar como o Salvador Sobral mas, quando se começa a imitar, estraga-se tudo e poucos conseguem ter sucesso. Gosto de pessoas criativas e inovadoras. Para mim, uma coisa fundamental é reconhecer imediatamente a pessoa que está a cantar. Essa é a maior característica que um artista pode ter. Eu, o Jorge Palma, o Sérgio Godinho, o José Cid ou o Rui Veloso, por exemplo, começámos todos por ser músicos e só depois é que passámos a escrever canções e começámos a cantar. Qualquer um destes nomes é único. Quando os ouvimos sabemos exatamente quem está a cantar. Enquanto fui presidente de duas companhias discográficas sempre procurei artistas que fossem únicos, diferentes, que não fossem cópias de outros. A Carolina Deslandes tem um talento incrível, mas está a marcar uma geração de mulheres que cantam todas da mesma maneira. Temos mulheres a cantar lindamente, com vozes incríveis, mas que copiam a Carolina na forma de cantar e de escrever canções.
O ano passado, vários artistas juntaram-se para o homenagear em disco, partindo de uma ideia de sua mulher, Inês Meneses. Foi uma surpresa inesperada?
Foi uma surpresa, uma prenda dos meus 70 anos. Fui envolvido no processo já quando o comboio ia em andamento. A Inês teve essa ideia e falou com o Benjamim e o João Correia [produtores do disco]. A partir daí, fizeram convites a alguns artistas e as canções foram distribuídas. A Inês fez uma pré-seleção de 50 músicas e depois as pessoas escolheram a canção de que mais gostavam. Algumas das canções que acabaram por ir para o disco nem sequer estavam na lista. Foi o caso da Eva, cantada pela Catarina Salinas, e do Depois de ti, interpretada pelo Tomás Wallenstein, o que foi uma surpresa absoluta para mim e para a Inês. Houve escolhas inesperadas e outras mais óbvias, como a do Camané com a canção Retalhos, porque ele tem um respeito enorme pelo Carlos [do Carmo]. Mas, é o conjunto tão diverso que faz a riqueza deste disco.
Houve alguma das versões que o tenha surpreendido mais?
É uma pergunta ingrata, porque todas as versões estão fabulosas, mas a Catarina Salinas fez uma versão incrível do Eva – uma canção que ninguém conhece e que está perdida num álbum meu [Adeus até ao meu regresso]. O António Zambujo fez uma versão inovadora do Não hesitava um segundo, uma balada muito bonita que escrevi para o primeiro álbum da Ana Moura e que ela transformou num fado. A Olá, então como vais? do Benjamim e do B Fachada é divertidíssima. Gravei-a com o Paulo de Carvalho em 1979 e demos-lhe uma carga muito mais dramática, com um arranjo orquestral e pomposo. O Camané fez uma versão do Retalhos, que o Carlos do Carmo tinha cantado a capella, que é genial. Mas é injusto estar a falar de umas canções e não de outras porque são todas surpreendentes. Isso foi a parte boa de ouvir este disco, porque foram todos de uma generosidade incrível. Entregaram-se completamente ao trabalho e senti que foi um prazer terem feito este disco, o que para mim é uma grande alegria.
No dia 13 de outubro, o disco sobe ao palco da Altice Arena…
Vamos ter muitas surpresas, outras versões que não estão no disco. Vamos cantar, por exemplo, um tema que escrevi com o Jorge Palma para a série da RTP, Zé Gato. O Benjamim lembrou-se que poderíamos apresentar uma versão neste concerto. Vamos também cantar algumas canções das Doce, até porque a Helena Coelho também estará connosco em palco.
Este disco sabe a pouco, ficaram muitas canções marcantes de fora. Há planos para um segundo?
Nunca se sabe, mas os meus planos imediatos passam por outras coisas agora. Estou a trabalhar num livro de ficção, um sonho que tenho andado a adiar porque requer tempo e disciplina. Houve momentos da minha vida em que pensei que era a altura certa, mas depois acontece alguma coisa e… lá voltam as canções [risos]. Atualmente estou na SPA [Sociedade Portuguesa de Autores], onde adoro estar, tenho imenso respeito pela causa, é algo que também me diz respeito a mim. Mas nunca tive nenhuma altura da minha vida em que tivesse um ou dois anos livres para me dedicar só à escrita. Já tenho a história delineada, ainda não estou numa fase muito adiantada, mas o processo está a andar. Estar a escrever canções e dedicar-me ao livro é uma tarefa difícil para mim. Quando me concentro numa coisa não gosto de me dispersar, por isso agora não estou a escrever canções. Espero ter o livro acabado até ao fim do ano que vem, mas quando terminar este projeto tenho outras ideias no bolso, até porque parar é morrer. Não tenho, no meu horizonte, a ideia de parar de trabalhar.
Nestes 20 anos, e em modo de balanço, como classifica o papel do Doclisboa no panorama cinematográfico português?
Tem tido um papel muito importante. Em primeiro lugar porque o Doclisboa surgiu quando muitos cineastas que faziam documentário em Portugal estavam a viver um momento de novidade e vitalidade. Destacavam-se nomes como Catarina Mourão ou Catarina Alves Costa, que faziam um tipo de filmes que precisavam de um espaço para serem mostrados. Eram documentários que estavam longe das lógicas de exibição em televisão e que se adequavam mais ao cinema. Com este momento que se vivia no cinema português a Apordoc – Associação pelo Documentário, da qual também fazem parte vários cineastas, respondeu criando o Doclisboa. Entre o que acontecia no cinema português e o surgir do festival, estes novos cineastas criaram uma diversidade no documental e alteraram as formas de nos aproximarmos ao real. O Doclisboa também descomplexifica ao apresentar o documentário como um espaço de liberdade para nos relacionarmos com o real.
A celebração desta data traz algum tipo de reformulação ou novidade?
Naturalmente, faz-nos pensar no que nos trouxe aqui e para onde queremos ir. O facto de serem 20 anos fez-nos pontuar a programação de forma diferente ou estarmos mais despertos para certas revelações. Temos este ano, pela primeira vez, uma abertura que marca este espaço de celebração de uma forma mais evidente. Convidámos a Lula Pena, que é próxima do festival sobretudo como espetadora, a construir algo para apresentar neste aniverário do Doclisboa, o que será um ato musical muito especial. E também a exibição do filme da Lucrecia Martel [Terminal Norte], que é música pura e um extravasar através da dança, do ritmo… A partir daí apresenta-se a história de um lugar, neste caso da Argentina, revelando questões pós-colonialista, de género… É um chegar ao mundo a partir de uma reverberação dos corpos. Esse pulsar faz parte da forma como imaginamos o Doclisboa: uma festa e também uma relação viva com o mundo. Uma crença no pulsar de um mundo que nos pode mobilizar. Assinalamos ainda os 20 anos com a apresentação de uma galeria digital, lançada a 1 de outubro, para a qual escolhemos vários cineastas que fizeram parte da história do Doclisboa – são mais de 100 e contribuem com 20 segundos dedicados ao que quiserem.
O cinema português está em grande destaque quer na competição quer em outras secções do festival. Sente que a presença portuguesa no Doclisboa tem uma maior expressão?
Não diria maior, mas sim muito importante e relevante dentro daquilo que é o fazer documentário em Portugal, na forma como acolhemos esses filmes e os mostramos no Doclisboa. Algo que sempre nos interessou e que temos vindo a fazer é ter a presença de cinema português em todas as secções, e não apenas na Competição Portuguesa. É fundamental, porque para nós é importante compreender de que forma é que em cada secção, dentro daquilo que é a sua premissa, o mundo se relaciona através do cinema com as artes, com o presente ou com a história, mas também compreender de que maneira o cinema português está a olhar para essas várias questões. Perceber como é que em Portugal os vários cineastas estão a olhar para o nosso tempo. É uma alegria para nós que, este ano, estejam presentes 44 filmes nacionais.

Esta edição do Doclisboa é dedicada a Jean-Luc Godard. De que forma celebram o cineasta?
Godard teve a liberdade de dizer sempre o que quis e transformar, ou ampliar, as possibilidades do cinema experimentando, fazendo. Isso está no festival, e o festival apresenta esta programação porque houve cineastas como o Jean-Luc Godard. Para nós é inevitável homenageá-lo. Depois há também dois filmes na programação que lhe são dedicados, que estavam programados [antes da morte do cineasta franco-suiço], porque na realidade ele já nos inspirava. Apresentamos, na secção Heart Beat, Godard Cinema de Cyril Leuthy, que inclui várias entrevistas com o cineasta, revelando o traço da sua obra e a forma como o seu pensamento sobre o cinema se foi transformando e desconstruindo; e na secção Riscos, See You Friday, Robinson de Mitra Farahani, um encontro entre Godard e Ebrahim Golestan através de vídeo cartas. Um desafio que a realizadora fez aos dois cineastas para que todas as sextas-feiras, alternadamente, se correspondessem. O filme acompanha essa correspondência.
Do programa faz parte uma retrospetiva dedicada ao realizador Carlos Reichenbach (1945-2012) autor de uma obra vanguardista, que surgiu em plena ditadura militar brasileira. A escolha deste nome foi influenciada pela atual conjuntura política e social no Brasil?
Quando pensamos em retrospetivas pensamos na relação que os filmes apresentados podem ter com o presente. Carlos Reichenbach começou a fazer filmes que eram profundamente provocadores e instigantes durante a ditadura militar no Brasil. Foi nesse espaço que ele utilizou o cinema como libertação, quer do corpo (é um cinema que trabalha com o pornográfico), como do género e de uma série de emoções que são formas de formatação. Por isso, o seu cinema foi marginal e de muito difícil acesso. Apresentar essas imagens hoje, no momento em que o Brasil atravessa, parece-nos inspirador e um diálogo importante entre a história e o presente. Mas também muito divertido, porque acreditamos no poder lúdico de relação com o mundo.
A questão colonial serve também de mote a uma retrospetiva. Qual o ponto de partida para este programa e que linhas são abordadas?
Esta retrospetiva dialoga com uma questão fundamental do nosso tempo: percebermos melhor tudo o que se passou depois dos períodos coloniais. No início das independências, houve muitos cineastas de territórios que tinham estado sob formas de colonialismo que utilizaram o cinema para discutir política, para questionar de que maneira a construção de uma imagem pode influenciar a visão de um povo. Houve também alianças entre cineastas vindos de fora que trabalharam com cineastas de antigas colónias. Ver este mapa, estas narrativas que foram construídas é a nossa proposta. Perceber de que forma o cinema foi um construtor de imagens, ainda que esses filmes tenham sido pouco vistos. Conhecemos muitos mais filmes sobre o que se passou nesses locais, do que filmes feitos por quem lá estava. O objetivo é trazer esses filmes e cineastas para a discussão.
O projeto educativo é uma das importantes vertentes do DocLisboa. Qual lhe parece ser o seu impacto na criação de novos públicos.
Acreditamos e temos a certeza de que o facto do público do festival ser muito jovem tem a ver com esse trabalho de há muitos anos, de fazer um projeto educativo que respeite o olhar e a posição de cada criança que participa. Por exemplo, no DocEscolas não trabalhamos com filmes infantis, mas sim com filmes da programação que abordam questões que podem promover um debate aberto e interessante para os jovens, sem paternalismos. O mesmo acontece com as oficinas que estabelecem a relação com o cinema a partir do que é fazer cinema e ver cinema. Interessa-nos falar com as crianças sobre temas como as migrações, os refugiados, permitindo construir laços de afetividade. Ir ao cinema é um ato lúdico e inspirador, nesse sentido procuramos criar espaços para que a experiência do cinema seja agregadora.
Programação integral do festival aqui
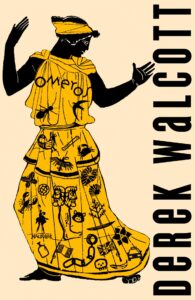
Derek Walcott
Omeros
Derek Walcott (1930-2017) nasceu na ilha de Santa Lúcia, nas Caraíbas. Dramaturgo e poeta, a sua obra é marcada pela paisagem caribenha, a sua herança cultural, a experiência colonial e o legado da escravatura. Negro, de tez rubra e olhas claros, filho de pai inglês e de mãe descendente de escravos, com costela holandesa, reflete sobre os efeitos do multiculturalismo, considerando-se “dividido até dentro das veias” pela ancestralidade europeia e africana (“Há em mim muito de holandês/ negro e inglês:/ sou ninguém ou toda uma nação”). Omeros, poema épico monumental, composto por cerca de 8000 versos, é uma das mais relevantes obras do autor, Prémio Nobel de Literatura 1992. Inspirado pela figura do grande poeta grego, partindo da Ilíada e dos seus temas da viagem e do exílio, adapta as suas personagens ao cenário caribenho do século XX e imagina a Guerra de Tróia como metáfora da trágica história do seu povo. Aquiles é um pescador, Heitor um motorista de táxi e Helena uma empregada doméstica, habitantes modestos – mas com a grandeza dos respetivos mitos – de um pais miserável e inclemente, porém de grande beleza, com o mar por eterno horizonte (“O nosso último refugio tanto como o teu, Omeros”). Maldoror

Heinrich Böll
A Honra Perdida de Katharina Blum
Heinrich Böll (1917-1985), Prémio Nobel de literatura 1972, dedicou a sua obra à análise dos problemas da Alemanha durante e depois da II Guerra Mundial. A participação na guerra como soldado de infantaria deixou uma marca indelével no escritor, pacifista convicto. A sua desilusão com o capitalismo e consumismo da Alemanha do pós-guerra, levou-o a criar uma série de romances que fustigam a realidade do seu país, aliando militância política e literatura, provocando polémica e suscitando debate. O “rumor” de que A Honra Perdida de Katharina Blum é um romance sobre terroristas é desmentido categoricamente pelo autor que o define como “um romance sobre suspeitos de terrorismo”, criticando aqueles que “não conhecem a diferença”. Katharina, uma empregada doméstica, apaixona-se casualmente por um homem procurado pela polícia. A partir desse momento, vê a sua intimidade devassada e a sua honra difamada. Böll tece, com ironia e distanciamento, um ataque brilhante e implacável à imprensa sensacionalista, ao anticomunismo primário e aos métodos policiais, demonstrando que, em conjunto, e tal como as armas ou as bombas, causam vítimas e destroem vidas humanas. Cavalo de Ferro
Ken Loach e Édouard Louis
Diálogo sobre a Arte e a Política
“A arte é feita numa forma de raiva contra a arte, e não quando serve de instrumento de auto-satisfação para as classes dominantes”. Esta afirmação de Édouard Louis é complementada pela de Ken Loach; “ A arte deve ser subversiva. Se não tivermos em nós a raiva suficiente, mais vale ficarmos em casa, não é?” Édouard Louis é escritor, autor de Para Acabar de Vez com Eddy Bellegueule, Prémio Goncourt de Primeiro Romance e na sua obra, fortemente autobiográfica, aborda temas como a sexualidade, as desigualdades sociais, o racismo e outras formas de violência. Ken Loach é realizador, um dos nomes mais relevantes do cinema britânico, e a sua obra é considerada um marco do realismo social. O presente livro transcreve a conversa entre o cineasta e o escritor em que discutem arte, cinema, literatura e o seu papel nos dias de hoje. Refletem, em conjunto, sobre a forma de inventar uma arte que realmente desestabilize os sistemas de poder e sobre qual o seu papel num contexto político global. Um diálogo empenhado numa transformação radical da arte. Orfeu Negro
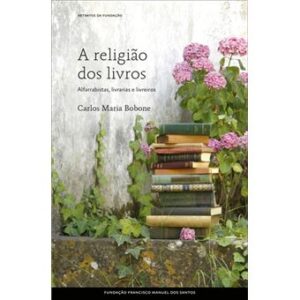
Carlos Maria Bobone
A Religião dos Livros
Carlos Maria Bobone tem 29 anos, é alfarrabista e colabora com o site Observador escrevendo sobre livros. O seu pai fundou a Livraria Bizantina, local onde passou “aquelas horas vagamente entretidas que os filhos passam nos trabalhos dos pais, pelo que os manuscritos de paleográfica leitura, os grandes fólios encadernados em pele ou pergaminho e os jornais do século XIX sempre representaram para mim a banalidade do material de escritório. Só é excêntrico aquilo que é raro, pelo que, para mim, o modelo do alfarrabista ou do livreiro sempre foi o modelo da normalidade”. Este é um livro sobre a história e a vida dos livreiros e das livrarias que apresenta algumas das historietas rocambolescas, mas que se guia pelo olhar da normalidade. Fala da diversidade da oferta atual, de bibliófilos, bibliotecas, leilões e livrarias independentes. Fala do papel do livreiro como guardião da cultura e de preciosidades esquecidas, e fala de esperança, “porque enquanto houver livros, haverá muito mais do que leitores.” Fundação Francisco Manuel dos Santos

Emmanuel Carrère
Yoga
Se dissermos que o livro é sobre o yoga, corremos o risco de defraudar as expetativas dos entusiastas; mas se dissermos que não é sobre o yoga estaremos a faltar à verdade. O melhor é dizer que o livro de Emmanuel Carrère é sobre a verdade possível, o quanto nos permitimos revelar sobre nós e a fronteira onde termina o que podemos dizer dos outros. Carrère é praticante de yoga há várias décadas, período em que se vem debatendo com problemas de bipolaridade e consequentes depressões, que dão a esta obra a sua forma final onde convergem o projeto inicial e as vicissitudes que Carrère resolveu incluir, uma vez que são parte da vida e lhe permitem refletir sobre ela. Yoga é um livro de autoficção que se lê como um testemunho muito pessoal, de alguém que sempre se envolveu diretamente nas muitas vidas que trouxe para os seus livros. É ainda um livro que poderá interessar a qualquer pessoa, independentemente da afinidade pré-existente ou não com o autor. Emmanuel Carrère mostra-se na vulnerabilidade mais privada e faz o relato de amizades passageiras ou duradouras. O escritor como um indivíduo que questiona o que constitui a felicidade de estar vivo. (Ricardo Gross) Quetzal

Antonio Tabucchi
O Fio do Horizonte
No ano em que passam dez anos desde o desaparecimento de Antonio Tabucchi (1943-2012), o mais português de todos os escritores italianos é celebrado um pouco por todo o mundo. Por cá, a Dom Quixote apresenta novas edições de O Fio do Horizonte, Está a Fazer-se Cada Vez Mais Tarde e A Cabeça Perdida de Damasceno Monteiro. Adaptado ao cinema por Fernando Lopes em 1993, O Fio do Horizonte conta-nos a história de Spino – nome inventado pelo autor, confesso admirador do filósofo Spinoza –, um homem que vive numa cidade à beira-mar e que, depois de um ininteligível caso de polícia, resolve ele próprio tentar descobrir a identidade do jovem bandido morto durante os confrontos. Sabendo que Carlo Nobodi, sem dúvida um nome falso tirado do inglês nobody (ninguém), recebia ajuda de uma ordem religiosa, é essa a primeira pista que investiga. Seguem-se o alfaiate, o guarda-livros, o empregado argentino e uma série de outras pistas que, no fundo, lhe indicam que o único nexo entre elas era o que os olhos dele viam. Numa investigação/viagem que não segue a lógica de causa-efeito, a busca começa a descarrilar e, tal como o fio do horizonte, parece afastar‑se ainda mais de quem o persegue. A história de um homem que se perde quando se encontra. (Sara Simões) Dom Quixote

Rudyard Kipling
Contos do Foi Assim
A reputação de Kipling (1865/1936), ainda hoje permanece “manchada” pelo facto de ter sido o “Poeta do Império Britânico”. Mas, se as suas posições sobre o Imperialismo e o colonialismo estão profundamente datadas, os seus livros de aventuras (Kim, 1901) ou infantis (O Livro da Selva, 1894) revelam um grande escritor. Contos do Foi Assim, compilação de histórias bem-humoradas que se tornou num clássico da literatura infantojuvenil, reúne algumas das mais brilhantes narrativas fantasiosas imaginadas pelo autor para adormecer a sua filha Josephine, que faleceu aos sete anos, vítima de pneumonia. Com novas ilustrações, da autoria da premiada Marta Altés, e recontadas em verso, estas histórias são a combinação perfeita entre a imaginação prodigiosa e o talento para a escrita. Fábula
Depois de Paris e Madrid, esta viagem inédita pela inspiração, vida e obra de Steve McCurry chega agora a Lisboa. Aqui, vai ser possível apreciar mais de cem fotografias tiradas durante os seus 40 anos de carreira, bem como os seus trabalhos mais recentes. Em exposição está também, como não podia deixar de ser, a famosa fotografia da Rapariga Afegã (Sharbat Gula), cujo olhar cativou a atenção do mundo ao ser capa da célebre National Geographic, em 1985.
Sem percurso definido nem qualquer ordem cronológica, a exposição leva o visitante a deambular por entre imagens recolhidas em ambientes de guerra, em locais inóspitos ou até durante catástrofes naturais. Algumas duras, outras poéticas, as imagens, que permitem ver o mundo através da lente de McCurry, estão repletas de mensagens fortes e impactantes, às quais é impossível ficar indiferente. Com elas, o fotógrafo apenas pretende “documentar o mundo”.

“Gosto de fotografar simplesmente com base nas minhas capacidades de observação, e isto pode acontecer em qualquer lugar. Se confiarmos na observação, algo interessante acontecerá naturalmente”, avança o fotógrafo, enquanto realça a necessidade de “esperar”. “Esperar é o mais importante na fotografia”, diz. Exemplo disso é a fotografia que tirou a um alfaiate, na Índia (foto acima). Na época das monções, uma forte cheia destruiu diversos edifícios, nomeadamente a loja de um alfaiate local. O homem, na impossibilidade se salvar o espaço, tenta resgatar uma máquina de costura enquanto atravessa um mar de águas escuras.
Vida e carreira de Steve McCurry
“Quando trabalhava num pequeno jornal dos arredores de Filadélfia, na Pensilvânia, duvido que me tenha passado pela cabeça que acabaria a trabalhar numa revista como a National Geographic, que teria mais de uma dúzia de livros publicados e que passaria a vida a viajar para alguns dos lugares mais interessantes do planeta para fotografar alguns dos eventos mais importantes da nossa era”, avança o fotógrafo.
Atualmente com 72 anos, Steve McCurry reflete sobre a sua carreira: “foi uma trajetória incrível, uma vida incrível, e estou grato por ter decidido empreender esta viagem pela satisfação que me proporcionou. Poder ser testemunha de tudo o que vi, estar literalmente na primeira fila da história ensinou-se tanta coisa… Não imagino uma maneira melhor de viver do que viajar, fazer fotografias e ver este mundo incrível em que vivemos.”

McCurry é um fotógrafo norte-americano premiado e reconhecido internacionalmente, tendo sido agraciado com alguns dos prémios mais prestigiados da indústria fotográfica, incluindo a Medalha de Ouro Robert Capa ou o National Press Photographers Award.
Icons conta com curadoria de Biba Giacchetti, co-fundadora da agência Sudeste57, e pode ser visitada diariamente, na Cordoaria Nacional, até 23 de janeiro.
Há um encadeado de tragédias pessoais que perpassa o mais recente espetáculo de André Murraças. Talvez por isso não seja mera estratégia cénica, após o prólogo, o autor, e único ator em cena, anunciar que, a partir daí, se manterá em silêncio, deixando para a voz off de Miguel Ponte a narração das histórias. Isto porque a comoção de as contar lhe embargaria a voz, e o espetáculo ficaria seriamente comprometido.
Em causa estão décadas de perseguição, de repressão e de estigmatização a homossexuais em Portugal. Murraças começa por olhar as décadas finais da monarquia e os primeiros anos da república, onde aquilo que as autoridades viam como “ultraje contra pudor” era motivo de riso n’ “os pêssegos” de Bordalo ou nos palcos da Revista. E, em 1912, é publicada a lei da mendicidade, onde se estabelece a criminalização do que se considerou “prática de vícios contra a natureza”. Esta lei só seria revogada em 1982, oito anos após o 25 de Abril.
Voltando atrás, o início dos anos 20 do século passado ficaria marcado pelo chamado “escândalo da Literatura de Sodoma”, que envolveu, sobretudo, os poetas António Botto e Judite Teixeira, censurados devido ao conteúdo homossexual das suas obras, Canções e Decadência, respetivamente. Aos pormenores sobre este episódio e as consequências que teve na vida dos seus protagonistas, Murraças junta ainda uma abordagem a dois casos de figuras públicas: o do bailarino Valentim de Barros (cujo comportamento efeminado e a homossexualidade o “nobelizado” Egas Moniz propôs curar) e o do dirigente do Partido Comunista Português Júlio Fogaça, que ainda hoje se encontra envolto em mistério.
Contudo, o maior protagonismo em Sombras Andantes vai para as histórias dos incontáveis anónimos que sofreram a tragédia de terem tido vidas incompletas, permanentemente condicionadas pelo medo e pela repressão.

“Cheguei a estas histórias recorrendo, sobretudo, aos arquivos da Polícia Judiciária”, explica o autor, lembrando que terão chegado aos nossos dias apenas cerca de uma centena de processos, de entre aquilo que se julga poderem ter sido milhares.
Embora esses arquivos “não elenquem os nomes das pessoas, mas apenas os crimes, muitos deles bastante pormenorizados”, Murraças conseguiu, complementando com outras fontes, como livros, dissertações e a própria informação que tem acumulado ao longo dos anos sobre o passado LGBT em Portugal, “perceber como era a vivência homossexual durante o Estado Novo”. Depois, “há ainda a representação da homossexualidade que é feita na literatura, na poesia, no teatro, na revista à portuguesa ou na imprensa da época.”
A partir daqui, é construído um solo teatral onde o documental se entrelaça com a ficção, recurso possível para trazer de volta estas vidas. “Ainda consegui ter alguns depoimentos pessoais que remontam aos anos 60 e 70”. Porém, lamenta o autor, “para trás, essas vidas tornaram-se praticamente invisíveis.”

Através do vídeo (onde pontuam prestações dos atores Flávio Gil, Francisco Goulão, Joana Manuel, João Sá Coelho e Miguel Ponte), do recurso ao teatro de sombras e a pequenos cenários criados pelo próprio, André Murraças traça ao longo do espetáculo uma cronologia da ditadura que é, simultaneamente, uma espécie de cartografia homossexual da cidade de Lisboa.
Do Cais do Sodré onde os marinheiros procuravam todo o tipo de aventuras; aos urinóis públicos do Rossio ou Praça do Comércio, onde tantos homens viviam clandestinamente a outra face das suas vidas; passando pelos engates no Príncipe Real ou pelas pensões em redor do Parque Mayer, onde a revista à portuguesa recorria até, certas vezes, a abordagens queer, a peça é um olhar urgente sobre uma outra dimensão da história de repressão e terror imposta pelo fascismo em Portugal ao longo de quase meio século.
Integrado na programação paralela à exposição Adeus, Pátria e Família, Sombras Andantes tem estreia agendada para 23 de setembro no auditório do Museu do Aljube, estando em cena apenas à sexta e ao sábado, até 1 de outubro.
Há uns anos, já com uma carreira consolidada no teatro, Tiago Correia decidiu voltar à escola onde se formou, para fazer uma pós-gradução. Neste regresso, o premiado autor (venceu por duas vezes o Grande Prémio de Teatro Português SPA/Teatro Aberto), cofundador da companhia A Turma, sentiu “a nostalgia dos tempos em que se imagina um futuro e se projetam utopias”. E, a esse sentimento, juntou a lembrança de tantas pessoas a quem “a vida definiu outros caminhos”, e acabou por separar.
Esse confronto entre o passado e o presente contaminou Tiago Correia e acabou por dar origem a Estrada de Terra, um texto que, embora tenha tido este ponto de partida, é assumido como “completamente ficcional, embora haja muita coisa que vem de vivências e experiências pessoais, muitas delas incríveis, outras menos boas, que vivi quando descobri o teatro e o meu caminho se cruzou com pessoas novas”, explicita o encenador.

Na peça, é no isolamento de uma casa de campo que encontramos Luís. Este homem, que andará pelos 30 ou 40 anos, terá tido uma noite um tanto ao quanto excessiva, a julgar pelas garrafas de cerveja amontoadas sob uma pequena mesa de cozinha e as roupas espalhadas pela sala.
De súbito, o telefone toca e, pouco depois, percebe-se que é Marco, um velho amigo que não dá notícias há dez anos. Despertado do torpor do sono ou da ressaca, oscilando violentamente entre a compreensão e a ira, Luís enceta uma longa conversa com o amigo que, ao que tudo indica, está a viver uma situação limite e apela urgentemente por ajuda.
Surge então Leonor, a mulher que terá passado a noite com Luís e que, no decorrer da conversa telefónica, se percebe ter tido no passado uma ligação amorosa, mas traumática, com Marco. Aquela chamada abre, então, um caminho sombrio de regresso ao passado, e a paz que Luís procurava naquele local encontra-se irremediavelmente comprometida.

O dispositivo dramático de Estrada de Terra assenta na descoberta sobre quem é o personagem que está do outro lado da linha em conversa com Luís. Ele é o mistério, mas também a revelação de todas as outras, embora, como explica o autor, tenha sido “através dos comportamentos, tantas vezes contraditórios”, das personagens em cena, que o próprio foi “descobrindo Marco.”
No fundo, os três protagonistas, mesmo aquele que nunca chega a estar fisicamente em cena, são o espelho de um velho grupo de amigos cujos caminhos tomados se desencontraram para, num determinado ponto, se reencontrarem. Estrada de Terra torna-se assim menos um olhar geracional e mais uma história sobre como as pontas soltas do passado, independentemente da idade ou do tempo, podem ensombrar o presente.
Protagonizado por Pedro Lamares (que regressa ao teatro, entre a presença regular na televisão e a criação de espetáculos em torno da literatura e da música), e Inês Curado (naquele que é o segundo trabalho que desenvolve com A Turma, a juntar a Turismo, o último original de Tiago Correia), Estrada de Terra conta ainda com interpretações de André Júlio Teixeira e Sofia Vilariço.
Como curiosidade, esta é a estreia em palcos de Lisboa da companhia fundada em 2008 por Tiago Correia e António Parra. A Turma é sediada na cidade do Porto.
“Não que isso tenha uma particular relevância”, como explica Elmano Sancho, mas Jesus, o Filho, “foi escrito em contexto pandémico, quando fomos forçados a ficar confinados, a nos isolar”. Com as devidas distâncias, o isolamento levou-o a usar os hikikimori (termo cunhado no Japão para nomear “indivíduos que padecem de um transtorno de isolamento doméstico motivado pela velocidade e pela pressão do sucesso exercida na sociedade contemporânea”) como ponto de partida para a “história” daquela que era a última peça da trilogia, que o autor intitulou A Sagrada Família, e que inclui Maria, a Mãe, estreada há um ano, e José, o Pai, com estreia prevista para 2023.
Nesta peça é em casa, na solidão do quarto, sob o olhar impotente dos pais, que o jovem Jesus encontra o refúgio onde julga sentir-se seguro. O seu confinamento voluntário corresponde a viver “numa espécie de mundo paralelo, aparentemente menos hostil que aquele que lhe é oferecido pela sociedade”. O isolamento vai, contudo, provocar distúrbios de personalidade e dissociá-lo da sua própria identidade. Perante a incapacidade da família para conter a espiral destrutiva do filho, parecem haver poucas hipóteses para evitar um desfecho trágico.
Num ambiente fantasmático – “não serão as personagens também elas fantasmas”, indaga o autor – a peça procura, sobretudo, “abordar a incomunicabilidade no seio da família, a descrença, a solidão, o desgaste e a reclusão”. Embora estejamos perante um objeto artístico que, como “um espelho”, reflete o desânimo destes tempos obnubilados, Elmano Sancho procura que Jesus, o Filho “inquiete o espectador, e que este o receba como entender, sem que do espetáculo se espere um retrato do mundo.”

“Entre o sagrado e o profano” que o autor assume caracterizar a maior parte da sua escrita dramatúrgica, Jesus, o Filho, tal como as outras duas peças desta trilogia dedicada à família, “existe individualmente, embora estejam presentes alguns elementos de referência, nomeadamente cenográficos, destacando-se um oratório da Sagrada Família.”
Como explica, “o oratório, que ainda hoje circula pelas casas em algumas aldeias do país, é representativo da perfeição personificada pela família de Nazaré”, que assim confronta os comuns mortais “com as imperfeições do seu núcleo familiar, de modo a que as consigam superar”.
Na trilogia, e muito especificamente nesta peça, essa idealização colide “com as falhas e imperfeições que existem em cada família”. Na da peça, o sofrimento de Jesus surge profundamente ligado à relação que este estabelece com os pais, como se a segurança que procurou através do isolamento em casa acabasse corrompida.
Espetáculo de sombras e fantasmas, pontuado por apontamentos de humor negro que têm tanto de desconcertante como de inquietante, Jesus, o Filho é também um espetáculo de atores. Para além de Vicente Wallenstein, que compõe um Jesus nos limites, Elmano Sancho reencontra Joana Bárcia, com quem trabalhou por diversas vezes nos Artistas Unidos, e conta com a participação “muito especial” de Ruy de Carvalho que, a pedido do encenador, acedeu gravar uma das vozes que soa ao protagonista.
Em cena de quarta a domingo, sempre às 19h, no Teatro da Trindade INATEL, até 30 de outubro, Jesus, o Filho parte posteriormente em digressão nacional, estando previstas récitas em Famalicão, Bragança, Castelo Branco, Ponte de Lima, Funchal, Guarda e Faro.
Falámos com os responsáveis por estas livrarias que, apesar de terem implementado projetos com conceitos diferentes, partilham a mesma dedicação, criatividade e, sobretudo, a mesma paixão pela leitura. Regressámos com a convicção de que todos eles podiam subscrever a famosa frase de Máximo Gorki: “o melhor de mim, devo-o aos livros.”

A+A
Centro Cultural de Belém
A Livraria A+A mantém a sua loja na Ordem dos Arquitetos e reinventa-se num novo espaço projetado pelo arquiteto Ricardo Bak Gordon, na Garagem Sul do CCB. Com uma aparência simples, depurada e muito contemporânea, a livraria é dominada por uma estante de 16 metros lineares que contém todo o seu acervo e por uma mesa de 4 metros de comprimento reservada para as novidades. Segundo Maria Melo, sua fundadora, “a primeira livraria inteiramente dedicada à arquitetura, em Portugal, tem tudo o que uma livraria especializada deve ter: design, manuais de construção, paisagismo, teoria, ensaio, monografia, revistas”. A livraria está aberta de quinta a domingo, das 10 às 18 horas.

Snob
Travessa de Santa Quitéria, 32A
A Snob é uma livraria focada em publicações independentes, pequenas edições com circulação reduzida, e tem na poesia uma área bastante forte que, de alguma forma, também se cruza com a edição independente e os livros de pequena tiragem. Tem depois outras áreas com livros especiais escolhidos para a livraria. O espaço é complementado por um atraente pátio onde se pode tomar uma bebida e ler com calma, também utilizado para feiras, lançamentos de livros e outros eventos. Rosa Azevedo e Duarte Pereira dizem-nos que este é o “local ideal para quem procura livros que não vê em mais lado nenhum ou edições raras”.

Tinta nos Nervos
Rua da Esperança, 39
A Tinta nos Nervos é um espaço integrado dedicado ao desenho com o objetivo de o tornar no ponto de ligação entre as várias áreas do livro em que surge. Um local que permite olhar todas essas áreas – Banda Desenhada, livros ilustrados para crianças, livros de arte – com fluidez. Pensado a várias cabeças por Ana Ruivo, Luís Azeredo e quatro sócios, o espaço inclui uma livraria, uma galeria de arte que tenta apresentar sempre que possível obras originais que os artistas produziram para os livros, um café e um pátio onde se produzem eventos como workshops de desenho, lançamentos de livros, música, performances ou projeção de filmes de animação.

Stuff Out
Rua da Quintinha, 70C
O projecto Stuff Out começou no início de 2020. Com o surgimento da pandemia, 2 meses depois, apostou no online lançando um site que correu bem. Há um ano abriu, finalmente, a loja que, segundo Rui Castro, ”tem como missão, numa economia que funciona basicamente em primeira mão, tentar ter um espaço que pega em livros que já foram lidos e voltar a introduzi-los no mercado, promovendo a economia circular da cultura”. A Stuff Out pretende proporcionar a experiência de livraria em segunda mão exatamente com o mesmo tipo de oferta que teria se fosse em primeira mão, não restringindo a oferta e disponibilizando todos os livros em bom estado.

Miosótis
Avenida Rovisco Pais, 14A
“Somos uma pequena editora e sentíamos dificuldade de posicionamento no mercado e de encontrar locais para lançamento de livros”, revela-nos Adelaide Nikolic. Encontrado um espaço ao encontro das suas necessidades e espectativas, surgiu a Miosótis, livraria, sala de leitura e zona de exposições. Uma das suas missões é a de disponibilizar projectos independentes que nunca chegam às livrarias. Têm também livros novos, usados e antigos para um público mais exigente. Adelaide é uma falante iniciante de mirandês, por isso a livraria apresenta uma raridade: praticamente todo o acervo disponível nessa língua.
Em Casa Portuguesa, embora sejam convocadas outras temáticas de que já falaremos, parece haver uma continuidade na reflexão sobre o conceito de família. Com o anterior espetáculo, Casa Portuguesa forma um díptico sobre o tema?
Não se trata de um díptico, mas de uma ideia de trilogia, que não estava de todo prevista quando escrevi Pais & Filhos, e que ficará completa, no próximo ano, com uma versão também escrita por mim da Farsa de Inês Pereira, de Gil Vicente.
Como é que percebeste que o tema não se encerrava no anterior espetáculo?
Talvez tenha sido quando acabei o Pais & Filhos e comecei a pensar neste espetáculo. Percebi haver uma lógica inerente às peças, onde faço uma reflexão mais alargada, e com pontos de vista específicos dependendo de cada uma delas, sobre o que é a estrutura familiar. Essa reflexão levou-me a pensar em como a célula familiar impacta na sociedade, como se altera e, como estrutura social, se liga à nossa vivência, à tradição ou à história.
E, como também é marca em muitos dos teus espetáculos, o ponto de partida é autobiográfico…
Acontece muitas vezes, no meu trabalho, os temas que estou a abordar relacionarem-se com factos autobiográficos ou com as preocupações que estou a viver. Mas, isso é algo que não vejo como uma escolha, até porque não acho que o teatro seja o meio e o lugar para fazer terapia ou para expurgar fantasmas. Entendo, isso sim, que se há um facto biográfico, seja do passado ou do presente, onde se investe muito do nosso tempo, do nosso pensamento e da nossa energia, naturalmente, e se é um artista, isso vai contaminar o que se está a criar, neste caso, mais concretamente, a escrever.
Se Pais & Filhos partia da experiência de tentares ser pai através de um processo de gestação por substituição, em Casa Portuguesa assumes partir do diário de guerra que o teu pai [Joaquim Penim] escreveu para ti e para o teu irmão, e que daria origem ao livro No Planalto dos Macondes.
O espetáculo nasceu, de facto, de um diário escrito em Moçambique, onde o meu pai esteve a fazer a guerra, forçado como quase todas as pessoas que por ela passaram. Para ser preciso, o diário a que me refiro é a adaptação de um outro diário que ele escreveu in loco, à época, e que anos mais tarde, já com alguma distância, também daria origem ao livro. Esse documento, com as histórias e a memória da guerra, acompanharam-me ao longo da vida e, conforme o tempo passava, a perceção que tinha de tudo aquilo ia-se alterando. Se no início me parecia um conjunto de histórias mais ou menos fantasiosas, nas quais não pensava muito, com o correr dos anos foi-me captando a atenção. Quando o meu pai publicou o livro, houve uma espécie de consciencialização e percebi claramente “isto aconteceu, e aconteceu ao meu pai”. Não era, portanto, lenda ou mitologia; era a história do meu pai, de uma geração antes da minha que, diretamente, esteve envolvida numa guerra.
Essa perceção daquela ser também a história de uma geração foi importante para a trazeres para o teatro?
A experiência daquelas pessoas tem uma implicação muito direta na história do meu país e no modo como esse mesmo país se relaciona com esta ferida na sua própria história. Contudo, para a peça, quis tratar o assunto de uma forma narrativa e não documental, até porque há artistas a fazê-lo muito bem. Logo, a abordagem é feita de uma forma ficcional, pelo que Casa Portuguesa não é a história do meu pai, mas uma narrativa inventada que se baseia em algumas das coisas pelas quais ele passou.
É isso que justifica que, desta vez, não estejas em palco?
Não senti necessidade de estar em cena. Em Pais & Filhos interessava-me refletir sobre a paternidade, por isso quis assumir com a minha presença e a minha história o ponto de partida para a peça, já que depois tudo se vai transformando em ficção. Neste caso, sempre foi claro para mim que não estava a escrever nem a minha história, nem a história do meu pai, mas sim uma história que parte dessa realidade. E aquilo que me interessa mesmo é refletir sobre uma ideia de masculinidade, sobretudo nesse tempo de guerra e fascismo, e de como essa ideia do que é “ser homem” se foi alterando e impactando na sociedade, logo e consequentemente, na família.

Entretanto, há uma canção que até dá título à peça …
O fado Uma casa portuguesa que a Amália celebrizou pelos anos 50 e que terá sido escrito, precisamente em Moçambique, na década anterior. Ora, essa é uma canção que sempre me fez alguma confusão, com aquela letra muito identificada com o que era a vida portuguesa, a casa e a família no Estado Novo. Há muitas conversas à volta de se saber se a canção foi escrita com o propósito de servir a propaganda do regime, ou se foi o próprio regime a apropriar-se daquela lógica poética e idílica, muito mentirosa do que era a realidade do país. Embora esse debate não entre aqui, pergunto-me como é que com quase 50 anos de democracia, ainda seja capaz de arriscar dizer que não há português nenhum que não seja capaz de completar um verso da canção. Isto demonstra como ela ainda vive no imaginário popular e como o Estado Novo foi hábil a criar tradição onde ela não existia, fazendo dessa tradição a regra.
Temos então a guerra, a masculinidade, a casa, a família, um fado… O que é, afinal, a peça Casa Portuguesa?
A peça é a história de um antigo soldado que se vê confrontado com os fantasmas do seu passado. Esses fantasmas são pessoas, mas também são ideias, e tudo isso vai entrar em confronto, levando-nos a fazer um percurso, que é de alguma maneira destrutivo, para constatar que essa “casa portuguesa” não só já não nos serve, como é necessário transformá-la.
Há aqui também a vontade de fazer deste espetáculo uma espécie de statment da tua direção artística?
Não diria tanto, mas o espetáculo não passa ao lado de eu ter chegado a esta “casa portuguesa” que é o Teatro Nacional D. Maria II (TNDM II) e que, por sinal, é a Casa do teatro português. Há aqui ecos do que isso significou para mim quando aqui cheguei e até de algumas reações suscitadas pela minha nomeação.
Que reações?
Quando me apresentei como novo diretor artístico, assumi que faço parte da comunidade LGBT e que isso é relevante na medida em que define aquilo que sou e o modo como me expresso e vejo o mundo e a arte. Isso causou reações particularmente negativas junto de algumas pessoas que me encheram a caixa de email com insultos e impropérios. Não deixa de ser estranho como o facto de ter feito uma declaração tão pessoal, mas que achei publicamente relevante, provocasse tantas reações, todas elas vindas de homens brancos.
Isso afeta-te?
Afeta, mas não destrói. Contudo, imagino o que algo assim pode fazer a pessoas que não estão propriamente na minha posição e que não têm nem a minha idade nem a minha estrutura para lidar com este tipo de coisas.
Inevitavelmente, como dizes, isso ecoa no espetáculo…
Os meus espetáculos são muito reativos ao meio, à história, aos factos e acontecimentos do presente…
Porque o teatro é uma arte efémera?
Para mim, o teatro é uma arte do seu tempo, do aqui e do agora, uma arte que se faz a cada dia, com cada contingente de público que vem ao espetáculo, e é assim que esse mesmo espetáculo se constrói. É muito importante que o teatro mantenha essa atualidade constantemente viva e não seja tão só recriação de literatura. Até porque quando me interessa escrever, faço-o para que seja representado.
É-te fácil escrever?
Não, de todo. A escrita é um processo muito doloroso, nada a ver com um prazer absoluto. Costumo dizer que escrever é o contrário de viver, já que forço-me a suspender a vida para o fazer. Tenho de me isolar, e isso é complicado.
Mais de duas décadas depois, um espetáculo sem a chancela do Teatro Praga…
Foram 26 anos….
E com um elenco que, creio, nunca trabalhou contigo, à exceção das Fado Bicha…
Sim, as Fado Bicha fizerem uma participação no Xtròrdinário [espetáculo do Teatro Praga, estreado em 2019, por ocasião dos 125 anos do Teatro São Luiz]. Foram logo uma das minhas primeiras ideias para este espetáculo já que aqui se fala de tradição e, necessariamente, de fado, de tourada, de marialvismo. Todos esses temas são postos em contraste com a vida contemporânea portuguesa e o universo das Fado Bicha vai diretamente ao encontro disso, ou seja, elas fazem a reconstrução de uma tradição portuguesa muito forte, que é o fado, ao mesmo tempo que lançam, tal como vem no disco [Ocupação, 2022] uma crítica fortíssima à ideia do “macho”.
Temas novos?
Digamos que elas abocanham a Casa Portuguesa. E então da canção fazem um picadinho… [risos]
Quanto aos atores, há a Carla Maciel…
Trabalhei com ela num espetáculo que encenei no Teatro Maria Matos, o Perfeitos Desconhecidos, e fiquei muito impressionado com o modo quase obsessivo como trabalha. É uma coisa rara nos atores ver este nível de obsessão e técnica, de entrega ao projeto, e essa atitude impressiona-me, comoveu-me mesmo. A Carla é uma atriz muito completa, com muitas ferramentas e, seguramente, uma das melhores atrizes portuguesas. Fiquei felicíssimo quando soube que ela podia fazer este espetáculo.
O João Lagarto…
Precisava de um pai, de um protagonista. O João Lagarto fez de meu pai numa telenovela na RTP e foi das primeiras pessoas em quem pensei. É verdade que ele não tem propriamente a idade da personagem – terá, talvez, menos dez anos, tanto que não fez a guerra –, mas achei-o perfeito para o papel. Mais a mais, é um excelente ator.
Por fim, há um nome desconhecido, o Sandro Feliciano…
Como precisava de um ator muito novo, fiz um casting e descobri o Sandro. Ele foi o primeiro a fazer a audição e devo dizer que aquilo que pensei foi: “podia parar já por aqui”. O Sandro é um talento: tem 16 anos, estuda na Escola Profissional de Teatro de Cascais e vai ser, seguramente, uma “bomba” no teatro português, porque é, simplesmente, incrível. Este é o primeiro espetáculo que faz e estreia-se logo na Sala Garrett. Faz lembrar a Eunice [Muñoz], que aqui se estreou com 14 anos…
É um elenco pequeno por opção artística?
Sim. É verdade que este é um espetáculo que vai circular muito no próximo ano, e isso exige uma grande mobilidade e agilidade logística. Mas, a dimensão do elenco não influenciou a criação.
Embora abordem assuntos muito sérios, o humor é uma característica dos teus espetáculos. Como é em Casa Portuguesa?
Eu tenho uma atração fatal pelo humor [risos]. Há sempre humor. Muitas vezes, quando estou a escrever e vou reler, constato que tenho de cortar aqui e ali para não haver tanta piada. Tento escrever uma cena só séria, que não tenha nenhuma piscadela de olho a nada que possa fazer rir, mas não consigo. Acho que faz parte da maneira como me expresso no teatro e, de uma vez por todas, tenho que assumir isso como intrínseco. Apesar de tratar de assuntos muito pesados, esta peça é, também, bem-humorada.
Tem sido fácil o artista lidar simultaneamente com o papel de diretor do TNDM II?
Penso que sim. Como diretor deste Teatro há a expetativa de poder continuar a criar, passando esse trabalho artístico a ser reportório desta casa. Nesse sentido, não há aqui uma mudança radical naquilo que é o meu discurso, há sim uma mudança em função da estrutura do TNDM II, que é radicalmente diferente da que tinha no Teatro Praga.
Portanto, ser diretor artístico desta casa não condiciona o artista, e vice versa…
Enquanto artista vou continuar a criar os meus espetáculos, e isso não se confunde com nenhuma declaração de intensões aliada à minha estética ou ao meu universo artístico. Enquanto programador tenho uma missão pública que está inscrita na lei, embora com espaço de interpretação suficiente para não me condicionar. Contudo, sendo eu diretor artístico de um teatro nacional com uma missão determinada legalmente, o mais importante deixam de ser os meus gostos pessoais ou as minhas preferências…
Qual é, então, o grande desafio neste papel de diretor artístico?
Passa acima de tudo por dar ouvidos àquilo que é a cena portuguesa, aliás muito diversa, com muitas estéticas, muitas gerações no ativo e inúmeras possibilidades. Este espaço tem de ser um espelho disso, não um espelho seccionado para determinado ângulo, que eu até posso ter como artista a criar o seu próprio espetáculo. Portanto, não quero incutir ao TNDM II uma estética, embora queira que esta seja uma instituição que defenda a liberdade e a pluralidade, e que seja uma casa cada vez mais aberta. Isso sim, será a única coisa que terá implicações nas escolhas artísticas.
O ano que vem traz um desafio acrescido com o fecho do TNDM II para obras, logo, com a instituição a abandonar o Rossio e a partir país fora, num projeto que se chama Odisseia Nacional. Como é que encaras uma aventura desta dimensão?
Com a tranquilidade de saber que esta casa tem uma equipa muito competente e empenhada para fazer aquilo que, em quase 180 anos, nunca se fez. Se, por um lado, a atividade do Teatro está muito ligada ao edifício, por outro, a missão do TNDM II nunca se resumiu somente ao Rossio, já que tem e deve ter um alcance muito mais amplo. O projeto, a que chamámos Odisseia Nacional, é a oportunidade perfeita para que seja cabalmente aceite que o TNDM II é de todo o território português, como aliás fomos sentindo quando, junto de instituições e entidades locais, íamos sendo tão bem recebidos. Creio que estas sinergias vão proporcionar uma experiência transformadora em todo o território teatral português e, arrisco-me a dizer que, depois de 2023, também o TNDM II nunca mais será o mesmo.
paginations here