Depois de um trágico e traumático acidente, Manuela parte para a cidade da sua juventude à procura do pai do filho. Ao longo dessa demanda, reencontra Agrado, uma velha amiga transsexual; conhece Rosa, uma freira grávida e seropositiva; e começa a trabalhar para Huma Rojo, a célebre atriz de teatro que involuntariamente está ligada ao acidente que lhe vitimou o filho…
Como é que esta peça se cruza no teu caminho?
Aconteceu há muitos anos, trabalhava eu ainda como ator com o Filipe La Féria. Ele teve a intensão de encenar o Tudo sobre a minha mãe, e eu sonhava interpretar o papel de Esteban, o filho da protagonista. A peça não se fez, eu deixei de ser ator e acabei por guardar a vontade de, um dia, ser eu a encená-la.
O filme é de 1999, a peça foi escrita uns anos mais tarde.
Terá sido por volta de 2008 que ouvi falar de uma adaptação do guião do filme ao teatro. Estava sempre muito atento ao que se passava na cena teatral londrina, e julgo ter dado conta da estreia no Old Vic [estreada em agosto de 2007, com encenação de Tom Cairns]. Foi assim que soube da existência da peça.
Eras fã do filme?
Sou grande admirador da filmografia do Pedro Almodóvar e Tudo sobre a minha mãe, de todos os filmes dele, é o meu preferido. Talvez isso justifique que ande há uns dez anos com o espetáculo na cabeça à espera de o concretizar.
Há diferenças significativas entre o filme de Almodóvar e a peça de teatro de Samuel Adamson?
A peça é muito bem escrita e o autor faz uma transposição muito competente do guião do filme para o palco. Existem diferenças, decorrentes sobretudo das linguagens do cinema e do teatro, mas no essencial, à exceção do final, tudo é muito fiel ao filme. Embora, na minha visão, sinta que a peça oferece uma maior redenção às personagens, e isso agrada-me bastante.
De algum modo, o filme acaba por permeabilizar o espetáculo?
O filme está muito presente, mas procurei distanciar-me. Não o fui rever propositadamente para a encenação, antes quis trabalhar o modo como o recordo, como o vejo dentro de mim. Aliás, esse distanciamento, por tudo aquilo que é o cinema e o que é o teatro, era fundamental.

Mas, aqueles ambientes muito coloridos e quentes que são parte do ADN do cinema de Almodóvar têm, necessariamente, uma forte ligação ao enredo e às personagens. Pode-se fugir disso?
Ao colocar a peça num espaço abstrato, ao optar por uma cenografia muito limpa, não fugi, mas saí desses ambientes. Os figurinos, ao recusarem o realismo, ao lembrarem a alta-costura, ao sublinharem a cor e até sendo algo excessivos, acabam por remeter para a lembrança que guardo do filme. E, claro, a cor é essencial para transmitir a essência das personagens.
Portanto, a abordagem ao texto acaba por se tornar muito pessoal.
Digamos que, respeitando as regras que são exigidas pelos detentores dos direitos da peça, procurei algo meu, mais consentâneo com aquilo que tem sido o meu trabalho ao longo dos últimos anos, formalmente mais abstrato, mais dedicado ao corpo e ao movimento. Foi um longo processo, mas acho que o texto encaixou muito bem nas ideias que tinha para a encenação e que, muito provavelmente, não seriam as mais esperadas. Aliás, vi algumas encenações da peça em Inglaterra e até na Austrália, e em todas se procurava um ambiente mais naturalista e, de certo modo, mais convencional. Contudo, o Almodóvar está lá, e eu não quis fugir dele. Aquilo que procurei foi que tudo se cozinhasse de uma forma orgânica, bela e confortável para quem está a fazer o espetáculo.
Falavas das exigências dos detentores dos direitos da peça…
Foi uma luta de anos conseguir os direitos da peça, e depois de os conseguir deparar-me com o rigor exigido e as limitações que são colocadas. Nesse aspeto, este foi o projeto mais complexo em que me envolvi até hoje…
Podes elencar que tipo de limitações?
Uma delas é não ser permitido cortar texto. Para mim, isso foi complicado porque sempre encarei o texto como um elemento do espetáculo que tem de se encontrar com aquilo que pretendo transmitir. Outra, por exemplo, foi a obrigatoriedade de usar a música do filme, composta por Alberto Iglésias, que sempre me pareceu servir muito bem o filme e, admito, as abordagens mais convencionais em teatro. Porém, adaptei-me às circunstâncias e as circunstâncias adaptaram-se àquilo que pretendia para o espetáculo.
E a tradução? Calculo que também aí haja exigências…
Também. Ao ponto de ter de ser enviada uma retrotradução, ou seja, uma tradução em inglês da versão em português….
Tradução para português assinada por Hugo van der Ding…
Foi uma encomenda nossa. Comecei a trabalhar com uma tradução feita pela Maria Eduarda Colares, que o Filipe La Féria me emprestou, mas achei, passados mais de dez anos, que teria de ser muito mexida para a poder usar. Foi então que me ocorreu que o Hugo, de quem gosto muito, chegou a ser tradutor há muitos anos e desafiei-o. No fundo, a peça tem imenso humor e ele pareceu a pessoas indicada para a traduzir. E, ele fê-lo, e fez muito bem.
Se pensarmos que, do West End à Broadway, vários filmes de Almodóvar foram adaptados aos palcos, impõe-se perguntar a um homem de teatro: porquê?
Percebe-se o fascínio do teatro por Almodóvar pelas personagens que ele cria. Acho que todas elas são absolutamente teatrais. Isso foi, aliás, muito interessante perceber na versão do musical da Broadway Mulheres à beira de um ataque de nervos, que o Filipe La Féria encenou recentemente. Aquelas personagens são incríveis e, no seu exagero, no serem maiores do que a vida, percebe-se o porquê do teatro as querer resgatar do cinema e levar para o palco.
Tudo sobre a minha mãe reúne um elenco magnífico, juntando algumas das grandes atrizes do atual teatro português. Como foi conciliar as agendas?
Não foi nada fácil [risos], mas conseguimos e é, para mim, um enorme orgulho dirigir este elenco de grandes atrizes, de mulheres muito generosas que fazem o trabalho fluir com grande naturalidade. Como sempre procuro que aconteça nos meus trabalhos, quando penso numa personagem já a vejo numa atriz em concreto. Ou seja, procuro atrizes em que aquilo que é a personagem possa ressoar naturalmente dentro delas. Por exemplo, no Tudo sobre a minha mãe, a Maria João Luís interpreta a atriz Huma Rojo e passo a vida a dizer-lhe: “mas, tu és esta mulher!” E, como a própria Maria João assume, é mesmo.

Assumes que este espetáculo procura também dar “visibilidade a intérpretes e corpos queer” e promover uma reflexão sobre temas como a identidade de género e a orientação sexual…
Da minha situação de privilégio tenho procurado, não só como encenador, mas também como programador de artes performativas na RTP2, proporcionar o acesso ao trabalho a minorias e diversificar a representatividade de criadores e artistas. Neste caso, fico muito feliz por ter uma atriz trans, a Gaya de Medeiros, a fazer o papel de Agrado. Só por isso, valeu a pena ter demorado mais de uma década a trazer esta peça para o palco. Recordo que, em 1999, quando Almodóvar realizou o filme, o papel foi interpretado por uma atriz cisgénero [Antonia San Juan], muito provavelmente porque seria impossível encontrar uma atriz trans.
No final, Pedro Almodóvar fazia uma extensa dedicatória a todas as mulheres, e refere três grandes atrizes – Gena Rowlands, Bette Davis e Romy Schneider – que são, aliás, bastante citadas ao longo do filme. Eras capaz de mencionar alguma, ou algumas atrizes, a quem dedicas este espetáculo?
Este espetáculo é dedicado à primeira atriz em quem pensei para o papel da “mãe”, a Maria João Abreu. Era uma atriz incrível, generosa, capaz de todo o tipo de registos interpretativos e que faz muita falta ao teatro português. Mas, estou feliz porque encontrei uma “Manuela” perfeita: a maravilhosa, a notável e de uma total entrega Sílvia Filipe. E, este espetáculo, merece-me ainda uma outra dedicatória dirigida à grande atriz Maria João Luís, que tenho o privilégio de dirigir, e é alguém que faz parte do meu percurso, da minha vida.

O Tamanho do Nosso Sonho é Difícil de Descrever
Safo, a “Décima Musa” como lhe chamou Platão, nasceu em meados do século VII a.C na ilha de Lesbos. Os seus poemas de amor dirigem-se frontalmente a mulheres e traduzem a experiência íntima e avassaladora da paixão, provando que desde os seus primórdios, a poesia celebra o amor homoerótico. A presente antologia reúne 101 poemas de outros tantos poetas, dos cancioneiros medievais à atualidade, proporcionando uma panorâmica abrangente sobre as representações do homoerotismo na poesia portuguesa ao longo dos tempos. A obra revela a forma plural como homens e mulheres, independentemente (ou não) das suas vivências, têm traduzido em verso, o amor entre pessoas do mesmo sexo. No prefácio, os selecionadores da antologia registam a significação abrangente de homoerotismo: “(…) permite expressar um conjunto de ideias, desejos, sensações, sentimentos, vivências e necessidades afetivas entre pessoas do mesmo sexo, não incluindo forçosamente o ato sexual, mas abarcando tudo o que suscita a atração e o desejo através da imaginação (as fantasias, por exemplo) ”. Uma seleção de desenhos e pinturas de Cruzeiro Seixas, de imaginário homoerótico, acompanham os poemas. Avesso

Montaigne
Ensaios I
Michel de Montaigne (1533-1592) homem de Estado, optou pelo autoexílio a fim de se consagrar á escrita dos seus Ensaios. Passou os últimos anos de vida fechado na famosa biblioteca dos seu castelo a compor, enriquecer e completar o seu livro. Para além de muitos outros temas (da solidão, da amizade, da moderação, dos livros, da vaidade ou do costume de andar vestido), o objetivo confesso da obra é o de registar “certos traços dos meus hábitos e inclinações”, mostrando “a minha maneira de ser simples, natural e comum, sem apuro ou artifício”. André Gide escreve no prefácio à presente edição: “Montaigne (…) considera nada poder verdadeiramente conhecer para além de si (…) convicto de que ser verdadeiro é o princípio de uma grande virtude”. Ora, como bem sabemos, Gide colocou a asserção do “Mestre” à cabeça da sua obra notável. Mais do que um sistema filosófico, os ensaios de Montaigne revelam uma sabedoria que sob aspetos estoicos e céticos, partem de uma análise de si mesmo para uma reflexão sobre o ser humano em geral e, através de vastas citações clássicas, sobre o Homem de todas as épocas. E-Primatur

Pier Paolo Pasolini
O Odor da Índia
Pier Paolo pasolini (1922-1975), controverso cineasta e escritor italiano, criador marginal e rebelde, é autor de uma obra fundada, simultaneamente, na temática homossexual, na ideologia marxista e na mística cristã. A sua morte – assassinado em condições sórdidas nos arredores de Roma – contribuiu para reforçar a aura de poeta maldito conferida pelos seus filmes e escritos. Em 1961, realiza uma viagem à Índia na companhia de Alberto Moravia e Elsa Morante. Neste livro evoca os odores, as sensações e as visões da sua singular experiência indiana, enquanto descobre situações sociologicamente semelhantes à do subproletariado romano e meridional: o fim de uma sociedade agrária feudal que entra em contacto direto com uma sociedade moderna em crise. Segundo Pasolini, em entrevista ao jornal diário Paese Sera, “(…) enquanto o burguês italiano com a sua televisão e as suas revistas ilustradas é um provinciano obscuro, cujos problemas são completamente marginais, o camponês italiano encontra-se invisível e inexprimivelmente ligado às imensas massas camponesas subdesenvolvidas da África, do Médio Oriente e da Índia, e os seus problemas surgem como problemas mundiais”. Desassossego
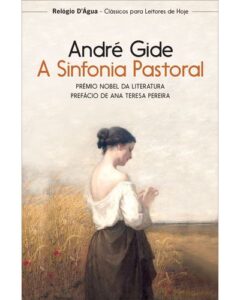
André Gide
A Sinfonia Pastoral
André Gide (1869/1951), Prémio Nobel da Literatura de 1947, foi uma das grandes mentes literárias do século XX. Romancista, dramaturgo, memorialista, crítico e editor, representou, segundo Thomas Mann, “o ponto extremo da curiosidade do espírito”. A sua ficção divide-se em dois géneros principais: o seu único romance, Os Moedeiros Falsos, texto eminentemente moderno que questiona a própria natureza do romance e uma série de narrativas (récits) de profundo teor confessional e admirável recorte clássico. A presente obra constitui uma extraordinária parábola sobre a cegueira na qual contrapõe a cegueira espiritual à cegueira física, estabelecendo um paralelo entre a cegueira e a inocência, a lucidez e a noção do pecado. Relata, na primeira pessoa e em forma de diário, a história de um pastor protestante que encontra Gertrude, uma jovem órfã cega e abandonada. Resolvido a ocupar-se dela recolhe-a, em casa, junto da família. A Sinfonia Pastoral de Beethoven é a peça musical que representa um ideal da natureza próxima da de Gertrude: pura, perfeita, harmoniosa. Se a brutal tempestade do 4º andamento perturba a quietude bucólica da sinfonia, o restabelecimento da visão faculta à heroína a perceção do mal que desencadeia a tragédia. Berlioz equiparou a Sexta de Beethoven a “uma paisagem composta por Poussin e desenhada por Miguel Ângelo”. Imagem que podia ter sido concebida face à comovente beleza e ao rigor clássico desta obra-prima de Gide. Relógio D’Água

Isabela Figueiredo
Um Cão no Meio do Caminho
Existem dois cães que surgem em épocas diferentes nas vidas das personagens principais do novo romance de Isabela Figueiredo: um terá por nome Cristo (Cris) e ajuda com a sua presença a que o protagonista, José Viriato, ainda criança, consiga superar a separação dos pais e a sua morte precoce. O segundo cão aparece nas últimas páginas do livro, chamar-se-á Redentor (Red) e representa a redenção da personagem feminina, Beatriz, que liberta de um passado encerrado em caixas por abrir, volta a conseguir viver para os outros e a aceitar a companhia dos animais. Tem-se falado muito de solidão a propósito deste livro, que no entanto não é nada fatalista no modo como trata uma evidência dos nossos dias: muitas pessoas simplesmente aprendem a viver sozinhas, embora possam desejar ou ter saudades de quando existiam outras pessoas nas suas vidas. A época natalícia é de grande importância aqui. É o tempo da família (quando esta ainda existe) e é o momento anual onde o excesso consumista tem a sua maior expressão. Isabela Figueiredo, por interposta personagem masculina, recolhe sinais da nossa época, e salva as personagens da sua história. Já não é autobiografia, ou autoficção, mas Isabela Figueiredo continua a falar do que conhece. [Ricardo Gross] Caminho

Jon Fosse
O Outro Nome. Septologia I – II
Religião, arte e identidade são os temas estruturantes daquele que é o primeiro dos três volumes que compõem O Outro Nome, o mais recente e, provavelmente, ambicioso projeto romanesco do consagrado autor norueguês da atualidade, Jon Fosse (n. 1959). Neste livro, nomeado para o Booker Price em 2020, apresenta-se Asle, um velho pintor que, após enviuvar, se estabelece numa remota cidade do litoral da Noruega, deixa o álcool e encontra a fé no catolicismo. Ali, tem como ocasionais companheiros um pescador local e um galerista que lhe prepara a próxima exposição, em Bjørgvin. O que Asle desconhece é ser precisamente nessa cidade que vive outro Asle, também ele um pintor solitário, contudo, cada vez mais consumido pelo álcool. Estes dois homens são aquilo que os alemães denominam de doppelgängers, ou seja, duas versões da mesma pessoa, duas versões da mesma vida. Ambos debatem-se com as suas existências, com a presença da morte e a ausência do amor, com a luz e a sombra, com a fé e a desesperança. O que jamais poderiam prever é quando um dos Asle está prestes a morrer num acidente ser o outro Asle que o salva. [Frederico Bernardino] Cavalo de Ferro

Daciano da Costa
Design e Mal-estar
Daciano da Costa (1930-2005) foi um dos pioneiros do design em Portugal. Com o curso de Pintura Decorativa da Escola de Artes Decorativas António Arroio e o curso de Pintura da Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, desenvolveu atividade pedagógica na área do design desde 1954, em diversos níveis de ensino oficial e privado. Estabeleceu atelier próprio em Lisboa em 1959, num território de fronteiras difusas que lhe permitiu diversificar a sua atividade em áreas tão diversas como o design urbano e arte pública, o design de interiores e de mobiliário, a arquitetura e a reabilitação. São de sua autoria a arquitetura de interiores o equipamento ou o mobiliário de espaços tão emblemáticos como a Reitoria da Universidade de Lisboa, a Fundação Calouste Gulbenkian, a Biblioteca Nacional ou a Casa da Música. Design e Mal-Estar, lançado em 1998 pelo Centro Português de Design e agora em edição revista e aumentada, reúne textos de imprensa, entrevistas, ensaios e discursos de Daciano da Costa entre 1970 e 2004. A obra revela o pensamento crítico e rigoroso do desenhador de objetos que soube diagnosticar o “mal-estar” de cada época, refletindo nestas páginas sobre o que viu no mundo e “que decidiu considerar problemas de design”. Orfeu Negro

Nicoby e Vincent Zabus
O Mundo de Sofia – Volume 1
Certo dia, Sofia recebe uma carta com uma pergunta intrigante de um misterioso filósofo: “Quem és tu?”; seguida de outra: “De onde vem o mundo?”. De carta em carta, de pergunta em pergunta, Sofia inicia o seu curso de filosofia. Esta novela gráfica, adaptada do bestseller mundial de Jostein Gaarder, com colaboração do próprio, segue de perto a obra original sem nunca perder de vista as grandes questões da atualidade, desde o clima à igualdade de género. A obra, ilustrada por Nicoby, que acompanha o nascimento da filosofia e percorre a sua história até ao seculo XVII, destina-se a todos os jovens leitores que pretendam conhecer as raízes, a evolução e as principais correntes do pensamento filosófico ocidental. Porque, como escreveu Goethe, génio do romantismo alemão, citado em epígrafe neste livro. “Quem não sabe prestar contas de três milénios permanece nas trevas ignorante, e vive o dia que passa.” Elsinore
Crystal é uma jovem que se sente incompreendida e fora de sincronia consigo mesma. Para escapar à realidade, aventura-se num lago congelado e cai por entre o gelo num mundo de cabeça para baixo. Neste universo que só existe na sua própria imaginação, a raparigal encontra o seu reflexo, que a guia e a desperta para a sua própria criatividade. Esta jornada leva Crystal a tornar-se no que sempre foi destinada a ser: confiante, curiosa e criativa.

Crystal, dirigida por Shana Carroll e Sebastien Soldevila, é a 42ª produção do Cirque du Soleil, e a primeira que explora as possibilidades artísticas do gelo. Combinando a patinagem artística com acrobacias inéditas que desafiam a imaginação – e a gravidade! – o espetáculo inclui ainda projeções visuais e muita música.
Organização e segurança são as palavras de ordem desta grande produção, que conta com 99 pessoas, 47 das quais artistas de 25 nacionalidades diferentes. Também a sala do guarda-roupa testemunha a envergadura do projeto: 600 peças de roupa, todas elas resistentes e impermeáveis para sobreviverem ao gelo. Já a pista de 21 por 48 metros, que comporta cerca de 50 mil litros de água transformada em gelo, levou dois dias completos a ficar pronta para ser riscada pelos patins dos patinadores e acrobatas.

Para Rob Tannion, diretor artístico do Cirque du Soleil desde 2019, “assistir a este espetáculo é uma verdadeira experiência que nos leva numa viagem emocional e visual. É, acima de tudo, uma viagem de descoberta, que nos permite enfrentarmo-nos a nós próprios e às nossas sombras e lutar pelo que acreditamos. Acho que é esta a essência do espetáculo”.
Crystal é o primeiro espetáculo no gelo da companhia canadiana, mas os criadores não quiseram que este fosse apenas mais um: “Shana e Sebastian queriam muito explorar este mundo da patinagem artística no gelo, mas queriam também adicionar coisas novas – e inéditas – ao conceito. Queriam que fosse artístico e acrobático, mas não só. Eles pegaram no mundo do gelo e tornaram-no único dentro das artes circenses”, acrescenta Tannion.

O elenco de Crystal, composto por atletas de patinagem artística, de freestyle e de alta competição no gelo, bem como acrobatas e músicos, foi escolhido a dedo. Até porque era necessário reunir artistas que conseguissem fazer de tudo, ou seja, acrobatas que soubessem patinar e patinadores que fossem capazes de fazer acrobacias.
O resultado de largos meses de trabalho pode ser agora visto, ouvido e apreciado na Altice Arena até dia 1 de janeiro.
Lisboa não para e, entre o teatro, a dança e a performance, são dezenas as sugestões que aqui lhe poderíamos deixar. Optámos por uma mão cheia de propostas muito ecléticas, capazes de ser o presente ideal para este Natal. Confirme!

Tudo sobre a minha mãe
Texto de Samuel Adamson, a partir do filme de Pedro Almodóvar
Poucos meses depois de Filipe La Féria ter apresentado no Politeama o musical Mulheres à beira de um ataque de nervos, Daniel Gorjão estreia, no Teatro São Luiz, a adaptação para teatro, da autoria do australiano Samuel Adamson, de outro filme de Pedro Almodóvar. Numa sentida homenagem ao universo feminino e ao que é ser mulher “periférica ou não, racializada ou não, cis ou transgénero”, Tudo sobre a minha mãe reúne no mesmo palco um elenco feminino de luxo, destacando-se Maria João Luís, Sílvia Filipe, Gaya de Medeiros, Teresa Tavares, Catarina Wallenstein e Maria João Vicente. Uma encenação surpreendente para uma das obras mais relevantes do cineasta espanhol, que Daniel Gorjão revela em entrevista à Agenda Cultural de Lisboa na edição de janeiro do próximo ano.
Estreia a 11 de janeiro no Teatro São Luiz. Bilhetes aqui.
.

Pentesiléia
Texto de Heinrich von Kleist, com encenação de António Pires
Obra-prima do poeta e dramaturgo germânico Heirich von Kleist, e uma das mais arrojadas peças do teatro europeu, Pentesiléia é encenada pela primeira vez em Portugal, a partir de uma nova tradução de Luísa Costa Gomes. Durante muitos anos tida como irrepresentável, trata-se de uma tragédia que, como refere a tradutora, “começa [literalmente] quando [a rainha das Amazonas] se apaixona por Aquiles e ele por ela”. Nesta versão, o encenador António Pires traz a ação para a atualidade, juntando ao elenco habitual do Teatro do Bairro, a atriz Rita Durão, com quem volta a trabalhar depois da encenação da Trilogia Dramática da Terra Espanhola, de Federico Garcia Lorca.
Estreia a 11 de janeiro no Teatro do Bairro. Bilhetes aqui.
.

Dois + Dois
A partir de guião de Daniel Cúparo e Juan Vera
Novamente do cinema para o teatro. Miguel Thiré adapta o guião do filme homónimo de Diego Kaplan, um dos grandes sucessos do recente cinema argentino, e junta no mesmo palco um eletrizante quarteto de atores: Ana Cloe, Jéssica Athayde, José Mata e Miguel Raposo. Dois + Dois é uma comédia com pinceladas de drama sobre dois casais que, para fugir do enfado das suas vidas, se aventuram no mundo do swing. Sem tabus, mas com muita perspicácia, o espetáculo explora as contradições da vida matrimonial e o significado de conceitos como desejo e fidelidade na sociedade atual.
Estreia a 12 de janeiro no Teatro Villaret. Bilhetes aqui.
.

A Sagração da Primavera — Memórias ternas de um afeto queer
Criação de Dinis Machado
Depois da estreia na 44.ª edição do Citemor, a coreógrafa Dinis Machado leva ao Teatro do Bairro Alto um olhar muito particular sobre a peça de Stravinsky, onde os “corpos questionam ideias dominantes de liberdade como um território sem regras. [Propondo] antes liberdades várias através das formas específicas como se tocam e se deixam tocar”. Com música original de Odete e cenografia, figurinos e luz da própria coreógrafa, A Sagração da Primavera – Memórias ternas de um afeto queer conta com performances de MC Coble, Ves, Mia Meneses, Ali Moini e Sumi Xiaomei Cheng. À atenção dos residentes em Lisboa menores de 23 e maiores de 65: este espetáculo está abrangido pelo Passe Cultura, uma iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa/EGEAC.
De 12 a 15 de janeiro no Teatro do Bairro Alto. Bilhetes aqui.
.

Noite de Reis
Texto de William Shakespeare, com encenação de Ricardo Neves-Neves
A Noite de Reis chamou Jorge de Sena “comédia de enganos e travestis”. Senão, atentemos à intriga principal (porque, a propósito de outros enganos, está a peça cheia): um naufrágio deixa Violeta à deriva nas costas do imaginário reino de Ilíria, governado pelo duque de Orsino. Disfarçando-se de homem, Violeta torna-se Cesário, e encontra trabalho enquanto pajem de Orsino. Por ele, intercede junto de Olívia com propósitos matrimoniais, mas a donzela acaba por apaixonar-se por Violeta/Cesário e não por Orsino, como suposto. Para instalar a “tempestade amorosa”, Violeta cai de amores por Orsino; mas, como ser correspondida se o duque a julga Cesário? Ricardo Neves-Neves estreia-se em Shakespeare com uma comédia muito musical, protagonizada por um elenco inteiramente masculino onde pontuam, entre outros, Filipe Vargas, Manuel Marques, Luís Aleluia e Adriano Luz.
Estreia a 26 de janeiro no Teatro da Trindade INATEL. Bilhetes aqui.
Uma obra de ficção pode ser tão pessoal como um livro de memórias?
Claro. A fronteira erguida pelo cânone literário entre ficção e memória, autobiografia, diário, epistolografia está profundamente ultrapassada e nunca foi justa. É anacrónica. Ando a dizer isto desde o primeiro livro que escrevi. A arte é íntima, é pessoal, mesmo quando se trata de um romance policial ou histórico. Não é possível estabelecer uma diferença qualitativa, valorativa entre a ficção e não ficção se o critério for a autenticidade ou confessionalidade. Nunca saberemos quanto de uma há nas outras, por vezes nem os seus autores. O ímpeto criativo não é totalmente controlado pelo autor. Na criação há um lado imaterial, eu diria mágico, que nos escapa. Imaginemos Siddhartha de Herman Hesse ou O Senhor do Anéis de Tolkien. São criações literárias ficcionais que respondem uma fé imensa em universos pessoais, criativos, estéticos, imagéticos, ideológicos, arquetípicos dos seus criadores. Eu costumo dar também o exemplo de Dostoievski. O que o levou a escrever Crime e Castigo? Como conhecia ele tão bem o universo dos usurários? De onde lhe veio aquela ideia para trabalhar a culpa? Nunca saberemos porque não interessa saber. A fronteira entre ficção e não ficção não se coaduna com a arte do nosso tempo na qual todas as formas de arte se encontram em diálogo sem género nem limites. O criador está inteiramente na sua obra, seja ela o que for. Pessoalmente implicado. Sempre.
Em que é que o processo de escrita deste livro foi diferente do anterior [A Gorda, 2016]?
Foi diferente. Eu conhecia bem a Maria Luisa, o David, o Papá e Mamã, e quando conhecemos bem as personagens uma parte da história já está escrita, carece apenas de destreza quando se verbaliza. No caso de Um Cão no Meio do Caminho eu não conhecia aquelas personagens e tive de construir uma relação com elas. Tive de as criar, conhecer, compreender e aceitar. E senti-las. Não tinha nada contra nem a seu favor, à partida. Claro que simpatizo mais com umas do que com outras, mas foram-se desenvolvendo em mim de acordo com a sua vontade, não a minha, e foi bonito. Aprendi muito.
Alguma vez se deparou com “um cão no meio do caminho” que viesse a adotar?
Eu sempre tive cães e gatos. A maior parte deles apareceram-me no meio do caminho, literalmente. No caso dos cães, apenas procurei dois: o primeiro, chamado Farrusco, que me foi oferecido pelo meu pai quando eu tinha seis anos e que trouxe comigo para Portugal aos 12, e o Tico, quando eu tinha 35 anos. Tive o Farrusco, o Pantufa, o Tico, a Micas, a Lili, a Morena e a Ninah. Agora tenho a Serra e a Marisol Tempestade. Mas também me aparecem outros animais no meio do caminho, como pombos feridos ou outros pássaros, que recolho, trato, recupero e depois devolvo à natureza. Os pombos são aves de enorme inteligência e beleza. Pertencem à cidade e não são ratos do ar. O município de Lisboa decorou este Natal as árvores da Avenida de Liberdade com pombos. É irónico que decore a cidade com lindos pombos e passe o resto do ano a capturá-los para eliminação. Inteligente, humano, um verdadeiro passo à frente seria autorizar colónias de pombos urbanos nas quais fosse possível vigiá-los, alimentá-los com qualidade e controlar a sua reprodução. Como podemos acusar de doenças contagiosas criaturas que as contraem porque as maltratamos, porque não cuidamos delas como de outros habitantes animais da urbe? Se comem lixo, claro que ficarão doentes. Ratos somos nós. Peço que não cortem esta parte da minha resposta e não a reduzam. Quero mesmo dizer isto.
Que importância tem para si o nome atribuído a cada personagem?
Muita. Os nomes são todos pensados e têm um valor afetivo ou simbólico. Sempre. No caso da mãe do José Viriato é simbólico. Ela é a Madalena bíblica. A Matadora chama-se Beatriz porque é o nome da personagem protagonizada por Uma Thurman na trilogia Kill Bill de Tarantino. Se se lembrarem, a Beatrix, no filme, faz um longo caminho até conseguir matar o homem que ama. O José Viriato tem o nome do meu pai. Quis homenageá-lo. O meu pai era o homem dos cães, tal como eu. Seria uma enorme honra se o escrevessem na minha lápide: aqui jaz a mulher dos cães e dos pombos e dos bichos todos. Sim, isso.

A causa animal é um tema central deste livro. A ética vegana da personagem José Viriato é também a sua?
A causa animal é um subtexto que está lá sem nunca se impor. Eu não quero exatamente fazer propaganda das minhas causas. É contraproducente. Um romance tem de ser um romance, em primeiro lugar, ou seja uma história bem contada, uma viagem. Quero mostrar o que vejo, penso, sinto, mas não está na minha mão convencer as pessoas de que a minha causa é correta. Cada um está no seu caminho, no seu processo de tomada de consciência. Respeito-o e compreendo-o. Eu também tenho feito um percurso. Esta é a minha causa, sim. Há um salto civilizacional prestes a acontecer que depende da forma como respeitaremos os animais. Já aprendemos que o caminho certo é respeitar as mulheres, as pessoas com diferentes traços étnicos, as pessoas não normativas em termos de género. Já percebemos que aqueles a que chamávamos inválidos são válidos. Falta-nos um saltinho que já começou a acontecer: o respeito pelos animais, nossos companheiros no planeta que habitamos e que a todos pertence. No dia em que isso acontecer merecemos a designação de humanos. Neste momento ainda não posso dizê-lo.
Não sou vegan, porque ainda não consigo. Não sei fazer aquelas comidas. Não aprendi. Detesto passar tempo a cozinhar. Para ser vegan teria de mandar vir a comida de fora, mas é complicado porque o meu estômago não suporta alho e a maior parte da comida vegan está carregada dele. Tenho tido más experiências. Resultado: sou vegetariana. Como ovos de galinhas do campo. Bebo leite, como queijo e manteiga. Os mais éticos, mas nunca se pode ter a certeza. Quando as empresas leiteiras nos dizem que as vacas são felizes eu penso sempre: serão mesmo? Onde dormem, o que comem, como são mantidas e tratadas? O que acontece aos filhos que têm? Como terminam o seu processo produtivo? Para onde vão quando já não servem para dar leite?
Tem alguém, cuja opinião sobre os seus livros, seja mais importante do que qualquer outra?
Eu e o meu editor, o nosso diálogo, a sua sensibilidade e a minha, o nosso confronto de mundos, de linguagem, de pensamento, é a mais importante opinião sobre o que escrevo. Mais ninguém.
O que é que procurou na experiência de escrever num blogue, e por que motivo mantém o seu ainda ativo?
Mantenho-o ativo porque as pessoas continuam a lê-lo e a falar-me dele. Quando comecei a escrever na blogosfera tinha passado oito anos sem publicar nada, sempre a trabalhar que nem uma louca como professora e a escrever os meus cadernos. A blogosfera ofereceu-me espaço público de leitura. E foi muito importante. Voltei a ter os meus leitores.
Em que medida será o problema da solidão uma consequência do desenvolvimento económico das sociedades?
A solidão não é assunto só desta época. Os seniores foram sempre relegados para uma enorme solidão, no passado e hoje. Eu não acredito que as pessoas nos lares não se sintam sós, profundamente sós. Se o lar for bom têm as suas necessidades de alimentação, higiene e cuidados de saúde assegurados, o que é um passo em frente, mas não chega. E a ida dos mais velhos para lares tem a ver com o desenvolvimento económico. Os descendentes trabalham e não têm tempo para cuidar deles. Essa é uma solidão.
A outra tem a ver com o excesso de trabalho, com a feroz competição existente nos empregos, a frieza entre vizinhos que não se falam nem conhecem. As pessoas passaram a temer-se. Sentem-se ameaçadas pelo outro e há uma potencial agressividade no ar, é verdade. Estão todos sozinhos porque tem medo dos colegas, dos vizinhos, dos outros ocupantes do café. É uma fobia que o capitalismo construiu. Pessoas infelizes compensam-se com mais compras: mais roupa, mais sapatos, mais gadgets.
O que diria à escritora Annie Ernaux caso a felicitasse presencialmente pela atribuição do Nobel?
Uma única palavra: irmã. Repeti-la-ia várias vezes. Querida irmã, querida irmã. Mas mais importante do que as palavras seria o abraço que gostaria de lhe dar. Um abraço que contivesse todo o amor e calor do mundo.
Acredita que estamos sempre a tempo de nos reconciliarmos com a vida?
Oh, sim, sempre. Acredito muito nisso, todos os dias, com muita fé e certeza. Estou sempre a fazê-lo. Mas há feridas impossíveis de curar. Que ficarão até à nossa morte e com a qual temos de aprender a viver como se vive sem um braço.
Os seus alunos alguma vez reagiram à sua notoriedade enquanto escritora?
Não sei. Eu tinha sempre de lhes falar nas aulas sobre o Caderno, porque eles descobriam que eu escrevia e eu sentia que devia explicar o uso da linguagem vernacular. Cheguei a ter problemas com encarregados de educação por esse motivo e tinha de me proteger. Mas no resto do tempo eu era apenas a professora. A notoriedade não me interessa, devo dizer. Notoriedade é uma palavra que designa aquilo ou aqueles que se fazem notar, que têm fama. Não vivo para isso. Quero ter valor como consequência da qualidade que me imponho. Quero que esse valor me seja reconhecido, que o meu trabalho seja respeitado, porque eu o respeito. Mas isso nada tem a ver com notoriedade.
Preocupa-se com a imagem que os leitores fazem de si pelo que escreve, ou usa de total liberdade?
Total liberdade, total liberdade. Aquilo que pensam de mim pertence aos que o pensam. Bem ou mal. Eu tenho a minha opinião íntima, a minha autoimagem, o meu instinto e intuição.
Ao longo do espetáculo, há um piano insinuante, que “representa o sistema de ensino”, e um ringue de boxe que desafia mestre e discípulo a enfrentarem-se. Em três assaltos arbitrados pela pianista e atriz Teresa Gentil e pelas intérpretes em Língua Gestual Portuguesa Valentina Carvalho e Cláudia Braga, a “professora” Carla Galvão (atriz) e a “aluna” Ana de Oliveira e Silva (bailarina) encarnam a dinâmica de forças presentes na escola. A testemunhar cada round está a pequena Vitória Fragata.
Mas, o que se passa em cada um dos assaltos e como é que os podemos entender enquanto metáforas do sistema de ensino? No primeiro, a força do mestre impõe-se sobre o discípulo. No segundo, tudo parece estar muito mais equilibrado, sem vencedor nem vencido, com o dominador a ser dominado e, simultaneamente, o inverso. Por fim, num derradeiro assalto, aluno e professor parecem misturar-se e confundir-se ao ponto de não ser percetível a conflitualidade, como se ali surgisse, fazendo uso das palavras de Miguel Fragata, “uma ideia mais idílica e utópica da relação professor e aluno.”

Má Educação, projeto que esteve por diversas vezes agendado para chegar aos palcos, mas que, entre uma pandemia e outros percalços, só agora tem encontro marcado com o público, é a mais recente criação de Inês Barahona e Miguel Fragata. O espetáculo resulta do olhar que a dupla foi desenvolvendo através do trabalho junto da comunidade escolar.
Como explica Inês Barahona, “andamos há dez anos a tentar perceber aquilo que nos chega da parte de professores, alunos, pais e auxiliares das escolas. No fundo, fomos sendo uma espécie de confessionário dessa comunidade. Porém, enquanto artistas, preferimos abrir possibilidades com este espetáculo, e não apontar soluções e caminhos para uma ideia de escola ideal na qual não acreditamos. Até porque não há uma escola. Há várias escolas.”
Ao contrário de trabalhos anteriores da dupla, Má Educação “não assenta numa narrativa, procurando trabalhar muito mais nas imagens, na construção de uma poética que permita abrir um espaço de possibilidade novo e inspirador”. Deste modo, para “não caminhar para zonas demasiado abstratas e chegar a todas as faixas etárias, procurámos a metáfora do combate de boxe, onde dois corpos, possivelmente mestre e discípulo, parecem voar, não construindo uma moral, mas antes abrindo a caixa e deixando que cada um de nós veja e reflita.”
Para abrir essa “caixa” de possibilidades para onde o espetáculo nos procura levar, Inês Barahona e Miguel Fragata contaram com a criatividade do coreógrafo Vítor Hugo Pontes e do músico Hélder Gonçalves, essenciais para procurar “esticar sempre os limites do possível.”
Depois do São Luiz, já em 2023, Má Educação – Peça em 3 Rounds vai estar em Guimarães (1 a 4 de março) e Porto (16 a 18 de março).
De onde vem o teu nome artístico?
Tinha vários nomes apontados num bloco de notas, mas que não faziam muito sentido. Um deles era la mouche du coche [risos], uma expressão de que gosto muito. Era um dos 30 que tinha apontado, mas que ainda assim não me parecia ser o nome perfeito. Um dia, estava a ver um documentário no Discovery Channel sobre a cultura da Etiópia e surgiu essa palavra, surma, que é o nome de um povo indígena. Achei fascinante porque fiquei a perceber que eles não ligam muito aos bens materiais, vivem um dia de cada vez, são muito agarrados à família, há um lado muito humano nesses povos. Achei essa ligação bonita de fazer à música. Gostei do nome por ser curto, mas também por todo o simbolismo. Fiquei a pensar nisso durante vários dias, mas depois acabou mesmo por ficar, até em jeito de homenagem.
És uma artista muito completa: a música anda de mãos dadas com a imagem. O lado visual é muito importante para ti?
Diria até que, quando vou para estúdio compor, o lado visual acaba por se sobrepor ao musical, o que pode parecer estranho, tendo em conta que a minha profissão é a música. A literatura também me inspira muito. Crio bandas sonoras na minha cabeça enquanto estou a ler. É estranho, mas a parte visual é a primeira coisa que me vem à cabeça quando estou a compor.
Caracterizar a tua música é muito difícil. Quais são as tuas maiores referências musicais?
Costumo dizer que a minha deusa inspiradora, desde os meus treze ou catorze anos, é a Saint Vincent. Apesar da minha música não ter nada a ver com a dela, ela inspira-me muito a nível estético e pessoal, porque tenta criar um universo muito próprio. Cada disco que lança é sempre o oposto do anterior, cria personas completamente diferentes de ano para ano… Quero ser como ela quando for grande [risos]. É uma Bowie feminina. É isso que quero ser enquanto artista: criar um mundo meu, um universo próprio. Ela inspira-me em todos os aspetos, é a minha musa.
Passaram cinco anos desde o teu primeiro disco, Antwerpen. Neste espaço de tempo sentes que cresceste como artista?
Estes cinco anos também estão relacionados com a falta de tempo que tive para criar. Trabalhei muito em teatro, cinema, moda, dança… Estas áreas influenciaram muito o álbum que criei este ano. Tento ir beber a várias áreas artísticas. Não gosto de me fechar apenas no mundo da música. Acho, sinceramente, que foi o tempo certo, até porque agora tenho maturidade para falar de temas como o bullying ou a androgenia, que há uns anos não tinha. Comecei a ver a vulnerabilidade como uma força e não como uma fraqueza. Sinto que sou uma pessoa muito diferente de há uns anos para cá, talvez por fazer terapia – que também é um tema que não deve ser tabu. Estou mais livre e mais solta, estes cinco anos deram-me outra perspetiva, fizeram-me ver coisas de uma forma diferente de quando lancei o Antwerpen.
Que significado tem o nome do disco, Alla?
Foi muito complicado chegar ao nome do álbum. Também tinha nomes escritos num bloco de notas, mas nenhum deles fazia sentido. Tentei perceber o que é que queria transmitir com este álbum, que mundo queria levar às pessoas. Quis explorar um universo sem qualquer género ou rótulo. Comecei a ver palavras em várias línguas e encontrei alla, que é uma palavra sueca sem género, que significa ‘tudo’, ‘todos’. Fiquei 100% resolvida em relação ao nome, porque fazia todo o sentido. Falei com uma amiga minha sueca e perguntei se era exatamente esse o significado da palavra e ela confirmou. Quis dar às pessoas um álbum que fosse para toda a gente, sem géneros nem rótulos.
Alla tem colaborações de Ana Deus, noiserv, Selma Uamusse, Joana Guerra, Cabrita, Victor Torpedo e João Hasselberg, artistas de diferentes áreas musicais. Como foi conjugar a individualidade musical de cada um deles com a tua?
São amigos músicos de longa data, com quem queria trabalhar há muito tempo. Aconteceu tudo de forma fluida, sem qualquer pressão. As demos já estavam todas fechadas quando as enviei para cada um dos convidados, e pedi para eles fazerem o que quisessem com as músicas. Foram dias incríveis em estúdio, eles trouxeram as suas raízes para as canções, que era o que eu queria. É um álbum que tem jazz, tem punk, tem contemporâneo. Era isso que eu queria, não me restringir num certo rótulo de género musical.

O disco aborda temas muito pessoais como a androgenia ou o bullying. Foi difícil falar abertamente sobre estes temas?
Foi um processo muito terapêutico. Quando estava a gravar a Islet era como se estivesse num processo de terapia com o Rui [Gaspar], que é o meu parceiro no crime e produtor do álbum. Falámos muito sobre uma situação específica da minha vida. Ele achou que a música devia ser um hino para mim e para as pessoas que passaram por situações semelhantes. Questionei-me sobre se deveria falar sobre isto, se devia mostrar este meu lado, mas concluí que sou uma sortuda por estar neste meio e por ter uma voz ativa. Sinto que tenho de ter esse papel. Quis que a música fosse uma mensagem de esperança, força e persistência para quem a ouvisse. Isso levou-me a ter uma ideia para o vídeo que seguisse a mesma linha: pegar numa situação do passado, mas que no fundo me ajudou a crescer. Costumo dizer que agradeço aos bullies por me terem feito ser a pessoa que sou hoje, com muito mais força e com uma outra perspetiva sobre diferentes situações. No fundo, foi um processo terapêutico para mim, e espero que seja também para quem ouvir, que passe uma mensagem bonita de força. Foi um bocadinho difícil partilhar este lado pessoal, mas já estou mais segura com este passo.
A música pode ser uma catarse também para quem a consome?
Sem dúvida. Ouço muitos artistas que partilham um lado pessoal nas suas músicas, e às vezes é pesado porque, de certa forma, me sinto ligada às letras ou até a nível instrumental. É um processo difícil esta partilha. São coisas porque passámos e interrogamo-nos se as queremos partilhar com o mundo. Mas, acho que foi esta questão da vulnerabilidade que me fez avançar. É bom falarmos nisto porque há muitas pessoas que estão a passar por aquilo que eu passei. Quero que não se sintam sozinhas. Recebi várias mensagens de pessoas a passarem por situações de depressão, que me disseram que esta música as tinha levado a um sítio bonito e isso fez-me sentir mesmo feliz. Nunca pensei que esta música as tocasse de forma tão pessoal. É isto que quero enquanto artista.
Qual a ideia por trás do vídeo de Islet ?
Partiu de uma ideia muito específica, que era dividir o meu cérebro em quatro salas que representam fases específicas da minha vida, e haver uma mutação da personagem dentro do vídeo. Trabalhar com os Casota Collective é sempre inacreditável porque se eu digo ‘mata’, eles dizem ‘esfola’ [risos]. A Tilda Swinton sempre me inspirou bastante, pelo seu lado andrógeno e pelos papéis que tem desempenhado. O último filme que ela fez com o [Pedro] Almodóvar, A Voz Humana, foi a grande referência para este vídeo. Foi dos primeiros vídeos em que me assumi como personagem e atriz. Foi extraordinário explorar esse lado.
Tens tocado em vários tipos de palcos, de grandes festivais a salas mais intimistas. As emoções que os concertos te provocam diferem consoante o palco?
Cada palco é um palco, cada atuação é diferente, mas quando estou a atuar entro sempre dentro da minha bolha. Como se a minha alma saísse do corpo e só voltasse quando saio do palco. Às vezes, até fico zonza da adrenalina toda e do que dou em palco. É muito estranho como por vezes vejo fotos ou vídeos dos meus concertos e há coisas que não me lembro de ter feito. É mesmo difícil explicar aquilo que sinto quando estou a tocar. A emoção é sempre a mesma, esteja a tocar para uma pessoa ou para mil, porque entro sempre numa bolha que é difícil de explicar, fico uma pessoa totalmente oposta àquilo que sou no dia-a-dia.
Também tens feito concertos para bebés. Como tem sido a reação desse público tão especial?
Se há público sincero são as crianças. O primeiro concerto que fiz para bebés foi mesmo muito emotivo. Tenho um arranjo para uma orquestra de sopros, as músicas ganham uma dinâmica mesmo bonita ao vivo e há um espetáculo de luzes muito intimista. Ver bebés e crianças até aos 5 anos a reagir e a perceber como absorvem a música é uma experiência muito especial. Há um momento em que eles têm oportunidade de tocar nos instrumentos e é muito bonito ver as reações. Ou odeiam ou amam. Uma vez um dos bebés fugiu do colo da mãe e foi a gatinhar ter comigo, foi muito cómico. Também é muito engraçado ver a interação deles com os instrumentos. Depois há uns que gritam imenso, que não querem estar ali [risos]…
Imaginas-te a escrever um disco para crianças?
Já pensei muito nisso, gostava de fazer um disco que entrasse no universo deles. Tentar explorar como é que eles absorvem a música, quais são os sensores em termos de ondas sonoras.
O concerto que levas à Culturgest no dia 17 dezembro foi pensado de propósito para aquele palco. O que estás a preparar?
Os concertos de apresentação foram muito pensados. O da Culturgest foi ainda mais pensado em termos de cenografia. Há uma parte performativa muito ativa, com vários convidados. O público que me acompanha está habituado a ver-me sozinha em palco, com a roupa do dia-a-dia. Com os concertos de apresentação do Alla vai ser uma experiência completamente diferente: vou tocar em trio, ter um outfit específico, vários convidados… vai ser uma dinâmica totalmente diferente do Antwerpen. As pessoas podem amar ou odiar, quero é que questionem e que fiquem a pensar no que acabaram de ver. É esse o objetivo destes concertos.
Quando sai o próximo vídeo?
Queria criar mais dois vídeos que fossem uma continuação do primeiro, ter uma trilogia, mas ainda não sei quando haverá tempo e orçamento para isso [risos]… já tenho muitas ideias, talvez lá para fevereiro ou março.
Anualmente, a Fundação INATEL atribui o Prémio Miguel Rovisco, com o fim de promover e estimular a escrita de textos originais para teatro em língua portuguesa. Na sua quarta edição, o júri composto por Diogo Infante, Rui Pina Coelho e Daniel Gorjão distinguiu Nuvem, peça de Carlos Manuel Rodrigues, autor com uma longa ligação ao teatro, premiado em 1969 com o Prémio Raul Brandão por Máquina de Naufragar, e reconhecido mais recentemente por ocasionais colaborações com o Teatro Infantil de Lisboa.
De Nuvem, considerou o júri ser uma peça onde “as personagens são coesas e os diálogos de cadência rápida”, contando uma história que “insinua a intriga policial, deixa-se atravessar pelo drama familiar e explora o tema da essência do artista, a dualidade entre o mercado da arte e a criação artística.”
Neste “thriller“, como assim a considera o encenador Daniel Gorjão, Ivo, um jovem marchant de arte sediado em Estocolmo, regressa à ilha natal, algures no Atlântico, para visitar a família. Ali encontra a mãe, presidente de uma fundação artística que representa um pintor renomado, artista de muitas liberdades e aventuras e que, por sinal, é o pai de Ivo. Embora habituada ao comportamento imprevisível do artista, a mulher encontra-se inquieta com o seu suspeito desaparecimento, e nem a presença do filho parece aliviar a preocupação.
Entretanto, uma erupção vulcânica no norte da Europa causa uma densa nuvem de poeira que provoca a suspensão de todos os voos no Velho Continente. Retido na ilha, Ivo acaba confrontado com um conjunto de revelações sobre o pai, a mãe e a fiel empregada da família. Como se não bastasse, uma amiga de infância, agora agente de polícia, anuncia-lhe que foi descoberto dentro de um poço aquele que se suspeita ser o corpo de um estrangeiro, antigo amante de Ivo.

Embora tenha mantido uma considerável relação com textos do teatro clássico ao longo dos anos, Nuvem é, no percurso artístico de Daniel Gorjão, uma surpresa. “Estou um bocadinho fora da minha zona de conforto, porque esta peça tem uma narrativa mais linear do que aquilo que vem sendo habitual no meu trabalho”, lembra o encenador. Tendo trabalhado textos de autores como Shakespeare ou Strindberg, Gorjão nunca propôs leituras objetivamente convencionais para os clássicos, mas aqui “conta-se uma história que é o que é. E, isso é ótimo.”
A linha estética do encenador será mais reconhecível na ambiguidade do espaço cénico da autoria do próprio. “Não quis naturalismo, muito pelo contrário. Procurei compor um cenário que não remetesse nem para um espaço, nem para um tempo concretos”, acrescenta.

Ao contrário daquilo que poderia ser sugerido à primeira vista pelo texto, Gorjão fez também uma opção na constituição do elenco: ter somente atores racializados. “Senti que esta história podia ser contada por qualquer ator, e no momento em que estamos, quando tanto se fala sobre o acesso das minorias ao trabalho, acho que fez todo o sentido chamar estes artistas para contar esta história.”
David Gomes, Ana Valentim, Carla Gomes e Vera Cruz são o quarteto de atores que dá vida a este thriller que promete agarrar à cadeira o espectador do princípio ao fim de cada récita. E, sem spoilers, afiançamos que Nuvem tem um desfecho surpreendente, a descobrir até final de janeiro do próximo ano no Teatro da Trindade INATEL.
Cláudia Varejão, realizadora, mas também fotógrafa e argumentista, tem revelado na sua obra pessoas e vivências reais. O seu trabalho resulta da estreita relação que constrói com aqueles que retrata.
Depois de várias curtas-metragens, a realizadora estreou a primeira longa-metragem, Ama-San, em 2016, um filme que acompanha a vida de três mergulhadoras japonesas e que lhe valeu uma série de prémios em vários festivais de cinema. Seguiu-se Amor Fati, um documentário que retrata pares que se completam, e agora Lobo e Cão, a sua primeira obra de ficção. Rodada na Ilha de São Miguel nos Açores, teve estreia mundial na 79.ª Bienal de Veneza, onde arrecadou o prémio de Melhor Filme na Giornata degli Autore.

Embora trabalhe matéria ficcional, o filme parte da realidade e resulta do longo trabalho que a realizadora fez com habitantes da ilha de São Miguel.
Ana, a personagem central, filha do meio de três irmãos que vivem com a mãe e a avó, é uma jovem que questiona o mundo que a rodeia, marcado pela religião e tradição. Através da vivência de Ana e do seu grupo de amigos, Varejão aborda questões que sempre a interessaram e que se prendem com a luta pela liberdade individual, o combate às desigualdades socioeconómicas e a injustiça em que vivem as minorias. “Parti para este filme com o desejo de retratar lugares que me interessam: as heranças dos papéis sociais e familiares e as questões em torno da identidade de género”, sublinha a realizadora.

A ilha de São Miguel, local onde decorre a ação foi também fonte de inspiração para esta obra “A primeira vez que aterrei em São Miguel o sol já se punha. (…) Retive a imagem de uma ilha azul e recordei os versos de Sá de Miranda: no meio do claro dia / andais entre lobo e cão.”
O filme retrata precisamente a dualidade que estes jovens vivem e a luta que essa mesma dualidade permanente implica. A escolha entre ficar ou partir, entre assumir uma sexualidade e um comportamento que vão, supostamente, contra os preceitos religiosos, ou cumprir as regras da comunidade em que se cresceu. “As dicotomias fazem por isso parte deste filme: união e isolamento, certeza e dúvida, luz e escuridão, sonho e realidade.”
Uma ode à comunidade queer de São Miguel
A equipa técnica e artística do filme é composta por diversos elementos locais e o envolvimento da comunidade foi essencial. O elenco é formado por atores não profissionais. Nesse sentido e tendo em conta o contexto da ilha associado à temática LGBT do filme, a realizadora compreendeu que a juventude e a ambição natural deste grupo de jovens não atores necessitava de apoio terapêutico.
Nasceu assim um projeto de apoio social à comunidade LGBTQI+ do arquipélago, o projeto (A)MAR – Açores Pela Diversidade. Esse apoio psicológico levou à criação de um grupo de suporte que contribuiu para o desenvolvimento pessoal dos jovens, permitindo ao mesmo tempo protegê-los de possíveis vivências de discriminações relacionadas com a orientação sexual e identidade de género, anteriores, presentes ou posteriores à realização e exibição do filme.

Nas notas sobre o filme, Varejão afirma que “a ficção surge em Lobo e Cão como um lugar de liberdade de criação do eu e da própria ideia de comunidade, onde cada pessoa envolvida pode ser aquilo que (ainda) não é e a interação em grupo abre-se a novas possibilidades. É a pedra de toque para o lugar de mudança e campo para semear os sonhos ocultos. Acredito que a obscuridão em que muitos jovens do filme moldaram as suas vidas é também o lugar que os permitiu encontrar a luz certa para moldar as suas personagens.”
E é, com esta convicção, que podemos olhar para Lobo e Cão como uma ode dedicada à comunidade queer desta ilha açoriana.
Quem é o Velhote do Carmo?
É o Ricardo Alexandre Fernandes Velhote do Carmo Pereira. Muita gente me pergunta de onde vem o meu nome artístico, acham que há ali alguma ideia engraçada por trás, mas, na verdade, é só a junção do nome da minha mãe – Velhote – com o do meu pai – do Carmo.
Como tem sido a aceitação do público?
Tenho recebido bastante apoio. Depois de ter gravado este EP, houve muita gente a dizer-me que estava muito bom e que gostavam da minha voz, o que, para mim, era o elemento mais frágil, porque comecei a cantar há relativamente pouco tempo, especialmente em português (em Zanibar Aliens canto em inglês). Na verdade, antes deste EP gravei um em inglês, mas depois decidi não o lançar, até porque não há nada mais chato do que um português a cantar em inglês [risos]. Acho que o mais natural é exprimir-me na minha língua.
Mau Andar e Saco de Boxe são os primeiros singles do EP de estreia. Que histórias contam estas canções?
A ideia de gravar um EP começou durante a quarentena. Entrámos nessa fase e, de repente, fiquei sem chão, sem saber o que fazer. Pensei que, se a pandemia durasse muito tempo, nunca mais ia conseguir ser músico, que é o que me dá gasolina para andar. Mau Andar é uma sátira a uma fase mais complicada da minha vida. Fala sobre o facto de eu estar sempre meio coxo porque não sabia muito bem o que ia acontecer. A Saco de Boxe é o clássico desgosto amoroso. Há pessoas que, quando estão numa relação, gerem a sua vida em prol da outra pessoa. A canção fala sobre isso, sobre a mudança de rotinas, como ir sozinho para a praia, por exemplo. Nessas alturas sentimos a falta da outra pessoa, mas no fundo estamos melhor assim.
Como definirias o teu som?
São músicas feitas à anos 60, com guitarra e voz. Depois trabalho-as com uma banda (como nos anos 70) e, no final, vou produzir as músicas com uns sons dos anos 60, 70 e 80, e junto tudo. Tenho vários processos e sonoridades que interligo. Os sintetizadores são uma presença muito forte neste EP. Mas a base de tudo é mesmo à Beatles: guitarra e voz.
Como funciona o processo de criação?
Primeiro, faço a produção de acordes que acho interessantes, depois estruturo tudo numa melodia e, depois, vou encaixando as palavras. Tenho esta mania de nunca escrever primeiro os versos. Começo sempre pelo refrão, o que dificulta, porque depois tenho dificuldade em manter o nível. Ou então escrevo primeiro o refrão mas depois, se o verso ficar melhor, volto atrás e estou sempre assim neste processo…
Tocas vários instrumentos, produzes, fotografas… qual a tua maior paixão?
A música. Há uns anos não conseguia dizer isto, mas agora já consigo. A música sempre foi uma parte importante da minha vida, mas há três anos estava a explorar mais a parte da fotografia, do vídeo e outros campos artísticos. Às tantas, já estava a começar a perder-me e a querer fazer tudo. A partir de certa altura percebi que a música era mais importante e passei a tratar a fotografia como um hobbie. De certa forma, o lado visual acaba por me ajudar porque enquanto músico já tenho as ideias na minha cabeça e sei o que quero. Logo de início disse que queria que os dois singles tivessem uma capa como um anúncio para depois interligar com o nome do disco. Este meu lado estético vou-o usando também no lado musical.

Fazes parte de outros projetos, como os Zanibar Aliens. Porquê esta vontade de seguir a solo?
Percebi isso durante a quarentena. Nessa fase fui um rebelde. Todos os dias saía de casa e ia fechar-me no estúdio. Com o passar do tempo, percebi que devia fazer um álbum ou um EP. Inicialmente entrei a pés juntos e quis lançar um álbum. Depois decidi que ia fazer as coisas com calma. Só agora, em 2022, é que o estou a lançar, mas a ideia começou há dois ou três anos.
Então, a pandemia foi um momento criativo?
Na verdade, sim, nunca estive parado. Durante essa fase, partilhava o estúdio com um amigo fotógrafo. Todos os dias estava a revelar ou a fazer experiências em papel fotográfico, só para desanuviar a cabeça. Depois ficava até às quatro da manhã a fazer música.
És o tipo de pessoa que, no carro ou em casa, ouve as próprias músicas?
Nesta fase final tive de o fazer porque estava um bocado nervoso com as misturas, precisava de ter mesmo a certeza que soavam bem. Já não as consigo ouvir como um ouvinte normal, porque conheço todos os detalhes de trás para a frente, sei o erro mais minucioso em que, provavelmente, nunca ninguém vai reparar. Em Zanibar também fazia muito isso: ouvir até à exaustão. É uma regra que espero quebrar em breve, porque estive dois anos a ouvir as minhas músicas em loop.
Páginas Amarelas é apresentado este mês no Musicbox. Em que vai consistir o concerto?
O EP tem seis músicas e cerca de 20 minutos. Por exemplo, a Mau Andar tem dois minutos e 12, que é uma forma de fazer as pessoas ouvirem a canção mais vezes. Claro que, ao vivo, vai ter outra duração, vou apresentar outras versões. A estrutura do concerto está montada para que haja transições. É um bocado aquilo que faço em Zanibar. Desde muito novos que aprendemos a montar um espetáculo, a saber manter o público ligado, fazer as pausas certas, os momentos de silêncio na altura ideal… parece que o concerto vai ter 15 minutos, mas na verdade terá cerca de uma hora.
Contigo em palco vão estar Benjamim, Filipe Karlsson, A Sul e Alexandre Guerreiro. Como vão funcionar estas parcerias?
Vamos ter um trio (eu, o Filipe Karlsson e o Alexandre Guerreiro), uma coisa tipo Bee Gees [risos]. Com A Sul vou fazer uma coisa engraçada: cada um canta metade de uma frase, uma coisa assim meio romântica. Também vou ter o mítico Luís Nunes (Benjamim) e, claro, a minha banda. Vamos tocar uma música que não é nem minha nem de nenhum dos convidados, e uma música de um deles.
Um novo EP ou um álbum está nos planos mais próximos?
Como comecei por fazer um álbum que se transformou num EP, quero ter essa liberdade de fazer o que me apetecer na altura… Chateia-me a ideia de haver pessoas a fazerem música por fazer, só porque é ‘fixe’. Não concordo com isso. Faço música porque gosto, acho que sou um egoísta que consome a sua própria arte [risos]. Foi por isso que lancei este EP com seis músicas porque gosto genuinamente delas.
paginations here