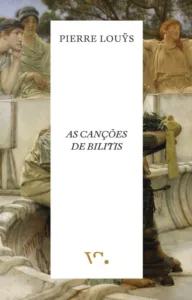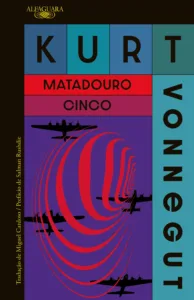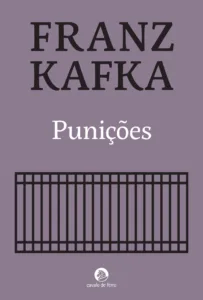Pela primeira vez temos um filme português candidato aos Óscares e é um filme de animação. Como recebeu a notícia?
Foi bastante empolgante e uma grande emoção. Aliás, este ano comemoram-se os 100 anos do primeiro filme, que se conhece, da animação portuguesa. Nesse sentido a MONSTRA, juntamente com a Cinemateca e outras entidades, celebra a data. Não deixa de ser uma espécie de efeméride que, um século passado, haja um filme de animação português na corrida aos Óscares. Fico também muito contente, porque há uma certa “supremacia”, ou uma atenção especial dada ao cinema de imagem real em detrimento do cinema de animação.

É, também, a primeira vez que uma curta-metragem estreia comercialmente, num formato inédito. É raro os filmes de animação nacionais chegarem às exibição comercial. O que pensa disso?
Acho que há um desconhecimento em relação ao cinema de animação. Uma informação estatística que temos, e que diz respeito a um levantamento que fizemos dos últimos dez anos da Agência da Curta-Metragem – que é quem distribui uma grande parte das curtas, tanto de imagem real como de animação -, conclui que quase 70% dos prémios são para filmes de animação e não de imagem real. Por outro lado, olhando para o circuito dos festivais, que têm grande sucesso em Portugal, falamos da MONSTRA, mas também do Cinanima, do IndieLisboa, do DocLisboa, do Motelx, não faz muito sentido que ninguém pegue em quatro ou cinco curtas e faça uma sessão de uma hora ou hora-meia em que o público não vê um único filme, mas três ou quatro. Se calhar, não só do ponto de vista das histórias, mas também da emoção e da estética seria uma mais-valia. Depois há uma característica no cinema de animação português que, para mim, é ainda mais forte do que no cinema de imagem real de ficção: o facto de trabalhar muito a nossa cultura. Isso é uma mais-valia para o público e é um nicho de mercado pouco explorado dentro do circuito comercial dos cinemas. Era bom para todos, em particular para o público, mas também para realizadores e produtores verem as suas obras em sala a par dos frequentes blockbusters.

Coincidência ou não, este ano a programação tem a maior participação portuguesa de sempre na competição. São 70 filmes. Há cada vez uma maior aposta no cinema de animação nacional?
Por um lado, durante dois anos houve uma paragem do ritmo de trabalho e muitas obras terminaram mais tarde do que o previsto, levando a uma certa acumulação de filmes. Depois há algum dinheiro para apoiar a produção. No entanto, o investimento deveria ser ainda maior para que as produções não parassem. Por exemplo, terminam duas longas-metragens, formaram-se uma série de pessoas, entretanto há um hiato porque não há mais dinheiro para que outros filmes que estão na calha continuem. Essa força de trabalho, que nós formámos, em quem investimos, acaba por procurar trabalho fora de Portugal. Isso, até do ponto de vista comercial, é errado. Não devem existir apoios para filmes de dois em dois anos, mas sim todos os anos. Sabemos que não há muito dinheiro, mas os produtores portugueses também aprenderam a conseguir financiamento no estrangeiro. O filme do Nuno Beato, Os Demónios do Meu Avô, por exemplo, tem uma coprodução com a Espanha. Era importante que o financiamento europeu e nacional dessem uma maior tónica ao cinema de animação, porque este oferece um imaginário e ao mesmo tempo consegue tratar problemáticas difíceis de uma forma profunda. O filme Nayola, de José Miguel Ribeiro, fala da guerra de Angola de uma forma que para mim muitos filmes de imagem real ainda não conseguiram, porque utiliza metáforas que no cinema de animação são mais fáceis de conseguir. Visitamos Trás-os-Montes, o Minho, toda a nossa cultura tradicional no filme do Nuno Beato, Os Demónios do Meu Avô. Vamos ao encontro da nossa cultura de uma forma muito realista, mais realista até do que num filme de imagem real.
O Japão, um dos países com maior relevância no cinema de animação, é o país homenageado nesta edição. Como organizaram esta parte da programação e quais os maiores destaques?
O país que homenageamos está sempre ligado a um facto histórico e este ano celebram-se os 480 anos da chegada dos primeiros ocidentais, os portugueses, à costa do Japão. Partindo desse facto dividimos esta programação em três blocos: um mais histórico, que inclui uma grande retrospetiva de célebres realizadores que estiveram na origem do cinema de animação no Japão; outro que exibe os filmes menos conhecidos do Studio Ghibli e por fim, um bloco, dedicado aos realizadores independentes. A abertura do festival conta com uma obra de um desses realizadores, um filme em estreia mundial, com música de um grande compositor para cinema de animação, o canadiano Norman Roger, e que contará com interpretação ao vivo do Coro da Escola Superior de Música de Lisboa.

A MONSTRA é sempre um festival de animação do mundo. Este ano estão representados 50 países. Que exibições ou convidados internacionais destaca.
Vamos ter um convidado muito especial, o Michaël Dudok de Wit, que fará uma masterclass sobre criatividade e do qual vamos passar algumas curtas, uma delas também oscarizada, Father and Daughter, assim como a longa, A Tartaruga Vermelha, que foi a única que o Studio Ghibli fez com um ocidental. Haverá também outra masterclass com Joan Gratz, realizadora americana especialista em animação de tinta sobre vidro. Depois há um programa muito interessante que vai ligar a língua portuguesa. O ano passado fizemos um filme que teve como ponto de partida os 200 anos da Independência do Brasil intitulado A Língua é a Nossa Independência, um trabalho feito em Portugal, em pareceria com realizadores brasileiros que partiu do facto de a língua portuguesa estar presente em três continentes e neles se recriar. O filme foi uma espécie de mote para o projeto Anima CPLP, que tem como mentor o João Marcelo, representante brasileiro na CPLP e que nos impulsionou a pegar em filmes de países onde praticamente não existe cinema de animação, como Cabo Verde ou São Tomé e Príncipe. Vamos fazer uma sessão de curtas de seis dos nove países da CPLP e uma sessão de longas onde são exibidas maioritariamente obras de Portugal e do Brasil. Esta programação culmina com um concerto que reúne uma rapper angolana e um rapper brasileiro. Por fim, temos várias estreias mundiais de filmes portugueses, entre eles o mais recente trabalho da Joana Imaginário, A Casa Para Guardar o Tempo, centrado nos livros e na necessidade de os preservar e por isso feito exclusivamente em papel e O Casaco Rosa, de Mónica Santos, que fala do Rosa Casaco de uma forma infantil, sem deixar de expor a realidade de um PIDE.

Apesar de ser um festival de animação para adultos a MONSTRA exibe paralelamente a MONSTRINHA dirigida aos mais novos. Qual a recetividade das escolas e a importância da formação de públicos deste programa?
A MONSTRINHA é o programa de que mais nos orgulhamos no festival, não só pela quantidade de escolas e crianças que são abrangidas, mas porque é um trabalho que faz sair as crianças do seu conforto para uma sala de cinema, onde podem ver filmes numa dimensão e envolvência diferentes. Por outro lado, permite uma discussão e a participação efetiva, uma vez que também eles votam nos prémios MONSTRINHA. Temos muito público juvenil e adulto que assiste à MONSTRA porque já teve uma iniciação na MONSTRINHA. Há também várias pessoas que estão ligadas à animação porque participaram, em criança, nas nossas oficinas. Acima de tudo a MONSTRINHA cria futuros espectadores. Acredito que os festivais de animação são o futuro das salas de cinema, porque mesmo os blockbusters, com a questão do streaming, vão cada vez mais ter dificuldade em ser exibidos num cinema. O festival é aliciante porque é o local onde se vê o filme em sala, mas onde também se pode contactar com o realizador, com os atores… Há toda uma envolvência. Acredito que as salas de cinema vão perdurar mais, por causa dos festivais de cinema.
Programação integral aqui
Calíope é a primeira das musas da antiguidade clássica, conhecida como “a da bela voz”. É também o nome de um disco que celebra a mulher enquanto musa criadora, composto por nove artistas portuguesas: Marta Hugon, A Garota Não, Aline Frazão, Ana Bacalhau, Elisa Rodrigues, Joana Alegre, Joana Espadinha, Joana Machado e Luísa Sobral.
De acordo com a mentora do projeto, a cantora de jazz Marta Hugon, a ideia surgiu “da constatação de um facto: a de que há ainda um longo caminho a percorrer pela igualdade de género dentro da indústria musical e da sociedade”. Marta recolheu histórias de discriminação “partilhadas por outras mulheres da música, dentro e fora do palco, alunas e mulheres de diversas gerações” e apercebeu-se que “todas se apoiam em valores estereotipados daquilo que é expectável ou aceite por parte da mulher artista. O mito da musa inspiradora é uma dessas narrativas e a vontade de transformá-lo num novo mito – o da musa criadora – nasce nesse contexto”.
Juntamente com o diretor musical Luís Figueiredo, a cantora escolheu “vozes de diversos quadrantes da música, com diferentes abordagens ao tema da criação no feminino, em que cada uma fizesse transparecer a sua vivência enquanto artista mulher”. Nove incríveis vozes femininas, “porque eram nove as musas da antiguidade clássica.”
A 8 de março, Dia Internacional da Mulher, Calíope apresenta o álbum de estreia no Teatro Maria Matos. Um projeto que não se quer ficar por um único disco, até porque há “muito a fazer pela igualdade de género no nosso país e Calíope é um conjunto de belos testemunhos em forma de canção que eu gostaria que chegassem a todo o país e a todas as faixas etárias”, afirma. A cantora vai mais longe e diz querer chegar “às miúdas que pensam ser instrumentistas, aquelas a quem dizem que nunca vão ser suficientemente boas, mas também aos rapazes e homens que não se manifestam quando assistem a atos de discriminação na escola, na família, no local de trabalho. Calíope é uma amostra daquilo que as mulheres e os homens podem fazer juntos quando têm um propósito comum e, neste caso, quando partilham o amor pela música.”
Durante o intervalo num ensaio, junto de um ainda improvisado décor, composto por uma cama desfeita, um andarilho e uma cadeira de rodas, fomos conversar com o ator que, uma vez mais, volta a desafiar-se num registo a que o grande público estará certamente pouco habituado.
É curioso como dois dias antes de estrear aqui na Politécnica Foi assim, estares no Casino de Lisboa a fazer o papel da empregada doméstica Palmira, na comédia de Marcos Caruso Trair e coçar é só começar. Como é que um ator de teatro gere uma mudança aparentemente tão brusca?
Gere-a, precisamente, por ser ator e por ser essa a sua função. Ao longo dos anos tenho procurado sempre experimentar vários registos, vários géneros, trabalhar com grupos e com encenadores diferentes. Fazer teatro à noite, mas antes, durante o dia, estar a fazer televisão, cinema… É tudo isso que é maravilhoso na arte de ser ator.
Mas, os atores costumam considerar que o teatro exige que se vista a pele da personagem. Nunca temeste que as personagens começassem a coexistir?
Não, não. Há atores que dizem deixar a personagem ora aqui, ora ali. Eu sou daqueles que não a deixa em lado nenhum [risos]. Ainda há pouco falava com o Tó [António Simão] sobre isto e lembrávamos aquele ator americano, o Christopher Walken, que diz que nem a ele se conhece bem, quanto mais à personagem. O ator de teatro tem de vestir a pele, mas depois despe-a, e vai à sua vida. Neste momento, é impossível alguém imaginar o prazer que me dá estar aqui com o Tó a ensaiar Jon Fosse e, daqui a umas horas, estar a fazer uma comédia de “portas”, num registo bem mais ligeiro. De facto, só o ator pode sentir o que é estar numa e noutra pele de uma hora para a outra.
Gostava de voltar a essa ideia de vestir, e despir, a personagem nos vários registos. O personagem do teatro é mais intenso do que o da televisão ou do cinema?
O teatro exige um trabalho mais profundo, mas isso não quer dizer que seja mais ou menos sério do que aquele que o ator desenvolve na televisão ou no cinema. Somos profissionais e, com certeza, damos sempre o melhor em tudo. Claro que aqui no teatro, pelo tempo que se tem, há uma maior possibilidade de pesquisar, de ir procurar a personagem e, extremamente importante, aprofundar o texto. É como nós costumamos dizer: se o ator fosse um atleta, o teatro era uma maratona e a televisão eram os cem metros.
Precisamente por ser um trabalho mais profundo, quando se está a fazer teatro e televisão ao mesmo tempo, não surge alguma estranheza?
Não. Sempre fiz muita televisão e teatro ao mesmo tempo e convivi bem com isso. Contudo, reconheço que a televisão é o momento, é uma fábrica de produção. Já o cinema é diferente, pois apesar de tudo há mais tempo, embora se saiba que o ator está lá para que o realizador faça o seu trabalho. O teatro, esse sim, é diferenciado de todos os outros porque, sem desprimor para o encenador, é sempre o produto do trabalho do ator.
És, portanto e acima de tudo, um ator de teatro…
Sou um ator que gosta muito mais de teatro do que de qualquer outro meio. Sempre disse, e reafirmo, que o teatro é a minha casa. É prazeroso e muito mais gratificante porque temos o público à nossa frente, e é para ele, e só para ele, que fazemos este trabalho.
Centremo-nos então neste monólogo que, presumo, deva ser extremamente desafiante para o ator, tendo em consideração que Fosse é um autor que usa muito a repetição, a pausas e até o silêncios como matérias estruturais da sua escrita.
Não conhecia muito bem o Jon Fosse, embora soubesse que os Artistas Unidos já o tinham encenado várias vezes. Agora, ao trabalhar uma peça dele, estou a entender a real dimensão deste autor, não só poética, como até filosófica. Isso percebe-se através do modo como comunica, como escreve, como sente. Como dizes, os silêncios são fundamentais, mas acima de tudo, o mais importante é o valor da palavra e o seu peso linguístico. E nós estamos cá para, da melhor maneira, transmitir essa forma de sentir muito própria do autor.
Há alguma particularidade no texto que te esteja a surpreender especialmente?
Há algo muito curioso que tem vindo a acontecer nos ensaios: ao fazer a personagem e ao repetir, e repetir, vão surgindo coisas que parecem não existir à partida, quando se lê a peça pela primeira vez. E, ao dizê-lo, o texto vai mostrando que os silêncios também têm coisas para contar e que existe um significado concreto nas repetições. Estranhamente, aquilo que parece não ter sentido, de repente, ganha sentido…
Esse trabalho de descoberta constante sucede durante os ensaios?
Os ensaios são uma constante procura. Este texto é daqueles que exige ao ator esgravatar até encontrar o registo certo. O Tó vai-me dizendo “boa Zé, isso funciona, é fixe”, “não, isso não”… Estamos sempre como que a tatear no escuro até encontrar o caminho. Depois, tudo isto é muito musical, embora as notas surjam de modo surpreendente, ou seja, não é fácil perceber que ali é um dó ou acolá é um fá…
[António Simão entra na conversa para lembrar que Jon Fosse foi músico e que nos seus textos “não interessa propriamente a história ou a personagem, mas a musicalidade das palavras”, daí “ser tudo muito ao nível do que e de como se ouve. Como ele diz, ‘escrever é ouvir’”.]

Os últimos trabalhos de Fosse são marcados pela sua conversão ao catolicismo. Sendo esta peça de 2020, isso é percetível?
Ainda há pouco falávamos da religiosidade e dessa conversão ao catolicismo, que vem explicitada na ideia da “ressurreição da carne” ao longo da peça. E, é engraçado como ao dizer o texto se descobre aqui e ali uma musicalidade que lembra o padre a dizer a missa. Mas, atenção, não é uma peça religiosa.
Imagino que a experiência que tens na comédia e na revista seja importante…
Sim, claro. Ao longo da minha carreira fiz vários musicais e, como se costuma dizer, acho que tenho bom ouvido. Essa minha bagagem de ator traduz-se nas intuições que vou tendo para interpretar os silêncios e as pausas no Fosse como o ritmo da música que tenho que tocar. O Tó está sempre a dizer-me que “isto foi escrito como uma pauta”…
Já conseguiste descobrir quem é este homem à beira da morte que protagoniza a peça?
Diria que, na cabeça do Fosse, este homem contem os temas que lhe são caros enquanto autor, ou seja, a vida e a morte, a arte e a religião. É uma peça sobre a dúvida constante que é a morte, mas a morte enquanto parte da vida.
A peça chegou a ser pensada pelo Jorge Silva Melo para uma última aparição enquanto ator. Vais ser tu a fazê-la…
Há algo de simbólico em tudo isto. Era, de facto, a peça que o Jorge tinha escolhido para a despedida como ator e, por ser sobre a morte, ele dizia ser qualquer coisa que já estava a ensaiar. O que lamento profundamente foi não ter trabalhado com uma figura tão relevante como o Jorge…
Mas, ainda fizeste um pequeno trabalho com os Artistas Unidos há uns anos…
Foi uma pequena colaboração num espetáculo sobre a Assembleia da República [Cada dia a cada um a liberdade e o reino, 2003]. Fiz foi o Germânia 3 do Heiner Müller, encenado pelo Jean Jordheuil, que foi o Jorge que programou e me convidou. E fi-lo por ele, pela grande figura do teatro português e por saber que ele era um homem que gostava dos atores.
[António Simão enfatiza: “Do Zé, como de um ou de outro ator, o Jorge dizia ser daquela estirpe que a seguir ao espetáculo temos muita vontade de convidar para um café e conversar. Atores que atraem e que consideramos da família, ou seja, os atores que verdadeiramente o público acarinha.”]
Tens alguma lembrança especial do Jorge?
Lembro de uma noite no Parque Mayer, estarmos, eu e a Mariema com ele, nos snookers, a seguir a um espetáculo. Ficámos na conversa até às tantas da manhã, coisa rara para o Jorge que não era de todo um notívago. Ali estivemos a contar histórias da vida e do teatro. Era uma delícia ouvi-lo a ele e à Mariema, outro bicho do teatro. No final, prometemos que havíamos de repetir, mas nunca aconteceu.
Ao contrário do que muita gente pensa, tens feito coisas muito diferentes no teatro. Há pouco falavas, por exemplo, de Heiner Müller, autor que até fizeste várias vezes. Já algum fã te abordou porque sentiu ter ido ao engano?
Há sempre uma ou outra história com público que não está muito habituado a este tipo de teatro, e me vê sempre como ator de comédia e de Revista. Mas, o engraçado é ser no teatro ligeiro que surgem as situações mais curiosas. Ainda há uns tempos, estava eu a fazer uma comédia, vieram ter comigo, dão-me os parabéns e dizem: “ó Sr. Raposo, esta revista era gira, mas fazem falta as bailarinas!” [risos] Há muitos públicos, e mesmo o menos habituado a um teatro dito elitista pode sair daqui satisfeito, até porque veio ver algo que é fantástico e que lhe poderá abrir outros horizontes. No fundo, a magia da arte do ator é surpreender, e acho que um ator como eu, com o rótulo do tipo que faz rir, aparecer em cena com um Fosse é sempre uma surpresa.
E como já vimos, que útil têm sido as comédias e os musicais na composição da personagem…
Sobre isso, tenho uma história curiosa que me aconteceu há muitos anos, quando fiz uma peça de um surrealista, o Manuel de Lima, chamada Malaquias ou a história de um homem barbaramente agredido, com encenação do José Carretas. Estávamos a fazer aquilo em Massamá, e no final do espetáculo o Orlando Costa veio ter comigo e diz-me que eu era um gajo esperto porque trouxe da Revista as coisas positivas e usei-as ali. Para mim, aquelas palavras fizeram-me sentir que de todos os géneros podemos retirar coisas boas e aplicá-las sem preconceitos.
Para terminar, como é para o ator estar só em palco?
O monólogo é um exercício sem rede, estando a contracena entregue ao público. É de uma exposição total, onde tudo depende de nós mesmos e as falhas são só nossas. Mas eu tenho um truque…
Qual?
Vou ser pontuado pela Sara Barradas. Eu sei que para muita gente é uma inovação, mas eu ainda sou do tempo em que havia pontos no Parque Mayer. Habituei-me, porque nunca fui de “marrar” texto. E aquilo dá muito jeitinho porque me liberta para a criatividade e permite estar disponível para apreender tudo o que se passa em meu redor. O Fosse diz que escrever é ouvir, não é? Pois, para mim, representar é ouvir.
Pierre Louÿs
As Canções de Bilitis
Pierre Louÿs (1870/1925) foi o autor da novela A Mulher e o Fantoche (que inspirou três adaptações ao cinema, duas delas verdadeiras obras-primas: The Devil Is a Woman de Josef Von Sternberg, 1935, e Este Obscuro Objeto do Desejo de Luis Buñuel, 1977) do romance Afrodite, uma das obras com que pretendia “pôr a viver de novo a Antiguidade”, e do Manual de Civilidade para Meninas, clássico da literatura pornográfica. Os seus escritos evidenciam um finíssimo prosador e poeta, expoente do esteticismo decadente e do simbolismo tardio. As Canções de Bilitis foram publicadas em 1894 como traduções de Bilitis, poetisa grega do século VI a.C. Narram, por ordem cronológica, a sua adolescência, um amor infeliz e um filho que abandona, a sua iniciação no amor sáfico e a sua afeição por Mnasídica, uma jovem da sua idade, e a sua vida de cortesã. As Canções são, no entanto, uma pura criação de Pierre Louÿs; a poetisa Bilitis nunca existiu fora da sua imaginação. Este embuste literário permitiu-lhe, para além de mostrar a sua real erudição, criar um equivalente moderno da poesia grega, dissimular-se para escrever textos ousados e mistificar especialistas e catedráticos, saciando-se do desprezo que sentia pela Universidade. Versão portuguesa de Júlio Henriques.
Kurt Vonnegut
Matadouro 5
Kurt Vonnegut (1922-2007), herói da contracultura americana, senhor de um estilo muito pessoal e imaginativo, apelidado de “wide screen baroque”, misto de pessimismo, sátira e humor negro, integra frequentemente nos seus livros elementos de ficção científica numa vasta reflexão sobre a guerra, a condição humana e a impossibilidade de falar verdade. O escritor demorou 20 anos a transformar a sua experiência de prisioneiro na II Guerra Mundial neste romance que constitui a sua obra-prima. Billy Pilgrim, o protagonista, encarcerado pelo exército alemão na cave de um matadouro em Desden, tal como o autor, assiste ao bombardeamento americano da cidade, “o maior massacre da história da Europa”. Nesta obra singular, revive esse acontecimento trágico, despega-se do tempo e convive com os habitantes de um planeta longínquo, Tralfamadore, em busca de sentido para um mundo à beira da insanidade ou, nas palavras de Vonnegut, “a tentar reinventar-se e reinventar o seu universo”. Romance psicadélico, no qual passado, presente e futuro formam um só momento, cruza horror, alucinação e riso. “A prosa de Vonnegut, mesmo quando lida com o horrendo, assobia uma melodia alegre”, escreve Salman Rushdie no prefácio da presente edição. Alfaguara
Franz Kafka
Punições
Quando damos por nós a ter um dia esquisito, podemos pensar que as narrativas de Kafka fazem da vida de qualquer ser humano uma experiência de total normalidade. Este livro reúne três dos mais célebres textos do autor checo: A Sentença (1913), A Metamorfose (1915), e Na Colónia Penal (1919). Da escrita de Franz Kafka, cheia de observações oblíquas que imobilizam a narrativa como num pesadelo, também se pode dizer que castiga os leitores mais apressados, que somos praticamente todos nós hoje, formatados pela atenção ziguezagueante a que nos obrigam os conteúdos online, onde gastamos a maior parte do tempo. Olhamos para fora e as histórias de Kafka pedem-nos que olhemos para dentro. As três novelas aqui apresentadas são pequenos tratados sobre o fracasso, sobre a pressão exercida no indivíduo pelas famílias e pelas instituições, cujos elementos repressivos Kafka antecipou relativamente ao curso mais negro da História do século XX. Uma nota final para a mais importante de todas: A Metamorfose influenciou toda a criação posterior sobre a humanidade que existe no monstro, e o lado absurdo da existência humana. [Ricardo Gross] Cavalo de Ferro
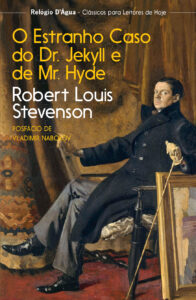
Robert Louis Stevenson
O Estranho Caso do Dr. Jekyll e de Mr. Hyde
Quando este título, um dos mais célebres da literatura fantástica, foi escolhido para integrar a Biblioteca António Lobo Antunes, coleção de livros escolhidos e prefaciados pelo escritor português, o autor de Fado Alexandrino escreveu: “O conto pode ser lido de muitas maneiras: como um reflexo da tradição calvinista escocesa em que [Stevenson] foi educado, como um prolongamento das teorias post-darwinianas da animalidade do homem, como a luta entre a nossa natureza e a consciência dela, etc. O que me interessa, no entanto, não é nada disso, mas a prosa deslumbrante difícil de dar em português e uma descida inesquecível às mais fundas sombras do coração, articulada, paradoxalmente, de modo luminoso.” Publicado em 1886, O Estranho Caso do Dr. Jekyll e de Mr. Hyde, é um clássico intemporal sobre os polos opostos que dividem a natureza humana: a eterna luta entre o seu lado bem e o seu lado mau. Vladimir Nabokov considera, no posfácio da presente edição, que este livro “é também uma fábula mais próxima da poesia que da prosa comum, e por essa razão pertence e à mesma categoria artística que, por exemplo, Madame Bovary ou Almas Mortas.” Relógio D’Água
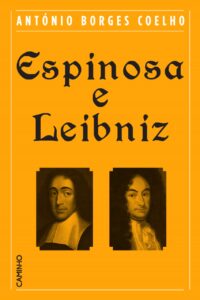
António Borges Coelho
Espinosa e Leibniz
O historiador António Borges Coelho publica, aos 94 anos, um novo livro dedicado ao estudo de dois filósofos: Espinosa (1632-1677) nascido em Amsterdão, descendente de cristãos-novos portugueses, e Leibniz (1646-1716) nascido em Leipzig, proveniente de uma família luterana com origem eslava. A investigação assenta numa das obras fundamentais de cada um dos filósofos que acompanham a presente edição traduzidas pelo autor. O estudo sobre Espinosa procura “um falar por dentro do universo de sentido do Tratado sobre a Emenda do Entendimento; e uma incursão nos problemas ideológicos do século XVII europeu, em especial nos que afetaram as nações ibéricas (Portugal sobretudo) e diretamente a comunidade judaico-portuguesa de Amesterdão”. A partir de Discurso de Metafísica, o estudo sobre Leibniz “pretende analisar os fundamentos científicos em que pousaram as colunas do sistema leibniziano, pretende descobrir os caboucos gnoseológicos em que, segundo ele, assenta a ciência”. No decurso do trabalho, o historiador considerou fundamental “uma referência à época, ao seu clima ideológico e às atitudes que o pensador de Hannover tomou em vida. Os breves traços epocais e biográficos documentarão por fora o seu pensamento.” Caminho

Marquês de Sade
Eugénie de Franval
“Nada existe de verdadeiro no mundo, nada que mereça louvor ou censura, nada que seja digno de ser recompensado ou punido, nada que seja aqui injusto, não seja legítimo a quinhentas léguas de distância, nenhum mal é real, em suma nenhum bem é constante”. Estas palavras proferidas pelo protagonista masculino desta obra podiam facilmente ser associadas ao seu autor, o escritor libertino Marquês de Sade. Porém, não neste livro singular que, segundo Susan Sontag, “apresenta uma história moral sobre a amoralidade que [Sade] sempre defendeu”. De facto, em Eugénie de Franval, o polémico autor denuncia os efeitos nefastos da sua própria filosofia. A novela aborda de forma expressa o tema tabu do incesto através do exemplo de um homem que a cargo da educação da filha faz uma experiência: como se desenvolverá uma jovem criada sem princípios morais e ética? Sem os filtros que a sociedade coloca à manifestação da sexualidade e do desejo? A jovem Eugénie torna-se num ser sem coração concebido unicamente para satisfazer caprichos e para alimentar perversões. Esta obra, que questiona os princípios de desvio e transgressão habitualmente professados pelo escritor, tem tradução portuguesa do poeta Pedro Tamen. E-Primatur
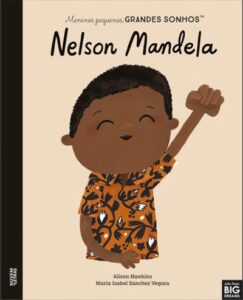
María Isabel Sánchez Vergara e Alison Hawkins
Nelson Mandela
Em 2005, Jack Lang publicou uma biografia de referência sobre Nelson Mandela estruturada num prólogo e cinco atos, reminiscentes da tragédia clássica. No I Ato Mandela é Antigona, privado pelo apartheid dos seus direitos humanos. No II Ato é Espártaco, revoltando-se contra as forças do regime sul-africano. No III Ato é Prometeu, agrilhoado 27 anos na prisão. No IV Ato é Próspero, benfeitor da humanidade e vencedor de Calibã. No V Ato é o rei Nelson, velho sábio e guia venerado. Uma obra notável que nos interpela mais do que qualquer relato rigoroso de factos. Cabe, agora, a vez da escritora María Isabel Sánchez Vergara e da ilustradora Alison Hawkins darem a conhecer aos mais jovens a vida e obra desta figura que se tornou num ícone mundial. A infância sofrendo na pele as divisões raciais na África do Sul e o tratamento injusto do seu povo. O protesto veemente, em adulto, contra o Apartheid, um sistema que separava as pessoas com base na cor da sua pele. A prisão e a sua longa caminhada para a liberdade, e o cargo de primeiro presidente negro do seu país. Dez anos depois da sua morte, este livro constitui um justo tributo a um homem que personificou a grandeza humana. Nuvem de Letras
O edifício do CAM encontra-se encerrado para a trabalhos de renovação. De forma a levar as suas obras até ao público, a Gulbenkian criou a iniciativa CAM em Movimento, onde se insere o projeto Entre Olhares. “A ideia foi criar uma parceria com a Biblioteca de Alcântara no sentido de podermos vir a desenhar um projeto de curadoria participativa, com um coletivo de pessoas amadoras que não têm nenhuma relação profissional com este meio, mas que pudessem vir a assumir o lugar de curador”, explica Susana Gomes da Silva, coordenadora de educação do CAM.
“Em sessões quinzenais que aconteceram ao longo de seis meses, estas pessoas conheceram a coleção do CAM, pensaram num conceito organizador para essa coleção, desenharam a exposição, fizeram toda a sua comunicação, encontraram os fios condutores, desenharam as tabelas e escreveram o texto de sala. Fizeram, portanto, todo o trabalho que está por detrás de uma exposição. E esta mudança de olhar permite-nos a nós, enquanto instituição, visitar objetos que habitualmente expomos a partir de um olhar que não é o que normalmente temos, por ser um olhar que vem de curadores informais”, acrescenta.
Da open call resultaram cerca de 70 candidaturas, de onde foram selecionadas 17 pessoas, com idades compreendidas entre os 18 e os 76 anos, originárias de vários países. “O objetivo era termos um projeto o mais heterogéneo e intergeracional possível, porque isso cria um tecido social muito diverso que mostra a cidade em que vivemos hoje em dia”, conclui Susana Gomes da Silva.

Já Ana Gomes Santos, coordenadora da Biblioteca de Alcântara, afirma que o repto do CAM foi aceite de imediato. “A Biblioteca de Alcântara tem no seu ADN esta marca vincada do envolvimento com a comunidade, dos processos participativos. Para nós, é muito importante democratizar tudo aquilo que envolva o acesso à cultura e à arte, e isso só se faz com a participação ativa das pessoas”, avança.
Os envolvidos neste projeto escolheram peças da coleção que lhes permitiram abrir a porta a uma reflexão sobre a importância e a qualidade dos muitos espaços de encontro em que se movem e se querem mover. São trabalhos de pintura, escultura, serigrafia, desenho, fotografia, instalação e livros de artista que os ajudam a explorar diferentes caminhos e leituras, diferentes abordagens para a noção de lugar, de memória, de história, de emoções e de afetos, de dor e de ausência, de amor, de espera e de quotidiano.
Esta exposição, resultante da exploração desses muitos caminhos, procura ser o mapa possível de um encontro a muitos olhares e múltiplas vozes.

Um desses olhares e uma dessas vozes é a de Mafalda Vale de Castro, a participante mais velha deste projeto. “Decidi participar porque quero perceber cada vez mais o que se passa no mundo da arte contemporânea, quero aprender tudo o que possa para não ficar para trás, e estas sessões ajudaram-me a compreender melhor e a ficar mais aberta a tudo o que diga respeito à arte contemporânea”, explica. Carlota Melo, outra das curadoras informais desta mostra, considera todo este processo “transformador”. “Trabalhar com um grupo de pessoas tão diferente, onde aquilo que nos unia era o gosto pela arte contemporânea e a curiosidade de estar do lado de lá de uma exposição, foi um verdadeiro desafio. Mas um desafio muito generoso”, revela.
Até 31 de março, é possível testemunhar este “encontro de olhares” através de obras de artistas como Ana Vidigal, Bruno Pacheco, Lourdes Castro, Mónica de Miranda, Noé Sendas ou Vasco Araújo, selecionadas pelos curadores Adriana de Carvalho, Aline de Moraes, Ana Paula Ponichi, Brenda Segura, Carlota Melo, Constanza Solórzano, Diego Alves, Eduardo Serra, Fátima Durão, José Brito, Mafalda Vale de Castro, Mariana Marques Caldeira, Maria Isaura Almeida, Niccolà Galliano, Raquel Moreira, Sofia Alves e Tinno Filho.
Um concurso de máscaras no Chapitô, os bailes no Lu.Ca, um “Carnaval” muito eclético no Palácio Pimenta, uma oficina-visita no Castelo para mascarados de tenra idade, um concerto tão surpreendente como revivalista e a estreia de uma das pérolas do teatro do absurdo no Teatro do Bairro. Estas são as sugestões que a seguir lhe apresentamos.

Mitos, Medos e Sonhos
O Chapitô celebra o Carnaval com “um diálogo entre a Antiguidade e a Modernidade através de uma releitura de mitos clássicos que dialogam com algumas das inquietações mais prementes da atualidade”. Em dois momentos, decorre um concurso de máscaras a ser disputado entre seis grupos constituídos pelos alunos da Escola de Circo do Chapitô. Uma festa de alegria e criatividade como só o Chapitô pode oferecer.
Tenda do Chapitô, 17 de fevereiro, às 16h30 e às 21h
.

Carnaval Pré-Histórico
Como seria Lisboa na pré-história? O Museu de Lisboa – Palácio Pimenta preparou uma série de atividades para toda a família que, para além de assinalar o Carnaval, propõem dar resposta à questão. “Vestidos com peles e adornados de conchas e ossos ou o que a imaginação ditar”, todos estão convocados para participar em oficinas, caçadas, jogos e pinturas. A fechar a noite, e para além dos comes e bebes, há Dj set com Mike El Nite. O ingresso custa seis euros, sendo a entrada gratuita para menores de 12 anos.
Museu de Lisboa – Palácio Pimenta, 18 de fevereiro, das 18h30 às 23h
.

Baile de Carnaval
O repto está lançado: “traz o teu melhor disfarce e os sapatos mais confortáveis para dançar e saltar.” Os bailes de Carnaval do Lu.Ca são já uma tradição, fazendo lembrar, embora com outras roupagens, aqueles que também ali, no agora renovado teatrinho da Calçada da Ajuda, se fizeram em tempos idos. A animar miúdos e graúdos vão estar as Djs Mão na Anca, ou seja, Patrícia Barnabé, Raquel Castro e Inês Rodarte. A entrada tem o preço único de três euros.
Teatro Luís de Camões, a 19 e 21 de fevereiro, das 15h às 19h
.

O Mundo ao contrário – O Carnaval na Idade Média
Miudagem! Esta é mesmo para vocês: pelo Castelo, uma oficina criativa e didática vai revelar-vos como se comemorava o Carnaval na Idade Média. O desafio é virem mascarados e trazerem serpentinas e confetes, até porque, algo que promete ser desvendado é se, nesses tempos distantes, estes elementos que costumam fazer parte do Carnaval nos nossos dias já eram usados. O preço da oficina-visita é quatro euros.
Castelo de São Jorge, 18 (esgotado) e 21 de fevereiro, às 15h
.

Um Carnaval Chique A Valer com os fabulosos Irmãos Catita
Para os revivalistas, a banda de Manuel João Vieira promete um Carnaval bem ao estilo das noites loucas dos idos de 90 no bar do Cinearte, casa da companhia de teatro A Barraca. Para quem não faz a mínima ideia do que estamos a falar, prepare-se para a constante surpresa e a boa disposição garantida pela irreverência de escutar ao vivo, e com coreografias a rigor, temas tão emblemáticos como Conan, o homem rã, Drogado ou Ser Moderno. Para tornar a festa ainda mais especial, os Irmãos Catita anunciam a estreia em Portugal, diretamente vinda da Ucrânia, de misse Suzy Peterchenko. Ingressos a 11 euros.
Titanic Sur Mer, 20 de fevereiro, quase, quase à meia-noite
.

Rinoceronte
Velhos companheiros no Teatro da Cornucópia, um fantástico grupo de atores liderado por Ricardo Aibéo tem continuado a trilhar um percurso comum com alguns dos mais curiosos espetáculos do teatro português da atualidade. Depois de A Morte de Tintagiles, de Maurice Maeterlinck, e de A Boda, de Bertolt Brecht, uma pérola do teatro do absurdo: Rinoceronte, de Eugène Ionesco. Trata-se da insólita história de um rinoceronte que surge inesperadamente numa pequena cidade, trazendo consigo uma estranha peste. Infetados pela “rinocerite”, todos se vão tornando ainda mais conformistas, mais uniformes no pensamento e despojados de pensamento crítico. Até se converterem, definitivamente, em rinocerontes. Bilhetes entre cinco e 12 euros.
Teatro do Bairro, de 21 a 26 de fevereiro
Composto pelo bitânico Andrew Lloyd Webber, que se inspirou em 14 poemas do seu livro infantil favorito Old Possum’s Book of Practical Cats, de T.S. Eliot, Cats estreou-se no West End, em Londres em 1981, onde esteve em cena durante 21 anos. Em 1982, a produção atravessou o oceano e, durante 18 anos, atraiu milhões de espetadores à Broadway, em Nova Iorque, onde ganhou sete Tony Awards, incluindo o de “Melhor Musical”.
A história começa no silêncio da noite. De repente, irrompe música e luz revelando um beco onde o lixo se amontoa. Por momentos, vislumbra-se um furtivo gato a correr. Aos poucos, um por um, os gatos vão aparecendo na sua noite anual de celebração, demonstrando as suas habilidades numa fusão de música, poesia e dança.

A tribo de gatos – os Jellicle Cats – está agora reunida para comemorar o Jellicle Ball, onde o seu líder, o sábio Deuteronomy, vai escolher o felino que vai viajar até The Heaviside Layer e renascer numa nova vida. É a partir daqui que cada um dos gatos conta a sua história, esperando ser o escolhido para tão especial desígnio.
Cats, um dos mais icónicos e emblemáticos musicais do mundo, tem como principais mensagens o perdão, a aceitação e amor. Para Hal Fowler, que dá a vida a Gus, Bustopher Jones e Rumpus Cat, este espetáculo “tem toda a diversidade de emoções do ser humano”, conseguindo assim surpreender, pois “há momentos de serenidade maravilhosos, onde se consegue mesmo ir ao detalhe”.
O elenco é composto por 29 artistas, entre os quais Jacinta Whyte, como Grizabell, e que dá voz ao tema mais famoso deste musical, Memory; Martin Callahgan, no papel de Velho Deuteronomy (o líder dos gatos Jellicle) e Russell Dickson, que se veste de Munkustrap (narrador do musical). Destaque também para a caracterização e para os figurinos, que tornam o espetáculo visualmente fascinante.

Incomum no que respeita à sua construção – não existe guião e apenas usa os poemas originais como texto -, este musical é totalmente cantado e não apresenta praticamente nenhum diálogo falado entre as músicas. Os géneros musicais presentes no espetáculo, que variam do clássico ao pop, music hall, jazz, rock e música eletroacústica, são prova do ecletismo de Lloyd Webber. A dança é, também, um elemento-chave no espetáculo.
Tendo sido já apresentado em mais de 40 países e traduzido em 15 idiomas, Cats foi visto por mais de 73 milhões pessoas em todo o mundo. Recorde-se que o musical passou pelas salas de espetáculo portuguesas em 2004, 2006 e 2014.
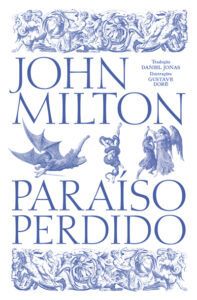
John Milton
Paraíso Perdido
John Milton (1608-1674) terá escrito o poema épico Paraíso Perdido, publicado originalmente em 1667, durante toda a vida, interrompendo-o devido à Guerra Civil (apoiou a causa republicana, incluindo a ditadura de Cromwell), à morte prematura da segunda mulher e à cegueira que se declarou totalmente em 1652. Sobre o texto, em verso branco, escreveu: “A medida é a do verso heroico sem rima, tal como o de Homero ou o de Virgílio, (…) como exemplo, o primeiro em inglês, da liberdade devolvida ao poema heroico da penosa escravatura moderna dos versejos”. A obra relata a queda do Homem: a tentação de Adão e Eva e a consequente expulsão do Paraíso. Dryden, poeta contemporâneo de Milton, salientou a “particularidade constrangedora” de Satanás ser o herói do poema. De facto, o Satanás de Milton é um personagem inteiramente novo na poesia épica, oposto à figura monstruosa tradicionalmente retratada na literatura medieval e renascentista. Para o poeta e artista William Blake, ilustrador da obra, o Satanás de Paraíso Perdido representa o símbolo do desejo, da energia e das forças criadoras vitais que permitem à humanidade desfrutar da vida em plenitude. Tradução de Daniel Jonas e ilustrações de Gustave Doré. E-Primatur

Annie Ernaux
Um Lugar ao Sol seguido de Uma Mulher
Este volume assinala a primeira reação do meio editorial português à atribuição do Prémio Nobel à autora francesa Annie Ernaux. A mesma casa que publicara Os Anos, Uma Paixão Simples e O Acontecimento, reúne agora duas narrativas de menos de 100 páginas no mesmo livro: Um Lugar ao Sol, sobre o pai de Ernaux, publicado em 1984 e vencedor do Prémio Renaudot, e Uma Mulher, sobre a sua mãe, lançado em 1988. A autora dá nestas obras as melhores formulações sobre o seu trabalho de escrita. Escolhemos duas: “Esta maneira de escrever, que me parece desenrolar-se no sentido da verdade, ajuda-me a emergir da solidão e da obscuridade da recordação individual, a fim de descobrir uma significação mais geral”. “A escrita neutra acode-me com naturalidade, a mesma que utilizava quando escrevia aos meus pais para lhes comunicar as novidades essenciais”. São frases que podem caracterizar todos os livros de Annie Ernaux, que vem compondo o mosaico da sua história individual, cruzando-a com a da sua família e a da França contemporânea. O testemunho desta escritora faz-se por camadas de objetividade compassiva sendo esse o seu compromisso. RG Livros do Brasil
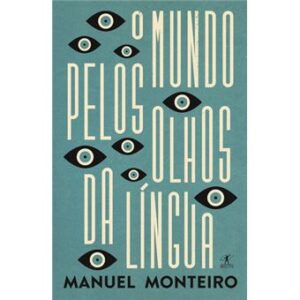
Manuel Monteiro
O Mundo pelos Olhos da Língua
“Ver o mundo pelos olhos da língua é encontrar a razoabilidade no modo de viver que Alexandre Herculano decidiu imputar a Almeida Garrett: ser capaz de todas as porcarias, mas nunca, a troco de todo o ouro do mundo, de uma frase mal escrita. A integridade linguística é prova de carácter”. Manuel Monteiro, jornalista, autor, revisor linguístico e formador profissional de Revisão de Textos, aborda neste seu livro “os erros frequentes de quem tem a língua portuguesa como materna, a importância da clareza no discurso escrito ou oral, a forma como transmitimos uma mensagem, a vitalidade de bem escrever e bem falar“. Autor de obras como Dicionário de Erros Frequentes da Língua (2015) ou Por amor à Língua (2018), luta contra a forma como grande parte dos portugueses maltrata a língua e defende a sua complexidade e a beleza. Como escreveu Orwell, citado em epígrafe neste livro, “Um homem pode virar-se para a bebida, porque se sente um falhado, e depois falhar mais completamente por beber. Acontece o mesmo com a língua (…). Torna-se feia e imprecisa, porque os nossos pensamentos são tolos, mas a incúria da nossa língua favorece esses mesmos pensamentos tolos”. Porque pensamento e linguagem são indissociáveis. Objectiva

Branquinho da Fonseca
O Barão
Branquinho da Fonseca (1905-1974) escreveu novelas, romances, poesia e teatro. Contudo, segundo Óscar Lopes e José António Saraiva, o melhor da sua obra reside nos contos. Neles “consegue sugerir um halo de mistério, de medo ou de pesadelo indiferenciado, de constante surpresa na perseguição a um imprevisto ideal, sem todavia nos desprender de um senso de verossimilhança, antes como que acordando nesse halo misterioso os ecos emotivos da realidade”. O Barão, sua obra-prima, narra a viagem de um inspetor das escolas de instrução primária à serra do Barroso. Aí conhece a figura excecional do Barão, homem solitário de especto brutal, “um senhor medieval sobrevivendo à sua época, completamente inadaptado, como um animal de outro clima”. O Barão apodera-se do inspetor e força-o a partilhar o seu mundo delirante e contraditório durante uma noite alucinante marcada por confidências íntimas e acidentes imprevistos. David Mourão-Ferreira ressalta, no prefácio à presente edição, “o significado a um tempo local e universal da figura do Barão, o sortilégio da atmosfera em que ele se move, a possibilidade de interpretação da sua índole e dos seus atos a vários níveis (psicológico, sociológico, mítico, histórico).” Relógio D’Água
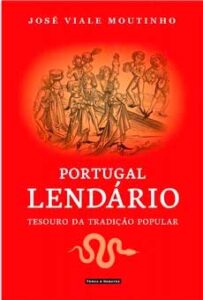
José Viale Moutinho
Portugal Lendário
“Um país sem lendas é um aborrecimento, é capaz de nem existir. (…) Portugal não é, nem por sombras, um desses raros países. Nós podemos não nadar em metal sonante, mas temos lendas a rodos por toda a parte, como aqui se prova, que poderão entreter o nosso imaginário durante uns bons séculos, até à eternidade!”. José Viale Moutinho apresenta centenas de lendas do norte ao sul do país, entre o continente e as ilhas, no livro Portugal Lendário – Tesouro da Tradição Popular, uma obra que homenageia as tradições populares portuguesas, percorrendo Portugal ao ritmo das lendas e narrativas. Uma redescoberta do maravilhoso popular entre as histórias que foram passando de boca em boca, de avós para netos, vindas de tempos imemoriais, mas que permanecem atuais e sábias. José Viale Moutinho nasceu no Funchal, em 1945. Jornalista e escritor, autor de livros nas áreas de investigação de Literatura Popular, da Guerra Civil de Espanha e da deportação espanhola nos campos de concentração nazis, bem como de estudos sobre Camilo e Trindade Coelho. Ficcionista e poeta, recebeu, entre outros, o Grande Prémio do Conto Camilo Castelo Branco/ APE e o Prémio Edmundo de Bettencourt de Conto e de Poesia. Temas e Debates
Charles Bukowsky
Os Cães Ladram Facas
A personalidade de Charles Bukowsky (1920-1994) foi marcada pela experiência de uma infância violenta e infeliz e o seu rosto pelas marcas profundas da acne, dando origem a um sentimento constante de rejeição. O poeta e romancista incarnou o mito do autor marginal, que desprezava as convenções sociais e se identificava com os loucos, alienados e alcoólicos, procurando, como salienta Valério Romão, selecionador e prefaciador da presente antologia poética, “uma forma de estar no mundo sem o estar”. Na sua poesia, Bukowski recorre aos seus temas habituais; o sexo e a mulher, a infância e o álcool, os hipódromos e as apostas, a escrita e os outros escritores. O estilo, inspirado por Hemingway, é direto e recusa a complexificação geralmente associada à prática poética. A radical honestidade dos seus versos, nos quais não hesita em descrever-se nos termos menos lisonjeiros, contamina-os de uma profunda e impressiva humanidade: “demorei 15 anos a humanizar a poesia / mas vai ser preciso mais do que eu / para se humanizar a humanidade”. A tradução é de Rosalina Marshall. Alfaguara

Maggie Nelson
Argonautas
Argonautas, de Maggie Nelson, foi distinguido com o National Book Critics Circle Award na categoria de crítica em 2015. O título da obra inspirou-se numa citação de Roland Barthes que descreve o sujeito que pronuncia a expressão “amo-te”, assemelhando-se ao “argonauta que renova o seu barco durante a viagem sem lhe alterar o nome”. A ideia das declarações de amor como renovada viagem ilustra na perfeição um livro que centra no seu fluxo de pensamento a relação amorosa da autora com o artista Harry Dodge, a família configurada por esta união e a viagem que empreendem os seus corpos em permanente devir: Harry submetendo-se às alterações físicas e hormonais de uma transição de género, Maggie engravidando e vivendo as transformação da gravidez e da maternidade. Num registo híbrido e num relato íntimo e fragmentário, Maggie Nelson incorpora nas suas experiências perspetivas teóricas de autores como Roland Barthes, Judith Butler, Gilles Deleuze ou Ludwig Wittgenstein, esbatendo os limites entre o ensaio, a memória, o político, o filosófico o estético e o pessoal. Orfeu Negro

Luís Castro, Vel Z e outros
PERFINST
Obra singular de cuidado grafismo sobre o conceito matricial que os fundadores da Karnart forjam e perseguem desde 1996, o perfinst. Livro dúplice, conceptualmente supervisionado por Luís Castro e Vel Z, diretores artísticos da Karnart, apresenta-se dividido nas duas partes que constituem o neologismo perfinst, PERF e INST, e que ancoram nos conceitos de PERFormance (artes performativas, lato sensu) e INSTalação (artes plásticas e digitais). O livro PERF centra-se na pessoa, no intérprete do perfinst, e integra textos de carácter especializado por Luís Castro, testemunhos das intérpretes Gisela Cañamero e Mónica Garcez, um texto científico da responsabilidade de Maria João Brilhante, e reflexões de Emília Tavares, Nuno Carinhas e Claudia Galhós. O livro INST foca o objeto enquanto protagonista, as coleções do Gabinete Curiosidades Karnart, e alia a textos específicos de Luís Castro, testemunhos das intérpretes Bibi Perestrelo e Sara Carinhas, textos científicos de Maria Helena Serôdio e Daniela Salazar, e reflexões de Gil Mendo, João Carneiro e Jorge Martins Rosa. Os livros estão ligados por um caderno de imagens central, que se constitui enquanto ensaio visual da autoria de Vel Z. Karnart / Centro de Estudos de Teatro da FLUL
Para muitos, o país rural mostrado no mais recente trabalho de Cucha Carvalheiro é distante, porém, ainda muito presente nas memórias de quem viveu os tempos sombrios da ditadura. Para os mais jovens, o que se conta no espetáculo poderá parecer saído de um país demasiado longínquo para parecer real. Contudo, passaram pouco mais de seis décadas sobre aquele ano de 1962 em que a atriz e encenadora situou a ação de Fonte da Raiva, peça onde “enxerta” Danças a um Deus Pagão, texto do dramaturgo irlandês Brian Friel, às suas próprias memórias pessoais e familiares.
Como em tantas aldeias isoladas nas serras do interior, vivia-se num profundo obscurantismo, alimentado por crendices de toda a ordem e um reverencial temor a Deus, às autoridades e ao olhar e apreciação dos outros. Esse Portugal, tutelado pela figura do ditador Salazar, surge aqui enquadrado pela “memória infantil” de Amélia, que vinda deste nosso presente como que regressa à velha casa na aldeia de Fonte da Raiva, onde pelos seus oito anos vivia com a mãe, Ana, e as suas quatro irmãs.

O espetáculo começa com a euforia que surte a chegada de um rádio a pilhas à casa das irmãs Paiva. Como que por magia, o aparelho parece quebrar o isolamento a que aquelas mulheres estão votadas, agravado pelo modo como são encaradas pelos outros aldeões.
Em causa estão episódios que pairam sobre a família, os quais, como enfatiza a mais velha das irmãs, professora e principal sustento da casa, mereceram a reprovação da aldeia. Entre eles, há a suspeita de que uma das irmãs é “fissureira” (ou seja, lésbica); está o regresso abrupto do irmão Afonso, missionário em África, que terá sido expulso pelas autoridades por defender a independência das colónias e se ter convertido ao paganismo; e a condição de mãe solteira de Ana, mais ainda por ter ficado grávida de Zé “Café”, um estudante negro de Coimbra, pai de Amélia.

À primeira vista, Fonte da Raiva pode ser entendido com um espetáculo autobiográfico. Cucha Carvalheiro esclarece: “esta não é de todo a minha história, mas sim a de Amélia, uma personagem ficcional na qual plantei memórias da minha infância.”
A autora e encenadora explica: “sendo o meu pai natural de uma aldeia da Beira Alta, passei várias vezes férias na casa da minha avó, tendo testemunhado muitas das situações que se passam na peça, nomeadamente aquela do Entrudo, em que a aldeia lavava publicamente a roupa suja, e que inspirou a revelação da homossexualidade de uma das tias de Amélia.”
Por outro lado, “há as minhas memórias africanas, já que vivi parte da infância em África, no Huambo, recordando num período mais tardio, a tomada de consciência das injustiças e do racismo.”
Sendo filha de um colono “muito especial” pró-independência, e de uma mãe africana, filha de uma negra, Cucha Carvalheiro colocou na personagem do padre dissidente muitas frases que ouviu da boca de seu pai. Outra inspiração foi um dos seus primos direitos, que tal como Zé “Café” era um negro nascido e criado na “metrópole”, com o seu quê de hedonista e de bom dançarino.

Quantos às tias de Amélia, provindas diretamente das cinco irmãs da peça de Friel, a autora deu a cada uma delas traços que reconhecia nas suas primas beirãs e em muitas outras mulheres de aldeia daquele tempo. “O Friel situa a ação na sua Irlanda do Norte, em 1936, e eu no interior de Portugal, em 1962, segundo ano da guerra colonial. Isso porque aquilo que verdadeiramente me interessava em Danças a um Deus Pagão era a estrutura da peça. Pretendi mesmo foi falar dos meus dois lados, o africano e o beirão, e da guerra colonial que marcou profundamente a minha adolescência”, sublinha a autora.
“No fundo, procuro através do teatro mostrar aos meus sobrinhos um pouco da história da nossa família e a todas as outras pessoas, sobretudo às mais jovens, que não foi assim há tanto tempo que vivemos estes tempos sombrios aos quais não podemos de modo nenhum voltar”, conclui. E é com ironia, humor, lágrimas, mas também muita alegria que, “sem dogmatismos”, a autora coloca em Fonte da Raiva uma ampla reflexão sobre a condição da mulher, sobre o preconceito e a discriminação, sobre o racismo e a guerra.
Para além da própria Cucha Carvalheiro, que interpreta Amélia, a narradora desta história, o espetáculo conta com interpretações de Sandra Faleiro, Inês Rosado, Júlia Valente, Joana Campelo e Leonor Buescu, nos papéis das irmãs Paiva, Luís Gaspar, como padre Afonso, e Bruno Huca, no papel de Zé “Café”. O espetáculo está em cena na sala principal do Teatro São Luiz, até 12 de fevereiro.
Tiveste contacto com o universo do hip-hop muito novo. De que forma é que isso moldou a tua consciência política e social?
Comecei a fazer rap por causa do Gabriel O Pensador. Foi o primeiro rapper que ouvi em português. Tinha 12/13 anos e ele formou-me política e ideologicamente. A partir daí, 70% a 80% de tudo aquilo que me influenciava era rap. Alguns rappers foram os meus professores, meus filósofos, meus pais…
Sendo um dos maiores nomes do rap nacional, sentes a responsabilidade de educar as novas gerações de rappers?
Tento tirar algumas mochilas das costas até porque isso não me faz bem. Houve uma altura em que sentia mais esse peso, hoje já não sinto tanto. Era algo que me fazia mal, sofria com isso. A certa altura percebi que não tinha capacidade para representar nada porque sou muito indisciplinado e irregular, tenho muitas contradições…
Esse papel pode ser um fardo então?
Para a minha maneira de ser, sem dúvida que sim.
O rapper é um contador de histórias, um filósofo, um ativista… Qual é, para ti, o papel do rapper?
Tento, cada vez mais, descrever o rapper como alguém que não deve ser unidimensional. O rapper é um artista. Deve expressar-se da forma que ele quiser. Depois há a cultura hip-hop, que tem as suas fronteiras e balizas. Creio que nesta altura o hip-hop pode ser tudo, menos de extrema-direita. O hip-hop aceita tudo, mas não deve aceitar a extrema-direita.
Com a atual ascensão da extrema-direita um pouco por todo o mundo, essa mensagem é ainda mais urgente?
Creio que sim, até porque há muita gente a ouvir rap que é de extrema-direita e também há rappers de extrema-direita.
Isso não é uma contradição para aquilo que o hip-hop e o rap deviam representar?
Sim, mas há muita gente que entra neste meio porque gosta da estética. Gosta da música, do beat. O rap está tão ramificado, há tantos subgéneros que não é fácil descrevê-lo, é muito difícil.
Como se combate isso?
Não tem de ser um combate ao rap de extrema-direita, mas sim a toda a extrema-direita. Acho que os rappers mais militantes têm de ter esse papel.
Quando escreves sentes-te um poeta?
95% das vezes não, mas creio que já tive momentos de elevação literária, poética. O rapper tem mais dificuldade em chegar à poesia porque está limitado, tem de escrever em compassos musicais. Isso é uma limitação brutal. É muito difícil um rapper comparar-se a um Pablo Neruda ou a um Fernando Pessoa, por exemplo, porque os poetas têm escrita livre. Tudo o que pensam podem transcrever para o papel. Se compararmos com outros estilos musicais, é muito mais fácil dizer as coisas em rap, porque eu posso pôr 12 palavras numa frase. Um cantor pop põe quatro ou cinco. Mas um poeta, se quiser, põe 30. Além disso, no rap temos quase sempre a obrigação de rimar, tem mais limitações, mas creio que há rappers que têm momentos poéticos importantes.

A era digital trouxe uma grande pressão aos artistas?
É uma altura muito violenta, principalmente para os novos artistas. A internet está sobrecarregada, é muito difícil chegar às pessoas. Não sei como estão os números agora, mas o ano passado saíam 80 músicas portuguesas por semana. Ninguém tem capacidade para ouvir 80 músicas por semana. Há coisas boas que estão a passar o lado, as editoras só apostam em artistas que já estão lançados, que têm músicas com bons números e uma base de fãs considerável. As editoras não apostam no talento bruto. Acho que é o momento mais crítico para novos artistas e é o momento mais crítico para a música portuguesa.
Isso compromete a qualidade da música que é lançada?
Completamente. Hoje há poucos grupos/projetos destacados que não sejam música comercial genérica. Antigamente havia bandas de rock importantes com grandes legiões de fãs. Hoje quase não há. Com as bandas de reggae sucede o mesmo: não há bandas de reggae a conseguir impactar como os Kussondulola nos anos 90, por exemplo. Praticamente temos música pop genérica, mas os artistas não conseguem fazer carreira. Creio que a música nunca sofreu tanto como agora e acho que a tendência é piorar. Hoje em dia, as pessoas têm uma relação muito frívola com a música. A música é descartável. A quantidade é tanta que as pessoas não se apaixonam por nada. No entanto, creio que ainda há espaço para a excelência.
Tens vindo a adiar sucessivamente o lançamento do terceiro disco. Algum motivo para isso?
A certa altura achei que não tinha capacidade. Fiz dois discos bonitos. Era um miúdo que gostava de fazer rap e que fazia tudo muito na base do improviso e da espontaneidade, o que tem a sua beleza. Na ingenuidade também se descobrem coisas bonitas. Há coisas que fazemos mal, mas que acabam por funcionar. Os meus discos têm isso. Há coisas que estão todas tortas, mas como ninguém tinha ouvido nada feito daquela forma, acabou por funcionar e por ser original (embora estivesse mal feito). Se fosse hoje faria muita coisa de forma diferente, mas percebo a beleza dos discos e a importância que tiveram na história do hip-hop, que era muito virgem na altura. Com o tempo, fui percebendo que não tinha capacidade para cuidar da parte musical. Precisava de estudar, de encontrar as pessoas certas, de aprender com elas. A esse nível acabei por ter professores muito importantes e hoje já me sinto capacitado para fazer peças musicais com competência.
Isso significa que o terceiro disco vai mesmo sair?
Vai acontecer, sim. Também tive de me preparar financeiramente, o que levou algum tempo, e nesta altura sinto que já tenho reunidas as condições para avançar. Já me sinto um músico. Entretanto vou começar a lançar músicas, vai ser um ano de muita produção. Para além de me sentir preparado, sinto também que tenho tudo o que preciso. Tenho um engenheiro de som de grande qualidade, masterizo com pessoas que são das melhores do mundo no seu ofício, tenho o Dino d’Santiago que me ajuda a produzir as canções, tenho amigos que são dos melhores músicos do país: Slow J, Sam the Kid… se alguma coisa falhar a culpa é minha, porque tenho as ferramentas todas que preciso [risos].
Este ano celebras 20 anos de carreira. Que importância tem este marco para ti?
É um grande marco. O maior orgulho que tenho tem a ver com o facto de nunca ter havido cedências da minha parte. Toda a minha vida ouvi coisas do género: “tens de fazer música comercial” e nunca cedi a essas pressões. Esta é, para mim, a parte mais bela destes 20 anos. Nunca fiz cedências, passei por dificuldades de todo o tipo, mas a parte mais bonita é esta: sinto-me um herói porque resisti a muita coisa e ainda aqui estou. Houve muitos que cederam e que entretanto desapareceram.
Dia 3 de fevereiro há um concerto de celebração no Coliseu dos Recreios. Vai ser uma grande festa?
Vai ser muito bonito. Há coisas que não posso revelar já, mas não quero que seja só um espetáculo musical. A cultura hip-hop deu a conhecer ao país alguns dos melhores artistas plásticos, pessoal do graffiti, alguns dos melhores DJs e eu queria dar esse carácter multidimensional ao concerto, trazendo essas artes todas para cima do palco. Gostava de fazer isso sem parecer pretensioso: com humildade mas com bom gosto. Não tenho o orçamento da Beyoncé [risos], mas dentro das limitações orçamentais vou tentar fazer uma coisa bonita.
paginations here