Embora estejamos, como observa a dramaturgista Vera San Payo de Lemos, “não num tempo histórico, mas numa cronologia do pensamento e da memória”, Tempestade Ainda começa em 1936, dois anos antes da anexação alemã da Áustria. No entanto, e em bom rigor, nada como citar o próprio Peter Handke (nascido em Griffen, Áustria, em 1942, filho de mãe eslovena e pai alemão) numa entrevista de 2015 a L’avant-scène théâtre (disponibilizada no programa do espetáculo): “O ponto de partida é um facto comprovado: eu, com a minha mãe, num banco, no meio de uma planície rodeada das montanhas da Caríntia.”
Como num retrato que ganha vida, sob o olhar e a direção do “Eu-narrador” (João Pedro Vaz), apresenta-se a família materna: os avós, Gregor (Luís Barros) e Ursula (Susana Arrais), e os filhos, Gregor (Manuel Sá Pessoa), Hans (Sérgio Praia) e Georg (Mia Henriques), e Ursula (Carolina Picoito Pinto) e Maria, a mãe (Crista Alfaiate). São uma família da minoria eslovena que habita a Caríntia austríaca, dedicando-se à agricultura e honrando a luta de resistência pelo reconhecimento da sua língua e cultura eslava.
Quando os nazis anexam a Áustria, em 1938, a vida de todos os elementos da família muda drasticamente. E para sempre. Um ano depois, começa a guerra. Gregor e Georg são alistados para combater com o uniforme nazi. Hans e Ursula fogem para as florestas e tornam-se partisans, combatendo por dentro o ocupante que lhes sonega a identidade. Quanto a Maria, apaixona-se por um oficial alemão e fica grávida.
Na sua pequena propriedade, os avós do narrador vão resistindo, sofrendo cada vez que chegam cartas anunciando, na língua do ocupante, as más notícias. A questão da língua alemã, imposta como exercício de violência permanente sobre a família, é enfatizada na versão de San Payo de Lemos e João Lourenço. “Quisemos que se ouvissem algumas dessas frases em alemão precisamente para sublinhar o lado opressivo e devastador que ela surte sobre aquelas personagens”, explica o encenador.
Mas, no meio da tragédia, há a esperança. Se, por um lado, a peça de Handke revela aspetos da história nunca contada da minoria eslovena durante a ocupação nazi, e mesmo, posteriormente, durante o mandato britânico no pós-guerra, Tempestade Ainda é também uma homenagem à coragem e bravura dos resistentes (presentes na figura de um dos tios e na tia do narrador). “Estes partisans constituíram a única resistência organizada dentro das fronteiras do Terceiro Reich”, nota Lourenço.
Tempestade Ainda é, por tudo isto, uma peça absolutamente essencial para dias “em que as tempestades continuam, e são contínuas”. Poética e profundamente emocional, trata-se da peça em que uma das mais importantes vozes das letras europeias nas últimas décadas ressuscita os “seus mortos” e se insurge “contra a ameaça do esquecimento”. Como o próprio Handke escreveu, “aceito a minha morte, mas não a vossa, antepassados, não e não, eternamente não.”
Para além da encenação e da parceria na versão apresentada (segundo Vera San Payo de Lemos, fazer a peça na íntegra poderia demorar cerca de dez horas – “a versão estreada em 2011, no Festival de Salzburgo, tinha cerca de quatro horas e meia, mas a nossa é substancialmente mais curta”), João Lourenço assina ainda o cenário e o desenho de luz, com Paulo Santos. A direção musical é de Renato Junior e o espetáculo conta com interpretação musical ao vivo de Carlota Ferreira e Ernesto Rodrigues. Os figurinos são de Marisa Fernandes.
Tempestade Ainda estreia a 15 de dezembro, prolongando a temporada até início de março do próximo ano.
Prestes a concluir o mandato no Teatro Nacional D. Maria II (TNDM II) no final do ano, e quando ainda se desconhece o resultado do concurso público internacional para a escolha da nova direção artística para o período 2024-2027 ao qual é também concorrente, Pedro Penim anunciou a programação desenhada para o ano que vem. Tendo as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril como marco primordial, os próximos 12 meses ainda serão passados fora de portas, mas com o regresso assegurado a Lisboa, a um conjunto de palcos “emprestados”, como o São Luiz, a Culturgest ou o Centro Cultural de Belém, e às ruas da capital, no sentido de “um cada vez mais consciente processo de democratização do teatro.”
Enquanto prosseguem as obras no edifício do Rossio – segundo Rui Catarino, presidente do conselho de administração, “estarão concluídas no próximo mês de outubro, sendo prevista a abertura ao público em janeiro de 2025” -, o TNDM II continuará a sua Odisseia Nacional por todo o território português, com presença prevista em 38 municípios, numa relação que Penim garante vir a ter continuidade no futuro, seja ou não diretor artístico da instituição.
Abril abriu
Celebrar Abril, mais a mais no ano em que se comemoram 50 anos da queda da ditadura, é o mote para o regresso em força do TNDM II a Lisboa. A partir de março, abre-se o ciclo Abril Abriu, “uma reflexão sobre os valores e a história da democracia portuguesa, com um olhar apontado para o futuro”, que compreende 17 projetos artísticos multidisciplinares. O ciclo arranca no dia 20, na Culturgest, com a história de um amor impossível passado no final do século XIX, num Moçambique devastado por guerras políticas: As Areias do Imperador, adaptação ao palco da obra homónima de Mia Couto por Victor de Oliveira.

E, citando o poeta José Carlos Ary dos Santos, eis-nos usufruindo das “portas que Abril abriu” com um mês repleto de teatro nos palcos e nas ruas de Lisboa. Depois dos Hotel Europa de André Amálio e Tereza Havlíčková estrearem Luta Armada a dia 4, e do UmColetivo de Cátia Terrinca levar A Paz é a Paz ao Teatro Romano de Lisboa (19 e 20 de abril), o Teatro São Luiz volta a receber uma criação de Pedro Penim.
Em Quis saber quem sou, espetáculo que, como o título deixa antever, foi especialmente concebido para estas comemorações, o autor propõe revisitar “as canções da revolução, as palavras de ordem, as cantigas que eram armas, mas também as histórias pessoais das gerações que fizeram o 25 de Abril”, num proposta situada “a meio caminho entre o concerto e a peça de teatro”. Com Bárbara Branco à frente de um elenco de jovens atores, cantores e instrumentistas, a peça-concerto conta com direção musical de Filipe Sambado.

Outro grande destaque do mês é a estreia nacional da mais recente criação de Jorge Andrade e mala voadora. O MAAT vai ser palco de 25 de Abril de 1974, um espetáculo que parte da premissa de que a revolução foi resultado da encenação de um artista. Depois de Lisboa, a peça vai circular por várias vilas e cidades do país, como Borba, Campo Maior, Fundão, Ourique, Carrazeda de Ansiães e Idanha-a-Nova.
Chegados a maio, o TNDM II sai para a rua e ocupa o Largo de São Domingos com o Mercado das Madrugadas de Patrícia Portela (9 a 12 de maio). E se o MAAT e o Largo de São Domingos podem ser palcos inusitados, o que dizer da Estufa Fria? Este magnífico local, situado bem no coração da cidade, é o palco escolhido por Mónica Calle para o regresso de Ensaio Para Uma Cartografia (14 e 15 de junho) a Lisboa, depois da digressão europeia. Aclamado pelo público e pela crítica, trata-se de espetáculo sempre em transformação perante a capacidade de superação das suas intérpretes.

Entretanto, o Centro Cultural de Belém será, ao longo do ano, uma das salas de acolhimento com mais propostas com a chancela do D. Maria II. Entre elas, destacam-se Batalha de João de Brito e LAMA Teatro (18 a 21 de abril); descobri-quê? de Cátia Pinheiro, Dori Nigro e José Nunes (8 a 12 de maio); Pérola Sem Rapariga, com texto de Djaimilia Pereira de Almeida e encenação de Zia Soares (24 a 26 de maio); e Os Idiotas, uma criação de Ana Gil, Miguel Castro Caldas, Nuno Leão e Óscar Silva, com texto de Castro Caldas (28 a 30 de junho).
Ainda integrado no ciclo Abril Abriu, sublinham-se as estreias de Popular de Sara Inês Gigante (de 20 a 30 de junho, no Teatro Meridional); NORMA de Diana Niepce (11 a 14 de julho em local a anunciar); e Madrinhas de Guerra de Keli Freitas (25 a 28 de julho no antigo Tribunal da Boa Hora). Em reposição, e em temporada prolongada até julho, a Casa Portuguesa de Pedro Penim sobe ao palco do Teatro Maria Matos a 9 de maio.
Damos então as boas-vindas ao regressado D. Maria II, não esquecendo de lembrar um último projeto artístico, com estreia agendada para julho. Trata-se de Zénite, uma criação de Sílvio Vieira para o espaço público, que estreará num lugar chamado Teatro Zénite, construído ao ar livre a partir do entulho das obras de requalificação do edifício do Rossio. No mínimo, uma grande surpresa em perspetiva.
Para além dos coros já referidos, visitámos também o Coro Sinfónico Lisboa Cantat, o Coro dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa e os Coros Juvenil e de Câmara do Instituto Gregoriano.
Coro de Câmara da Universidade de Lisboa
Todas as quintas-feiras, estudantes, ex-estudantes e professores reúnem-se na Reitoria da Universidade de Lisboa para ensaiar sob a direção de Luís Almeida. Durante duas horas, o maestro, que se encontra à frente do Coro de Câmara da Universidade de Lisboa desde 2010, dirige cerca de 20 vozes, entre sopranos, contraltos, tenores e baixos.
O coro, que apesar do repertório eclético procura trabalhar peças que funcionem para grupos pequenos, apresenta-se frequentemente em conjunto com o Coro Juvenil da Universidade de Lisboa, como vai acontecer no espetáculo de entrada gratuita que tem agendado para dia 8 deste mês, na Igreja de São Roque. Espelhos de Natal é uma viagem pela música coral portuguesa e inglesa, com obras de Fernando Lopes-Graça, Eurico Carrapatoso, Richard Rodney Bennett e John Tavener.
Gospel Collective
Os ensaios dividem-se entre as igrejas de Arroios e a Logos Comunhão Cristã, no Prior Velho, mas nem sempre é fácil reunir as cerca de 70 vozes que compõem o Gospel Collective. Dirigido pelas cantoras e maestrinas Manuela Oliveira e Anastácia Carvalho, e junto enquanto coletivo desde 2010, o coro junta cantores amadores e profissionais de diferentes áreas musicais e de diversas nacionalidades dentro da lusofonia. Apesar de ter uma base cristã, o Gospel Collective está aberto a todas as confissões, pretendendo ser um veículo de amor, paz, pertença e união.
Sempre bastante requisitado, a 15 de dezembro o coro leva ao Panteão Nacional Sete varandas para o Tejo, sete colinas para o Mundo, um concerto de 40 vozes que explora a arquitetura e a acústica únicas daquele espaço. Depois, no dia 17, o grupo participa em Cidade Nua. Poemas para uma cidade imaginária, um espetáculo de Natal que acontece no Capitólio. Ambos os concertos estão inseridos na programação das Festas de Natal da EGEAC. No Dia de Natal, o Gospel Collective atua no Casino Lisboa, onde revisitará alguns dos espirituais negros mais conhecidos.
Coro Sinfónico Lisboa Cantat
É no Auditório Aquilino Ribeiro Machado, na freguesia de Alvalade, que, duas vezes por semana, os cerca de 80 elementos do Coro Sinfónico Lisboa Cantat (CSLC) se reúnem para ensaiar. Sob a batuta do maestro Jorge Carvalho Alves, cantam repertório que inclui música coral a capella, tanto nacional como estrangeira, bem como grandes obras corais sinfónicas, como as missas de Requiem de Verdi, Mozart ou Brahms, entre muitas outras. Tendo iniciado atividade em 1977, o CSLC é um dos agrupamentos da Associação Musical Lisboa Cantat e tem contribuído para a divulgação da música erudita, estreando regularmente obras de compositores portugueses contemporâneos.
Este mês, o CSLC atua a 19 de dezembro, no Teatro Maria Matos, a propósito das comemorações do 46.º aniversário da Associação Musical Lisboa Cantat, e a 28 de dezembro, na Igreja de São Domingos, no ciclo de concertos Coros do Mundo, onde recebe o coro norte-americano Larimer Chorale.
Coro dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa
Em abril de 1964, com o objetivo de divulgar a música popular portuguesa, nascia o Orfeão do Pessoal da Câmara Municipal de Lisboa (CML). Anos mais tarde, o grupo passou a chamar-se Coro dos SSCML, mas a missão continuou a mesma. Atualmente, o coro integra cerca de 20 elementos, que ensaiam semanalmente sob a direção do maestro Sérgio Fontão. Aberto à participação de todos os colaboradores da CML, tanto no ativo como aposentados, e seus familiares, podem também candidatar-se os associados, utilizadores e alunos da Universidade Sénior dos SSCML.
Na semana de 11 a 15 de dezembro, o grupo irá fazer duas apresentações à comunidade: dia 12, no átrio do edifício-sede dos Serviços Sociais e, no dia 14, no átrio do Edifício Central do Campo Grande, ambas às 12h.
Coro Juvenil e Coro de Câmara do Instituto Gregoriano
A sala de ensaios é pequena, dadas as características do edifício, situado em Entrecampos, que alberga o Instituto Gregoriano de Lisboa (IGL), mas as raparigas e os rapazes que ali ensaiam não deixam que isso afete o seu trabalho. Nos muitos concertos e recitais para que são convidados, o Coro Juvenil e o Coro de Câmara do IGL apresentam-se, frequentemente, juntos. Se o primeiro é um coro de vozes iguais, composto por sopranos e contraltos entre os 11 e os 16 anos, o segundo é um coro de vozes mistas, onde os sopranos, contraltos, tenores e baixos têm entre 14 e 18 anos. São coros curriculares, dos mais avançados da escola, que, sob o olhar atento da maestrina Filipa Palhares, ensaiam e apresentam um repertório mais complexo.
No dia 15 de dezembro, ambos os grupos apresentam-se na Igreja de Nossa Senhora de Fátima.
O espetáculo que se preparam para apresentar partiu de um desafio do Teatro do Bairro Alto (TBA) no sentido de revisitar a única peça que a Cornucópia [primeira companhia residente naquele teatro] encenou por duas vezes…
Sim, foi um convite surgido no ano passado, quando estávamos a fazer o nosso Cosmos no Teatro Nacional D. Maria II. O propósito era trazer, por ocasião dos 50 anos do 25 de Abril, A Missão, de Heiner Müller, mas feita a partir das nossas histórias, biografias e referências…
Mas, de repente, na ficha do espetáculo notamos que o texto de Müller deu lugar a um texto da Aurora Negra, certo?
Certo [risos]. Acontece que nós tentámos, tentámos mesmo muito mergulhar nesse texto, mas com o avançar do processo fomos percebendo que aquelas palavras não reverberavam em nós, não cabiam nas nossas vivências, nas nossas corpas, nas nossas bocas. Queríamos contar outras histórias, histórias que se aproximassem daquilo que são as lutas, as crenças e as vontades das três enquanto criadoras. Com todo o respeito ao Heiner Müller, à sua escrita, à sua história e às suas pesquisas, prosseguir n’ A Missão seria desrespeitar-nos a nós mesmas, ao nosso tempo e às nossas escritas.
A peça do Müller aborda uma revolução falhada, e traída, que visava a instauração de uma república haitiana negra. Vocês não encontraram neste enredo nenhuma hipótese de se apropriarem do texto?
Como dissemos, nós tentámos, mas há desde logo algo irónico em tudo isto. Repare-se como, no Müller, entre os três emissários enviados para conduzir a revolução há apenas um negro. É demonstrativo da visão de um homem branco que, ao proclamar os seus ideais de igualdade e de fraternidade, coloca aquele que oprime a dizer ao oprimido como é que ele deve lutar para deixar de o ser. Mesmo a personagem do negro, o Sasportes, que pela cor da pele e pelo discurso seria a que mais nos representa, não cabe nos nossos ideais de mulheres, mais a mais, mulheres negras contemporâneas. Logo, o nosso ato consciente de trair Müller deve ser entendido como um ato de libertação de nós mesmas.
Mesmo assim, ficou alguma coisa do texto de Müller?
O texto dele foi importante no sentido de nos fazer pensar as nossas missões. De certo modo, aquilo que começámos por fazer é muito parecido com o que o Heiner Müller fez, ou seja, tal como ele se espelhou noutro texto [Das Licht auf dem Galgen (A luz na forca) de Anna Seghers] para criar A Missão, nós espelhámo-nos no dele para escrever A Missão da Missão. E é este o texto que faz sentido para nós e que cabe na nossa perspetiva de missões.
E de que missões falamos?
A de trazer as tão pouco conhecidas histórias das guerrilheiras da luta de libertação colonial, mas também a de continuar a missão que foi iniciada lá atrás e que vai sendo cumprida. Missão essa que gera outra e outra missão, na medida em que se vão conquistando mais liberdades e outros desafios vão surgindo. É um caminho que vai sendo percorrido e que podemos olhar recorrendo à metáfora da estafeta, onde sempre há qualquer coisa que nos vai sendo entregue, e que nós transportamos e passamos. E uma das nossas missões é procurar fazer arte como possibilidade de reparação histórica e de agitação de consciências.

Na sinopse do espetáculo fala-se na “construção” de uma “revolução negra e feminista”…
Nós somos alimentadas por outras mulheres negras que fizeram as suas revoluções. E nós, também, estamos aqui a fazer as nossas, e a alimentar a que outras mulheres negras venham a fazer no futuro. Voltamos à metáfora da estafeta, uma vez que a missão de hoje já parte de um ponto diferente daquela que foi a missão, por exemplo, das mulheres que combateram nos movimentos de libertação africana. Acreditamos que nada somos sem o que ficou para trás, já que o futuro são as utopias de sonhos passados.
Como é que este espetáculo dialoga com as vossas duas criações anteriores?
A predominância da figura feminina e a questão da relação passado/ presente/ futuro é comum, ou não trabalhássemos as nossas próprias histórias e narrativas. Tal como Aurora Negra e Cosmos, também aqui o tempo é espiralar. E é nesse tempo que surge ora um lugar nosso e das outras atrizes, ora o das mulheres que evocamos. Em palco, há uma ação que se espelha numa Deolinda Rodrigues [escritora e intelectual angolana, quadro do MPLA] ou numa Titina Silá [heroína independentista guineense], há outra ação numa de nós, outra ainda numa das atrizes, e assim por diante. Não é tanto a representação física das personagens, mas a representação ideológica delas.
Sentem, portanto, uma forte urgência em recuperar a história dessas mulheres.
Estas mulheres que trazemos deveriam ser do conhecimento de todos, deveriam inscrever-se na história política e social portuguesa. O 25 de Abril nasceu em África e foram os movimentos independentistas onde elas lutaram que determinaram muito do que se passou no futuro. Ao falar delas estamos a contar a nossa história, mas também a história deste país. Porque essa história não pode ser contada sem estas mulheres guerrilheiras que combateram aqueles que foram, que eram os objetivos de Portugal para os nossos territórios, para os nossos corpos, para as nossas matérias-primas…
E como é que através delas se chega ao presente?
O legado delas tem permitido, ao longo de todo este processo de pesquisa, um pensamento sobre a liberdade e a revolução nos dias de hoje. Com tudo o que acontece no mundo, é impossível este espetáculo não fazer o espelhamento do que se passa no Congo, no Sudão, no Haiti, na Palestina. As guerras continuam, e qual é o denominador comum a todas elas? É o Ocidente. O Ocidente com o capitalismo e o homem branco e o seu privilégio.
Aponte-se então um futuro…
A “missão da missão” é instigar à revolução, é inspirar uma liberdade real e concreta que se oponha aos sistemas que oprimem e que continuam a usurpar e a erigir-se em cima da matança e da exploração. Conhecer a nossa história faz com que possamos mudar alguma coisa, aqui no presente, para que o futuro não repita o passado de uma forma insana e displicente. O perigo da história única, da história contada apenas de um ponto de vista, é continuar a perpetuar uma narrativa sem culpa. Por isso, a nossa luta é herdar uma história que é nossa.
Apesar dos temas delicados, os vossos anteriores espetáculos tinham uma aura de celebração. E este?
O palco é sempre um lugar de celebração e é evidente que o orgulho nas mulheres que evocamos e naquilo que temos vindo a construir merece que se celebre a vida, as histórias, a existência. O povo africano, de um modo geral, tem a capacidade de ser resiliente e de conseguir celebrar, de se ritualizar, não só no quotidiano como nos ritos de passagem. Não é um passado marcado por tanta violência que nos impede de o fazer. Este espetáculo traz a herança de um povo conectado com a terra, com o sol, com a natureza. E a natureza regenera, volta mais forte e diferente.
Através da reciclagem e reutilização dos diversos artigos promove-se também a sustentabilidade ambiental e garante-se ainda que famílias economicamente desfavorecidas tenham acesso a uma grande variedade de bens. Fazer uma doação ou uma compra nas lojas solidárias é o presente perfeito neste Natal.
 Dona Ajuda – Loja social
Dona Ajuda – Loja social
A Boa Vizinhança nasceu da vontade de “umas vizinhas” ajudarem a comunidade. Hoje, a Boa Vizinhança é uma Instituição Particular de Solidariedade Social que desenvolve e apoia projetos nas áreas social, ambiental e cultural e apresenta-se como Dona Ajuda em todos os projetos que está envolvida. A loja social é um deles.
O espaço está dividido por secções: senhora, homem, criança e decoração. Aceitam-se todo o tipo de doações: roupa, sapatos, livros, jogos, artigos de decoração, pequenos eletrodomésticos que se encontrem em bom estado, para poderem ter uma segunda vida.
O valor da venda serve para ajudar quem mais precisa, através do pagamento de bens e serviços necessários, para instituições ou indivíduos necessitados.
Rua Alexandre Herculano 64, Mercado do Rato | seg a sáb: 11h-19h | donaajuda.pt
.
Loja solidária Associação Reto à Esperança
A Reto à Esperança é uma associação sem fins lucrativos que está presente em Lisboa e no Porto. A sua missão é ajudar pessoas com problemas de toxicodependência, alcoolismo e marginalidade.
As várias lojas comercializam uma grande diversidade de artigos: mobiliário, roupa, decoração, eletrodomésticos. Todas as doações são bem-vindas e caso seja necessário a associação faz recolha gratuita ao domicílio. O que não se aproveita para comercializar é enviado para reciclagem.
O lema é: “Não deite nada útil fora (sucata, roupas, alimentos, material para construção, eletrodomésticos, etc.)”. Porque até o que parece não servir pode transformar-se em receita que é utilizada para os vários programas de ajuda que a associação promove.
Rua Padre Francisco Alvares, 1C | ter a sex: 9h30-13h e 15h30-19h, sáb: 9h30-13h | associacaoreto.pt
.
Livraria Solidária
A primeira Livraria Solidária inaugurou em 2018, na Avenida do Colégio Militar, em Carnide, com o objetivo de promover a democratização do acesso ao livro e impulsionar hábitos de leitura.
Este é um espaço que serve a comunidade e que vive sobretudo de doações particulares. Qualquer pessoa pode doar livros, sejam eles novos ou usados, e o valor simbólico a que são vendidos, entre um e cinco euros, reverte na totalidade a favor de iniciativas culturais desenvolvidas pela Boutique da Cultura.
São aceites todo o tipo de livros, exceto manuais escolares, dicionários, enciclopédias, livros técnicos e livros em língua estrangeira. Os livros podem ser entregues, sem marcação prévia, na livraria dentro do horário de funcionamento.
Espaço Boutique da Cultura, Av. Colégio Militar, em frente da Rua Adelaide Cabete | seg a sex: 9h30-13h e 14h30-19h | boutiquedacultura.org
.
Loja solidária Partilha Constante/ Remar
A Associação Partilha Constante e a Associação Remar são duas organizações não governamentais (ONG) presentes em Portugal e internacionalmente que trabalham para ajudar pessoas desfavorecidas, sem recursos e que têm como objetivo combater a pobreza, a exclusão social e promover a justiça. As duas ONG celebraram um protocolo de cooperação permitindo o trabalho conjunto em diversas frentes. As lojas solidárias são um dos exemplos desta colaboração e uma resposta social de grande importância.
Através da reciclagem e reutilização de bens diversos, as lojas promovem a sustentabilidade ambiental e garantem que as famílias economicamente desfavorecidas tenham acesso a bens essenciais. As doações permitem o funcionamento destes espaços e nesse sentido qualquer pessoa pode contribuir. Além disso, também recolhem bens ao domicílio.
As receitas são utilizadas no desenvolvimento de projetos de ajuda social e humanitária.
Rua Possidónio da Silva, 104 A-B | seg a sex: 9h-19, sáb: 9h-18h | partilhaconstante.org | remar.pt
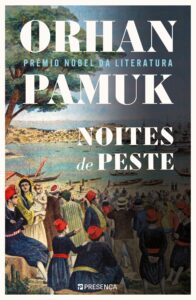
Orhan Pamuk
Noites de Peste
Orhan Pamuk nasceu no seio de uma família rica de Istambul, estudou no estrangeiro engenharia, arquitetura e jornalismo. Todavia, a partir de 1974, preferiu dedicar-se à literatura. Segundo a Academia Sueca, o autor foi distinguido com o Prémio Nobel da Literatura em 2006 porque, “na busca pela alma melancólica da sua cidade, descobriu novos símbolos para o confronto e o cruzamento de culturas”. Pamuk assina uma obra que descreve as tensões da sociedade turca, entre o Oriente e o Ocidente, e tem-se, repetidamente, pronunciado contra os fundamentalismos e pelo entendimento entre as culturas. Uma mensagem cuja importância é mais do que evidente na atual conjuntura e que vale para todos os fundamentalismos: religiosos, políticos ou étnicos. Noites de Peste, o mais recente romance, é ambientado no ano de 1901. A terceira pandemia de peste bubónica, que começou na China e matou milhões de pessoas em toda a Ásia, chega à ilha de Mingheria, “a Esmeralda de pedra rosa”, 29.º estado do Império Otomano onde imperam as tensões entre ortodoxos e muçulmanos. Pamuk indaga as pandemias do passado nesta história de sobrevivência e luta sob as proibições da quarentena, a instabilidade política, a insurreição, o crime e as ânsias de liberdade. Presença

Rahel Sanzara
A Criança que se perdeu
Publicado originalmente em folhetim e posteriormente em livro no ano de 1926, A Criança Que se Perdeu é um dos primeiros romances psicológicos modernos, baseado num caso verídico que ocorreu na Alemanha do século XIX. Um jovem, filho de uma empregada de uma grande propriedade familiar, sente uma atração perturbadora por uma menina de 4 anos, atração que terá o homicídio como terrível consequência. Rahel Sanzara (1894-1936) bailarina, atriz e escritora, popular figura no meio artístico da República de Weimar, influenciada pelos diversos estudos de psicologia infantil, e pelas teorias de Freud, disseca na presente obra as causas e os efeitos do crime, da culpa e do perdão. Este romance perturbador e influente ganhou o Prémio Kleist, que a autora recusou, e foi um dos maiores best-sellers da primeira metade do século XX, traduzido em onze línguas. Sobre ele escreveu Peter Handke, Prémio Nobel de Literatura em 2019: “A capacidade de mergulhar no âmago da psique do criminoso e da vítima faz deste romance um precursor do policial psicológico e uma profunda meditação sobre a faculdade humana de perdoar.” E-Primatur
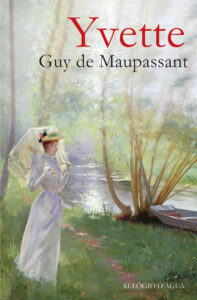
Guy de Maupassant
Yvette
Iniciado por Flaubert, que lhe ensina as exigências da estética realista, Guy de Maupassant (1850-1893) produz dois clássicos no domínio do romance – Uma Vida (1883) e Bel Ami (1885) – mas destaca-se principalmente como um dos melhores contistas de sempre, elevando o género à perfeição. Bola de Sebo, A Casa Tellier ou Mademoiselle Fiffi são obras-primas incontestadas do género. Alcança, através do seu estilo naturalista e da sua visão pessimista da existência, um poder e uma força raramente igualados. Minado pela sífilis, tenta suicidar-se antes de ser internado num manicómio, em 1892, onde acaba os seus dias. Segundo José Saramago, seu tradutor, Maupassant escreve “como se a si próprio se destroçasse, como se de si próprio se apiedasse”. Na notável novela Yvette, publicada em 1884, o elegante Jean de Servigny é um boémio que frequenta a sociedade da “aristocracia do cárcere” e da “prostituição dourada”. Nesse meio infame conhece a bela e misteriosa Yvette. Absolutamente desconcertado com o à-vontade tranquilo e triunfante da jovem, interroga-se: será ela um monstro de astucia e perversidade ou o mais maravilhoso fenómeno de inocência? Relógio D’Água

Paula Tavares
Poesia Reunida
Paula Tavares é uma escritora consagrada não apenas em Angola, Portugal e Brasil, mas em vários outros países onde se encontra representada em diversas antologias. Com 12 obras editadas – um romance, um dicionário em prosa afetiva, três livros de crónicas e sete títulos de poesia – a autora introduziu em Angola, desde Ritos de Passagem (1985), uma nova voz poética que repensa a questão da sexualidade reprimida das mulheres e não se exime de refletir sobre a crise que afeta o corpo social do seu país. A sua obra encontra-se, ainda, ligada aos sentidos profundos das origens e assume um sentido de resistência no que respeita à preservação das tradições. A presente edição reúne a poesia publicada de Paula Tavares e acrescenta ainda um livro de originais, Água Selvagem. Carmen Lucia Tindó Secco escreve no prefácio: “Herdeiro tanto das tradições orais angolanas, como da poesia de David Mestre em sua modernidade literária, o lirismo de Paula Tavares funde provérbios ancestrais do povo de Angola com dissonantes figuras de linguagem que primam por elaborado trabalho estético”. Uma obra poética que tem na figura da tecedeira uma metáfora recursiva: “Estico até à seda / o fio das palavras / as palavras são como os olhos das mulheres / fios de pérolas ligadas pelos nós da vida.” Caminho
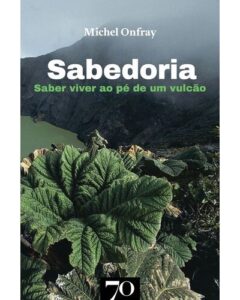
Michael Onfray
Sabedoria: Saber Viver ao Pé do Vulcão
“Vivo na província, na Normandia, longe das distrações mundanas de Paris. (…) Trabalho todo o tempo, sempre sozinho. Não tenho fins-de-semana, nem férias. Praticamente não vou ao cinema, nem ao teatro, nem à ópera, infelizmente. Viajo por todo o Mundo para fazer conferências e trabalho nos aviões e nos hotéis.” (Público, 13.05.2017) Assim se explica, e mesmo assim é merecedora de espanto, a produção literária do filósofo francês Michel Onfray (n. 1959), que já ultrapassou a centena de livros sobre os mais variados assuntos. Sabedoria: Saber viver ao pé de um vulcão tem uma densidade incomum num livro de autoajuda, e um sentido de aplicação prática invulgar para uma obra filosófica. Talvez resida aqui a chave para a popularidade de Onfray, além do conhecimento enciclopédico deste autor que se orgulha de ler exaustivamente a respeito dos indivíduos e dos temas sobre os quais se propõe escrever. Os ilustres romanos deste livro (Múcio Cevola, Plínio: o Velho, Séneca, Cícero, e vários outros) servem a Onfray para dar exemplos de como devemos enfrentar os desafios e as provações da vida, não o fazendo pelos seus escritos mas pelos atos de que foram protagonistas. [Ricardo Gross] Edições 70
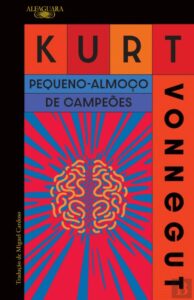
Kurt Vonnegut
Pequeno-Almoço de Campeões
Kurt Vonnegut (1922-2007), herói da contracultura americana, senhor de um estilo muito pessoal e imaginativo, apelidado de “wide screen baroque”, misto de pessimismo, sátira e humor negro, integra frequentemente nos seus livros elementos de ficção científica numa vasta reflexão sobre a guerra, a condição humana e a impossibilidade de falar verdade. Pequeno-Almoço de Campeões é um romance delirante que narra o encontro trágico entre Kilgore Trout, um escritor de ficção científica tão profícuo como anónimo, e Dwayne Hoover, um bem-sucedido vendedor de automóveis. Num dos seus livros, Trout desenvolve o conceito de que todas as pessoas no universo são robôs e que só uma é dotada de livre-arbítrio. O escritor descobre aterrorizado que Hoover, ao interpretar literalmente a sua teoria, está a enlouquecer. Tudo isto se passa, claro está, no planeta Terra onde não há “imunidade a ideias parvas”. Vonnegut cria mais uma sátira original e poderosa, tão seria quanto cómica, à sociedade norte-americana à beira da insanidade, tentando sobreviver, há tanto tempo, “com uma dieta de dinheiro e sexo e inveja e imobiliário e futebol e automóveis e televisão e álcool.” Alfaguara
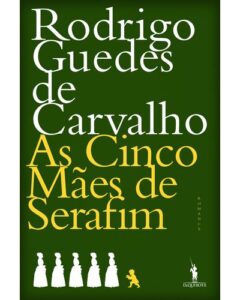
Rodrigo Guedes de Carvalho
As Cinco Mães de Serafim
Rodrigo Guedes de Carvalho regressa ao tema da família e da morte, em As Cinco Mães de Serafim, o seu mais recente romance. Passada entre a Foz do Douro e Gondarém, a história começa em 1923, com o nascimento de Maria Virgínia Landim da Silva, a mãe de Miguel Serafim, um filho tardio que pensava ter cinco mães, resultado da forma como foi cuidado pelas suas quatro irmãs – Benilda, com 20 anos, Bernarda com 17, Berenice, com 18, e Benedita, com 17. Educadas em casa pela mãe, que parecia querer escondê-las do mundo, Serafim foi o único que frequentou a escola, tendo-se tornado num exímio maestro por influência do pai. Entre saltos temporais, chegamos a 2023, ano em que Serafim completa 60 anos e se prepara para organizar, em conjunto com os seus dois melhores amigos, de quem se separou aos 19 anos, a festa do centenário da mãe. De sangue azul a ferver na guelra desde pequena, Maria Virgínia era uma mulher fria que não queria saber da opinião de ninguém, apenas ouvindo o seu primo, o padre Gonçalo Garcia, com quem partilhava segredos inconfessáveis que o filho quer agora deslindar. “Talvez a amizade seja um outro nome para família. Talvez a amizade seja um outro nome do amor.” Afinal, o que é uma família? [Sara Simões] Dom Quixote
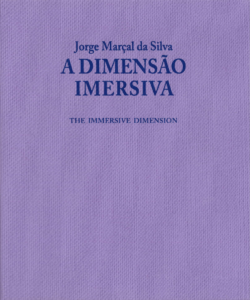
Jorge Marçal da Silva
A Dimensão Imersiva
Homem de grande cultura, Jorge Marçal da Silva nasceu em Lisboa, a 30 de junho de 1878, onde também viria a falecer. A par da profissão de cirurgião, Marçal era um melómano e apreciador de ópera, que desde cedo se dedicou à fotografia, revelando e preparando ele próprio as suas imagens no laboratório de fotografia que tinha em casa. De lugares e temas bastante variados, as suas fotografias constituem-se como “um património histórico, sociológico, etnográfico, cultural, um testemunho de um Portugal de há cem anos, num tempo muito diferente nas suas diversas realidades e contraste.” Entre 1906 e 1927 realizou centenas de fotografias estereoscópicas, que o Arquivo Municipal de Lisboa – Fotográfico deu a conhecer na exposição Jorge Marçal da Silva – A dimensão imersiva, patente entre abril e setembro deste ano. Da mostra, resultou o presente catálogo que dá a conhecer a história pessoal deste cirurgião e fotógrafo amador, cujo rigor e gosto pela investigação inerentes à profissão aplicou à fotografia, e permite descobrir uma prática fotográfica pouco divulgada. Profusamente ilustrado, o livro contém uns óculos e um visor para que possa visualizar as imagens em 3D. CML – Divisão de Arquivo Municipal
Ao longo destes 20 anos, o que mudou na tua ficção e o quais são os elementos característicos da tua escrita?
Quando eu era adolescente, quem frequentava as livrarias era tendencialmente a classe média, classe média/alta. O livro democratizou-se, e ainda bem, para que todos os portugueses tenham acesso às livrarias e possam comprar livros. Por outro lado, isso também implicou que a literatura se tenha democratizado e encontrado vertentes que são hoje as coisas mais procuradas e que não é bem aquilo que eu faço. Tenho um público muito fiel e os meus livros vendem bastante bem, mas os autores que mais vendem em Portugal nem sequer são autores literários. A minha geração, que apareceu ali na viragem do século (final dos anos 90 e início de 2000) ajudou, de certa forma, a regenerar a literatura portuguesa, que era uma coisa um bocadinho estanque nesses tempos…
“Estanque”?
Tínhamos nomes que eram constantemente os mesmos ao longo de algumas décadas: Saramago, Lídia Jorge, Agustina, José Cardoso Pires, António Lobo Antunes, Vergílio Ferreira… A minha geração (que inclui também o Valter Hugo Mãe, o José Luis Peixoto, a Dulce Maria Cardoso e o Gonçalo M Tavares) foi quase obrigada a fazer qualquer coisa diferente. Era mesmo um requisito que fizéssemos alguma coisa diferente. Se não fosse assim, não havia espaço para nós. Levei muito tempo até conseguir encontrar aquilo a que chamamos de ‘voz própria’, uma coisa que não se sabe definir exatamente o que é, mas que é mais ou menos como a melodia na música. Podes andar vários anos na escola a aprender ritmo e harmonia se quiseres ser compositor ou músico, mas não aprendes o aspeto melódico da música, que é mais ou menos a mesma coisa do que quando dizemos que um escritor tem uma ‘voz própria’. Se eu for a uma livraria e me derem um livro sem que eu consiga ver a capa e o título, e se for o Saramago, eu sei que é o Saramago ao fim de quatro linhas. Ou o James Joyce ou a Virginia Woolf. Porque são autores que têm essa melodia inexplicável, que é uma espécie de figura mistério nesta tríade: temos o ritmo, a harmonia e o elemento misterioso. Estou a comparar com a música porque acho que a narrativa literária tem coisas muito parecidas com a posição em pauta. Coisas que se conseguem aprender na escola e outras que não se aprendem. Às tantas, são coisas que aparecem conforme vais evoluindo. De repente, aquilo aparece, não se sabe muito bem como.
Quando é que te apercebeste disso?
Apercebi-me disso quando estive a estudar nos Estados Unidos. Tinha um professor de Fiction Writing [escrita de ficção], a quem passei um ano a mostrar as coisas que escrevia. Levava pequenos contos, depois o princípio de uma narrativa, depois uma cena de um romance, etc. Ele dizia sempre que gostava ou que se percebia quais eram as minhas influências. Ao fim de um ano e tal, no segundo ano de aulas, levei-lhe uma coisa que tinha escrito e ele disse-me “isto é o princípio do teu primeiro livro. Tudo o resto que tu me trouxeste eu sei o que é. Isto eu não faço ideia do que seja”. Foi aí que percebi o que ele queria dizer. É nesses momentos que percebes que encontraste qualquer coisa que já estava lá, mas que ainda não tinhas capacidade para perceber. A minha tentativa de encontrar essa ‘voz’ foi sendo construída ao longo dos livros e do tempo, e depois os leitores começaram a identificar-me. Não sou um daqueles escritores que escreve para si próprio. Escrever dá muito trabalho, e eu gosto mesmo desse lado de saber o que os leitores acham. Não escreveria 20 livros para mim próprio. Se não tivesse tido feedback e conquistado um segmento de leitores bastante alargado não teria continuado a escrever com tanta energia.
És, de facto, um escritor muito prolífico. Isso deve-se a sentires uma dívida para com os leitores ou às exigências do mercado editorial?
Tenho um amigo que diz que sou compulsivamente criativo. Quando não estou entretido com uma narrativa começo a prestar atenção a coisas que não têm importância nenhuma. Começo a ficar entediado e a aperceber-me de que o mundo não é exatamente como eu gostava que fosse. Começo a prestar demasiada atenção aos vizinhos, ao ruído ou às finanças. Quando estou entretido com um projeto literário desvio a minha atenção para aí e a minha energia está concentrada, o que me deixa pouco tempo para enlouquecer, que é uma coisa fácil de acontecer [risos]. Não só a minha saúde mental está mais saudável quando estou a escrever, mas tenho várias áreas em que vou escrevendo, não é só o romance literário. É também o policial e os ensaios. Há uma gama variada de possibilidades e não sinto propriamente que estou em falta. Há também a questão da sobrevivência…
Já vives dos livros?
O período dos últimos dez anos foi quando me fixei mais obsessivamente na questão de ganhar a vida com os livros, que é um exercício difícil em Portugal. Tem de se trabalhar muito e fazer muitas coisas que são exteriores ao livro: viagens, encontros, sessões, ir ter com os leitores para que eles possam, de certa maneira, conhecer-me. Isso tem sido toda uma experiência passada entre os livros e o exterior. Tenho a noção de que, se quero viver disto, não posso ficar parado muito tempo. Não me posso dar ao luxo de publicar um livro a cada cinco anos. Para já, nunca seria esse tipo de escritor. Não é minha tendência ficar num livro durante cinco anos, não consigo. Preciso de coisas novas, novas situações, novas personagens, novos desafios e, por isso, não é bom para mim ficar muito tempo preso a um livro.
Como é a tua relação com os prémios?
A minha tendência é preocupar-me mais com a escrita. Quando as redes sociais invadiram a nossa vida, comecei a afastar-me porque percebi que me iam roubar muito do tempo que dedico à escrita. Claro que tenho dias em que estou mais atento às redes sociais e outros que estou menos, mas a minha tendência é ir-me afastando e profissionalizar as redes sociais. Aquilo é uma coisa distrativa, que serve para me manter em contacto com as pessoas e sobretudo com os leitores, mas não uso muito de modo lúdico porque me ia roubar o tal espaço para escrever, o que requer muita da minha energia e do meu tempo. Outra coisa que achei interessante com o surgimento das redes sociais foi a mudança no papel da crítica. A crítica tinha um espaço muito reservado na imprensa e tinha muito poder nos anos 1980 e 90. As pessoas iam muito pelo que os críticos diziam. Acho que a crítica até durou mais tempo do que devia ter durado com este poder e foi, entretanto, substituída pelo comentário. Se pensarmos bem, não há diferença nenhuma entre alguém que sabe muito de livros e que escreve no Expresso ou no Público e um tipo que sabe muito de livros e que escreve no Facebook. A verdade é que, grande parte das pessoas que escreve sobre aquilo que eu faço, não sabe muito bem o que está a dizer porque não é uma prática que grande parte dos críticos conheça ou tenha. A prática da narrativa enquanto ofício demora décadas a aprender. Essa é uma das coisas que acho engraçada e curiosa acerca do mundo de hoje. Devo ser, provavelmente, o autor português que foi mais vezes finalista dos prémios todos. Fui finalista para aí umas 20 e tal vezes, portanto já estou habituado a não ganhar prémios [risos]. Há coisas que não conseguimos combater, como estar agrupado contra bestsellers que, muitas vezes, nem pertencem à mesma categoria do que o que eu faço. Muitos são autores de autoajuda, por exemplo, não tem nada a ver com a minha escrita. Acho que em Portugal faz falta uma divisão das categorias. Claro que estou muito grato pelo Prémio Saramago que, em Portugal, é o único que abre muitas portas e que dá uma grande visibilidade. O facto de o ter recebido quando o Saramago ainda estava vivo foi uma grande recompensa. Era uma pessoa de quem eu gostava muito, adoro os livros dele. E o Prémio Fernando Namora, em 2021, também veio dar uma ajuda, mas já são muitos mais os prémios que não ganhei do que aqueles que ganhei.
Tens uma relação muito próxima com os leitores. O que retiras dessa cumplicidade?
Acho que aprendo muito com eles. Por exemplo, os dois livros de ensaios que publiquei nasceram dos meus diálogos com os leitores. De ir às bibliotecas, às escolas e a sessões pelo país fora. De conversar com as pessoas e perceber quais são as curiosidades delas em relação àquilo que faz um escritor. Essa curiosidade levou-me a fazer uma série de perguntas. ‘Porque é que escreve?’ é das perguntas que mais me fazem e é uma pergunta estranha, mas muito curiosa. Acabei por escrever dois livros de ensaios muito inspirado pelas perguntas e pelas conversas que fui tendo com os leitores ao longo do tempo e as preocupações parecem ser sempre as mesmas. São as pessoas que leem os meus livros, que gastam dinheiro a comprá-los e por isso devo-lhes essa atenção. A minha dívida de gratidão não é com os académicos nem com os críticos, é com os leitores. Claro que cada um faz a sua parte, mas quem sustenta aquilo que faço são os leitores. Sempre que posso vou tentando pagá-la estando próximo. A escrita exige muito de mim e da minha atenção. Uma das coisas mais tranquilizadoras acerca do processo de escrever e de envelhecer com isso, e de já estar nisto há um tempo considerável, é que, nos primeiros anos, estava sempre em constante dúvida sobre o que estava a fazer porque ainda não compreendia. Uma das vantagens de ter escrito estes livros todos e de escrever algumas partes de livros que não foram publicados é que, essa experiência, levou-me a um lugar em que eu compreendo o que estou a fazer. Essa compreensão é uma grande ajuda. Posso sentar-me à secretária e pode correr mal, pode ser algo de que às tantas me desinteresso ou vai por um caminho que não era o que eu queria… isso às vezes acontece, derrapo e escrevo 50 ou 100 páginas e o texto fica guardado no computador e nunca mais pego nele, mas eu compreendo. Esta compreensão demora muito tempo a chegar, mas quando chega é uma grande ajuda. Sento-me ao computador e conheço o ritmo e a harmonia, sei o que estou a fazer. Pode correr mal, mas sei. De tal maneira que já não consigo não fazer aquilo.
O que acontece a esses textos? Ficam esquecidos no computador sem terem uma segunda oportunidade?
Por exemplo, quando me pedem um conto, por vezes vezes descubro que essas experiências fracassadas lhe podem dar resposta. Vou lá, corto e limo. Nunca houve nenhuma ocasião em que eu tivesse começado a escrever um livro, escrevesse 100 páginas, desistisse e depois voltasse lá. Nunca sucedeu.

O teu mais recente livro, O nome que a cidade esqueceu, volta a ser escrito no feminino. Como resumirias este livro?
Inspirei-me num artigo que li no New York Times sobre um homem que foi encontrado morto pelos vizinhos. A história despertou a minha curiosidade. Vou guardando estas notícias pela casa e de vez em quando vou pensando nelas. No final de 2019 comecei a escrever o livro. Normalmente junto duas coisas que não têm união possível. Neste caso também me lembrei de uma história que apareceu já não sei onde, de uma rapariga que queria revisitar Nova Iorque pós-Guerra Fria. Decidi então escrever através dos olhos de uma rapariga que vem de um país que vive mergulhado numa guerra civil e que vai viver para Nova Iorque nos anos 90. É uma cidade que já não existe. Tal como Lisboa de 1990 também já não existe. Há algumas cidades que continuam a manter-se. Estive recentemente em Belgrado e a cidade parece ter parado no tempo: o modo das pessoas se vestirem, parece que estás nos anos 80, é engraçado. Mas há cidades que não param. Queria fazer essa revisitação, mas unir as duas histórias. Este homem morreu sozinho em casa. O que aconteceria se tentássemos descobrir como é a vida de uma pessoa que se fecha dentro de casa durante sete ou oito anos? Foi a partir daí que comecei a imaginar a história. Não quis apenas revisitar a cidade, mas também os temas de que gosto, entrando no livro através de uma voz feminina, que é algo que faço de vez em quando e que me dá alento.
É difícil para ti escrever a história do ponto de vista feminino?
Agora já não tanto porque fui aprendendo essa linguagem e já compreendo. Pode correr mal, mas eu compreendo o que estou a fazer. Quando me coloco na voz da Natasha, sei quais são as fronteiras e sei qual é a harmonia com que estou a jogar, que é completamente diferente da harmonia que agora estou a usar no policial que estou a escrever. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, são registos completamente diferentes. Quando começo a compreender os registos torna-se tudo muito mais simples. É tudo uma questão de experiência e de ir estudando. Muito da escrita é estudo. Estudo de outros autores, de como é que eles cosem a narrativa, de como é que abordam aquela voz particular. Eu passo a vida toda a fazer a mesma coisa. Posso continuar a ter um público fiel que gosta do que eu faço, que gosta sempre do mesmo, mas eu não gosto. Preciso de novos desafios, senão sinto que estagnei e não quero estagnar.
Foi por isso que a dada altura tiveste interesse no romance policial?
Sempre tive. Desde miúdo que a minha grande paixão é o romance policial. Depois fui entrando noutro tipo de literatura e de geografias e comecei a gostar do romance mais literário. Quando comecei a publicar, o que me era pedido é que fizesse algo diferente e o policial certamente não era uma dessas coisas, embora em todos os meus livros esteja presente um bocadinho dessa instrução. Na adolescência, o policial era fascinante: o Sherlock Holmes, o Poirot, a Coleção Vampiro. Conforme fui crescendo, fui encontrando outras maneiras de me relacionar com a literatura, comecei a encontrar outros autores igualmente fascinantes, mas noutro sentido. Quando cheguei aos 40 anos, finalmente, aventurei-me. Tendo tido esta educação e tendo lido tantos policiais ao longo da vida, achei que o conseguiria fazer, mas só me atrevi depois de ter um percurso mais ou menos estabelecido como escritor. Se começas pelo policial – infelizmente vivemos numa sociedade e num meio literário pequeno – depois é difícil sair dessa categorização e passas a ser o escritor de romances policiais, e eu acho que sou muito mais do que isso.
Por ter uma estrutura mais ou menos fixa, não te sentes limitado?
Há alturas em que é bom ter essa estrutura porque um livro como este que publiquei agora, ou como O Naufrágio, o Ensina-me a voar sobre os telhados ou O Luto de Elias Gro, são livros densos do ponto de vista psicológico e difíceis do ponto de vista da construção. São romances voltados para o interior. De vez em quando, faz-me bem escrever qualquer coisa que tenha maior segurança estrutural porque torna-me mais leve. Um romance como este último, que é difícil nos temas e na abordagem das personagens, é um romance pesado de escrever e isso tem o seu preço. Num policial, por mais descabidas que sejam as situações, há um lado de divertimento de que também preciso. Nos romances mais literários, às vezes tenho pouco espaço para isso. Nos policiais tenho mais espaço para o divertimento, embora sejam mais difíceis de escrever.
Quem são as tuas maiores referências neste género?
Conan Doyle, Agatha Christie… Em Portugal, o Francisco José Viegas e o José Cardoso Pires. Fui buscando um bocadinho de tudo a todo o lado. Já gostei do Joel Dicker, agora não gosto tanto…
Tens os teus livros editados em países como Espanha, Alemanha, México, Argentina, França… em que outros países gostarias de os ver publicados?
Acho que os meus livros poderiam resultar bem em Inglaterra e nos Estados Unidos, mas são mercados difíceis. Normalmente são mercados de desilusão para os escritores portugueses. Fora o Saramago e o Fernando Pessoa, não são mercados onde os escritores portugueses tenham muito sucesso, passam um bocadinho despercebidos. O José Saramago ajudou a abrir essas portas com o Prémio Nobel, mas com o passar do tempo foram-se fechando. Podes até pôr no teu CV que tens livros publicados em 20 países, mas quando analisamos qual foi a repercussão, normalmente é muito pequena, o que acaba por ser um bocadinho frustrante. Nisso sou bastante realista: 85% a 90% dos meus livros vendem-se em Portugal. Em França e Itália os meus livros até venderam bem, mas a maioria do meu público está aqui. Não vou iludir-me e pensar que não é assim, por isso é em Portugal que aposto mais.
Que balanço fazes destes 20 anos?
O João de há 20 anos ficaria surpreendido com a quantidade de coisas que conseguiu fazer, com a quantidade de livros que conseguiu escrever e com os prémios que recebeu e para os quais foi nomeado. Isto de ser eterno finalista dos prémios também é bom sinal, é sinal que estou sempre a escrever e que estou sempre nas listas [risos]. Às vezes tenho dificuldade em olhar para o lado positivo das coisas, o que me leva a pensar “já devia estar muito mais à frente, já devia ter recebido o Prémio Nobel” [risos]. Isto é a minha cabeça doente que às vezes me diz estas coisas disparatadas. O João de antigamente veria o João de hoje com espanto e admiração, e o João de hoje às vezes olha para si próprio e acha que devia ter feito mais.
Quem conhece bem os teus livros fica com a sensação de que há muito de ti nas personagens. Isso não te deixa demasiado exposto?
É inevitável. Acho que não há outra maneira de se ser um escritor que tem o mínimo de empatia (não no sentido que é usado agora tão comummente, mas da possibilidade de estar perante coisas que causam repulsa ou aversão). Essas coisas que me causam aversão são coisas que também tenho em mim e que passam para as minhas personagens. Essa exposição dos lados mais sombrios e difíceis do ser humano é de onde parte a literatura. O Crime e Castigo [Fiódor Dostoiévski] parte daí. Parte daí o Moby Dick [Herman Melville] ou As Ondas da Virginia Woolf. Partem daí todos os clássicos da literatura. É daí que parte o Saramago, mesmo que os livros dele sejam escritos na terceira pessoa, o que provoca, naturalmente, algum distanciamento…
Tu escreves na primeira pessoa…
Sim, e isso provoca uma proximidade. Às vezes, as pessoas acham que eu passei pelas situações dos livros, mas essas coisas não me aconteceram, senão não estaria vivo. Mas há muitas das minhas características mais complexas que estão lá. Acho que isso é absolutamente essencial para um escritor. De certa forma, como dizia há dias o Primeiro-Ministro, um escritor também não tem amigos, no sentido em que os meus leitores não são meus amigos, mas eu posso privar com eles de uma outra maneira. Essa entrega é absolutamente necessária porque o contrário disto é ser um moralista, que é aquilo que hoje está um bocado em voga nos bestsellers, em que o escritor é uma espécie de pedagogo ou instrutor, como se os livros servissem para dar aulas ou lições. O mundo – e o nosso país em particular – está cheio de escritores/psicólogos/gurus. Eu não percebo isso, para mim isso não tem nada a ver com literatura. O contrário é eu abrir-me e ver onde me leva a experiência de tocar naquela ferida ou naquela parte do meu carácter que pode estar manifesta num personagem. É essa exposição – ou o desenrolar dessa narrativa (que não tem a ver comigo diretamente, mas eu conheço aquela experiência intimamente) – que leva a que o leitor se identifique. Há pessoas que leem à procura de socorro/ajuda e essas pessoas tendencialmente vão buscar outro tipo de livro que não são os meus. E há as pessoas que gostam de ler o tipo de livros que eu escrevo, que, parece-me a mim, são pessoas que procuram identificação, não procuram respostas. São duas coisas diferentes.
Paralelamente à escrita, desenvolveste o Projeto Maria Gibson, onde crias bandas sonoras para os teus livros. A música é outra grande paixão?
É muito instintivo. Não sou músico, não tenho instrução musical. Estudei contrabaixo no Hot Clube [de Portugal] quando tinha 15 anos e toquei durante muitos anos, embora sempre de uma maneira amadora. Às tantas, as minhas costas e a minha paciência já não davam para o contrabaixo. Entretanto, comprei uma guitarra feita em 1942, mas que foi reconstruída. Comprei-a na Gibson, nos Estados Unidos, e é um exemplar único. Achei o instrumento muito curioso quando soube a história: foi feita na fábrica antiga da Gibson, no Kalamazoo, estado do Michigan, numa altura em que os homens estavam todos na guerra. Foi a primeira e única vez que os instrumentos da Gibson foram feitos por mulheres, que ficaram conhecidas como as Kalamazoo gals, que, nesse período, fizeram as melhores guitarras que a Gibson alguma vez produziu. Comprei a guitarra e depois comecei a tocar e percebi que havia ali alguma coisa que era muito própria daquele instrumento, que tem um som que remete para uma paisagem desértica e para uma sonoridade country/americana/folk, e que havia ali uma possibilidade de dar uma instrumentação àquilo que eu escrevia. Foi uma tentativa de conseguir encontrar uma sonoridade própria para as minhas personagens, para os meus livros, que acabei por encontrar através de uma guitarra. Tenho outras que servem para outras coisas, mas foi naquela que fui encontrando o som que eu gostava que os meus livros tivessem, caso tivessem banda sonora.
Se não fosses escritor, qual seria a tua profissão?
Acho que seria compositor de bandas sonoras de filmes. É uma das coisas que gostava de fazer, embora, como disse, não tenha instrução musical suficiente para isso. Se eu tivesse dedicado à música metade do tempo que dediquei à escrita, acho que poderia perfeitamente fazer bandas sonoras. Às vezes, acho que os nossos talentos subaproveitados acabam por manifestar-se de outro modo.
O que andas a ler?
Estou a ler Estilhaços, de Bret Easton Ellis, e estou a gostar bastante. Acabei recentemente de ler The Lonely City, de Olivia Laing, que fala da solidão nas grandes cidades. E estou a ler o Misericórdia, da Lídia Jorge. Fiquei muito curioso para ler este livro quando ela ganhou o Prémio Médicis.
Em ano de centenário daquela que foi uma das figuras mais marcantes da vida intelectual portuguesa do século XX, multiplicam-se as homenagens e eventos artísticos em torno de Natália Correia. Amplamente citada tem sido a extraordinária biografia assinada pela escritora Filipa Martins, O Dever de Deslumbrar, publicada em março deste ano pela editora Contraponto. A chegada do espetáculo homónimo ao palco acabou por surgir da vontade expressa da autora e da atriz Teresa Tavares em desafiar Ana Rocha de Sousa, realizadora consagrada pela aclamada longa-metragem Listen (2020), que assim se estreia na encenação com uma peça onde o teatro se cruza com a linguagem da dança e com o vídeo.
Em cena, estão duas Natálias: uma mais jovem (Teresa Tavares), outra mais velha (Paula Mora) – e, de certo modo, há uma terceira, silenciosa na palavra, mas presente no gesto e no movimento, a “Natália onírica” interpretada pela bailarina Ana Jezabel. Segundo Filipa Martins, a ideia de colocar “uma Natália em diálogo com a outra Natália permite dar perspetiva, quer sobre a evolução da vida dela, quer sobre a evolução do seu pensamento”, numa conversa onde passado e presente se entrelaçam com o próprio futuro. “Neste diálogo, está a própria Natália a lançar um repto aos dias de hoje e a inquietar-nos”, refere, ao apontar que “o texto faz pontes com a contemporaneidade, abordando temas como a violência doméstica, crime que ainda hoje é dos mais frequentes em Portugal, ou a censura da palavra, que verificamos neste constante julgamento entre pares, nomeadamente nas redes sociais.”
Embora esteja a passar por um período de “muitas solicitações”, Ana Rocha de Sousa assume a escolha assertiva que fez ao aceitar o desafio de encenar O Dever de Deslumbrar. “Mergulhar no pensamento de Natália Correia foi vibrante. Ao fazê-lo, descobri uma mulher que é muito responsável pela liberdade de todas nós, por mulheres como eu ou a Filipa estarmos aqui, hoje, a fazer o que fazemos. Por tudo isso, somos todas Natálias.”
Personalidade absolutamente impar, da obra escrita, que percorreu os mais variados géneros literários – do romance à poesia, passando pelo teatro e pela filosofia -, à intervenção pública e política, a riqueza múltipla do legado de Natália Correia acaba por estar também presente no desenho do espetáculo, não só através do trabalho de dramaturgia de Filipa Martins, que cruza as suas próprias palavras com excertos da obra, como na encenação de uma artista multidisciplinar como Ana Rocha de Sousa. “Sendo Natália tão multidisciplinar, ela que até pintora foi, faria todo o sentido que este espetáculo também o fosse,” assume a encenadora.
E, como isto é teatro, a inesgotável Natália Correia, com toda a sua inquietação e irreverência, com toda a sua dor e fragilidade, com todas as facetas que surpreendentemente ainda hoje se descobrem, surge em cena como figura teatral de excelência. “Isso está no constante manifesto que lhe parecia ser tão natural, mesmo na vida privada, e que a colocava sempre como que à boca de cena”, lembra Filipa Martins. Assim, “é perfeitamente normal associá-la ao teatral”, pelo que é impossível não perceber em Natália o potencial de uma grande personagem dramática.
A confirmar em O Dever de Deslumbrar, no Clube Estefânia, entre 30 de novembro e 3 de dezembro.
O festival Vale Perdido quer afirma-se como lugar de “encontro de géneros musicais diferentes e de públicos diferentes”. Com curadoria de Joaquim Quadros (programador do VAGO e da LISA), do programador cultural independente Sérgio Hydalgo e de Gustavo Blanco (da Sónar Lisboa), a ideia foi, segundo Quadros, “criar um espaço de provocação ao próprio formato de festival.”
O criativo nome – Vale Perdido – surgiu por ter “um lado mais Disney, que pudesse provocar a imaginação e fazer esquecer um bocado a ideia de festival”. Os três curadores não deixaram nada ao acaso, já que o nome remete para o vale do Tejo e para “a ideia de Lisboa acabar por ser um canto meio esquecido pelo tempo.”

O cartaz inclui 13 propostas musicais “ecléticas e aventureiras”, provenientes de países como Cabo Verde, Estados Unidos da América, França, Japão, Lituânia, Portugal, Reino Unido e Uganda, incluindo estreias de artistas internacionais, como FUJI||||||||||TA; a apresentação de novos álbuns (Nihiloxica); regressos de nomes consagrados, com destaque para Luke Vibert e Kléo; novas colaborações, como a de Gabriel Ferrandini & Xavier Paes; e colocar foco na “efervescência nacional” (Batucadeiras das Olaias, DJ Caring, Maria Reis, Patrícia Brito, Polido, Ricardo Grüssll, Tadas Quazar e Violet).
Ao pensar no alinhamento, os programadores tiveram o cuidado de escolher artistas que “contassem uma história da primeira à última noite”, começando “com um ritual que passasse por vários momentos: pelo experimentalismo, pela tradição do ritmo e pela inovação do mesmo, pelas canções, pelo clubbing, do mais introspetivo ao mais carnal e eufórico”, ou seja, “que proporcionasse várias conversas culturais dentro de si mesmo. O Vale Perdido teria sempre de instigar uma intersecção de pessoas e música”, esclarece Joaquim Quadros.

Os concertos decorrem na Igreja St. George, no B.Leza, na LISA e no 8 Marvila, salas onde a música pode “respirar vários ambientes, refletindo diferentes linguagens e incitando o movimento de um lado para outro pela cidade. A LISA e o B.Leza são os mais óbvios, por serem salas com que trabalhamos, eu e o Sérgio, de forma muito próxima. A Igreja St. George por ser um sítio que já vive o circuito musical de Lisboa e por ser lindo de morrer. O 8 Marvila por ter condições de espaço, crueza, novidade e levar-nos para o outro lado mais marginal e alternativo de Lisboa. A energia do espaço de Marvila tem um ADN de nascimento que acompanha o nosso projeto também.”

A poucos dias do arranque desta primeira edição, Quadros esclarece que a ideia é o festival ter continuidade: “assim que o começámos a desenhar, imaginámos edições seguintes através de ideias e várias colaborações para concretizar. O Vale Perdido, mal apareceu como embrião, começou a ser pensado como um percurso contínuo e de crescimento”. Houve “muita música que ficou de fora, propostas artísticas que não realizámos este ano e que queremos fazer acontecer já na próxima edição. Não fazia sentido uma pontualidade, mas sim um começo.”
Para uma peça com 14 personagens como Tom Vinagre, a jovem encenadora Carolina Serrão optou por colocar em palco apenas cinco atrizes, sendo que quatro delas interpretam as personagens que morrem enforcadas ou queimadas, sob acusação de bruxaria: “Joan por ser uma mulher viúva, Alice por ser uma mulher livre, Susan por ser uma mulher que fez um aborto e Ellen por ser uma mulher que conhece as ervas”. Sobra apenas Betty, filha de proprietários rurais, que, por não querer casar, “é diagnosticada com histeria”, enfermidade comummente apontada às “mulheres de classe alta que não cumpriam os códigos éticos e morais vigentes.”
São estas cinco mulheres que, invertendo o ponto de partida da peça de Caryl Churchill, como que “reencarnam e contam a sua história pessoal”, passada na Inglaterra do século XVII, como se fosse aqui e agora, no palco de um teatro, com as cenas a serem pontuadas pela eletrónica de um live act de DJ Salbany.
Escrita em 1976, Tom Vinagre, ou Vinegar Tom no original, nasceu de uma colaboração de Churchill com a Monstrous Regiment, uma companhia de teatro assumidamente feminista, fundada apenas um ano antes na cidade de Cardiff, no País de Gales.

A partir do tema da “caça às bruxas”, a dramaturga construiu um texto admirável sobre uma época histórica, porém, empregando-lhe uma perturbante atualidade a que nunca é estranha a denúncia da opressão exercida por uma estrutura social patriarcal sobre as mulheres ao longo dos tempos. Como a própria autora assumiu, é “uma peça sobre bruxas sem bruxas”, ou, nas palavras de Carolina Serrão, uma peça sobre mulheres que pagaram com a própria vida “o serem diferentes, o não quererem comportar-se como a sociedade desejaria que o fizessem ou, mesmo, o serem pobres.”
O perigo de se ser mulher… e diferente
Tom Vinagre começa com o encontro amoroso de Alice com um desconhecido sobre quem, mais tarde, caiem suspeitas de ser o diabo. A jovem é filha de Joan, mulher viúva e dona do gato Vinegar Tom, que dá título à peça. Os seus vizinhos são os abastados Jack e Margery, agricultores e donos de terras, a quem a vida começa a correr mal subitamente. Em causa, uma peste que vitima os animais e uma série de problemas na leitaria. A isso, somam-se as constantes dores que assolam Margery e a impotência de Jack, posta a nu quando tenta violar Alice.
Como Deus não castiga “pessoas de bem”, o casal depressa procura uma justificação para tanto infortúnio. Nada mais fácil do que acusar Joan e Alice de bruxaria. Afinal, aquela mãe viúva de língua afiada e a sua filha tida como promiscua pelos aldeões são vítimas perfeitas para arcar com culpas alheias. Até porque não há figura masculina que as defenda.
Mas, em tempos obscuros, ter apenas duas bruxas não pareceria suficiente. Por isso mesmo, a comunidade acolhe de braços abertos a chegada de um reputado caçador de bruxas. Através do terror e da tortura, depressa se descobrem outras mulheres cuja acusação de bruxaria se configura na fuga à norma, na prática do aborto ou no interesse pelo saber.
Tal como Churchill apontou na sinopse que assinou para a estreia da peça, há quase 50 anos, neste tempo e neste lugar “é perigoso ser-se mulher sem um marido; é perigoso ser-se mulher e diferente; é perigoso ser-se mulher e usar ervas medicinais (…)”

Assumindo o espetáculo não apenas como objeto artístico, mas também como parte do seu ativismo feminista militante, Carolina Serrão conta que, “para além da profunda admiração por Caryl Churchill, a escolha desta peça passou muito pela leitura de um estudo de Silvia Federici”. Em O Calibã e a Bruxa, a filósofa italiana radicada nos Estados Unidos sustenta que “a caça às bruxas foi um dos acontecimentos mais importantes para o desenvolvimento da sociedade capitalista”, uma vez que, na fase final do feudalismo, “as mulheres assumiam muitas vez a liderança na luta e na resistência do campesinato europeu contra a tomada de terras por parte da nobreza e do Estado, e que estão na origem do capitalismo moderno.”
“A campanha de terror contra as mulheres foi incomparavelmente maior do que qualquer outra perseguição”, sublinha a encenadora ao lembrar que, como observou a escritora portuguesa e fundadora do Movimento de Libertação das Mulheres, Madalena Barbosa, “o número de mulheres queimadas na Europa durante três séculos chega a ser avaliado em nove milhões.”
Nos dias de hoje, em pleno século XXI, é com preocupação que Carolina Serrão verifica “tantos sinais de retrocesso quanto aos direitos das mulheres, inclusive no mundo ocidental”, lembrando, a exemplo, a reintrodução de leis de criminalização do aborto em vários Estados norte-americanos. Por isso, sublinha ser em nome do “combate pela igualdade de género e pela denúncia desta sociedade patriarcal que continua a domesticar os corpos”, que encenar este “texto maravilhoso” de Caryl Churchill é também “dignificar o legado das feministas que vieram antes de mim.”
A partir da tradução de Vera Palos, Tom Vinagre é um espetáculo interpretado por Catarina Marques Lima, Diana Narciso, Lúcia Pires, Márcia Cardoso e Mariana Branco, com cenário de Fabíola Emendabili e Frederico Pauleta, desenho de luz de Rui Seabra e figurinos da própria Carolina Serrão. Estreia dia 8 no Teatro do Bairro, permanecendo em cena até 26 de novembro.
paginations here











