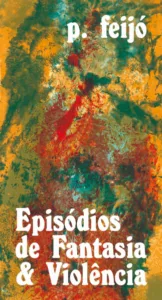“Mas, mas?”, dizem Foxy e Meg, de olhos esbugalhados, como se perguntassem “o que vem a ser isto?”. Pelas páginas fora, a dupla de amigas improváveis (uma raposa e uma galinha) há de tentar descobrir o que é aquela “coisa”, azul e cinzenta, nem redonda nem oval. A Pato Lógico traz de volta as personagens criadas por André Letria em 2004 para uma série de livros editados pela Ambar. Foxy e Meg já foram até protagonistas de episódios para televisão e de um filme animado, com guião de Catarina Sobral e Ricardo Henriques.
Agora, André e Ricardo juntam-se para lhes dar novas aventuras. Este é o quinto livro que fazem juntos e o primeiro de uma coleção com estas duas personagens. Em Foxy & Meg encontram um Mas-Mas, exploram a natural curiosidade das crianças, com muito humor pelo meio, numa história que vale pelo que se encontra no final, mas também pelo caminho para lá chegar. Afinal, o que vem exatamente a ser um Mas-Mas? E será que queremos mesmo saber?
1. Quem são Foxy e Meg?
André Letria (A.L.): São duas amigas improváveis, porque normalmente não se espera que uma raposa e uma galinha sejam amigas, mas neste caso a coisa corre bem. Convidei o Ricardo para escrever a história inaugural desta coleção, que fala de uma coisa misteriosa… A ideia já andava a ser amadurecida há muito tempo, porque fiquei sempre com pena de ver a Foxy e Meg esquecidas. Depois daquelas experiências iniciais, primeiro com os livros que foram editados pela Ambar e depois com a série que foi feita poucos anos depois com a Animamostra. Desde a série, fiquei sempre a pensar que era interessante reabilitar as duas amigas. Não tinha ainda a editora Pato Lógico nessa altura, portanto não havia meios para fazer isso. E, entretanto, elas foram também as protagonistas de um filme, escrito pelo Ricardo e a Catarina Sobral.
Ricardo Henriques (R.H.): Sim, escrevemos um argumento fez-se o filme Isto não é um chapéu, que foi coproduzido pela RTP. Fomos buscar o início da amizade delas: a Foxy roubava galinhas e, um dia, está pôr a Meg no forno e esta diz-lhe “olá” e ela fica espantada: “Não sabia que as galinhas falavam!”. E decide ser vegetariana e fica amiga da Meg. Tem piada porque, no ano em que nasci, a minha mãe escreveu um livro chamado A Raposa Vegetariana… mas essa era só porque estava mal disposta de comer tanta carne.
A.L.: No filme, as personagens são direcionadas para um público mais velho, já não para bebés ou crianças pequenas, como acontecia nos primeiros livros. Agora, encontrámos um público intermédio, que, na verdade, diria que é mais jovem do que aquele para que normalmente trabalhamos na Pato Lógico. Além de recuperar estas personagens e de lhes dar uma vida nova, com um aspeto mais contemporâneo, agrada-me a ideia de este livro ser o início de uma coleção, isso entusiasma-me como editor, e de ocupar um espaço no catálogo que não estava muito preenchido: o dos livros para crianças mais novas, embora não gostemos muito da ideia de limitar o público, porque acreditamos que um livro destes também é para adultos.
R.H.: Pelo menos, para os adultos que não têm vergonha de ler livros para crianças.
A.L.: Já andávamos a falar em fazer um livro com a Foxy e a Meg desde 2018, acho. No ano seguinte, lembro-me que fomos à Feira do Livro Infantil de Bolonha e, quando terminou, alugámos um carro e fizemos uma viagem passando por Parma e Modena. Estávamos em Parma a comer um gelado e a falar de ideias que podiam tornar-se livros no futuro e foi nessa altura que nos entusiasmámos mais com isto. O que me deu mais gozo foi poder atualizar as ilustrações, recuperar estas personagens para criar uma nova coleção na editora e também voltar a trabalhar com o Ricardo.
 2. Como é trabalhar um livro a quatro mãos e como foi a criação deste em particular?
2. Como é trabalhar um livro a quatro mãos e como foi a criação deste em particular?
R.H.: Neste caso, fui bombardeando o André com várias histórias da Foxy e da Meg e acabou por ficar esta.
A.L.: Já existem várias ideias para histórias da Foxy e da Meg e a próxima já está escrita. O nosso processo de trabalho é: o Ricardo escreve a história em bruto, que tem bastante mais diálogo do que depois aparece no livro e depois é feita uma adaptação tendo em conta o formato e a limitação do número de páginas – os livros desta coleção terão sempre o mesmo formato e o mesmo número de páginas. Neste caso, quisemos uma cadência das frases mais curtas, por isso, fui fazendo uma limpeza de algumas coisas escritas pelo Ricardo. Se vou trabalhar num livro como ilustrador, é uma autoria partilhada e, portanto, aquilo que o texto propõe pode gerar respostas que implicam alguma alteração. Penso que o texto original deste livro seria quatro ou cinco vezes maior do que o final.
R.H.: Não sei como é que são as outras “duplas sertanejas”, mas no nosso caso funciona assim: eu tenho ideias de texto, mas também tenho ideias muito visuais e com o André estou completamente à vontade para as propor. E o André, ao contrário de muitos ilustradores que ficam só no seu cantinho, também lê muito e está sempre a fazer propostas. Acho que acabamos por nos completar bem. Desde que fizemos juntos o livro Mar que costumo usar uma expressão: depois da ilustração ser feita, tens de abanar o livro para caírem as palavras que estão a mais. Porque há sempre coisas a mais, que ficam redundantes depois das ilustrações feitas.
A.L.: Penso que se nota que nos divertimos bastante a fazer livros. E, muitas vezes, a nossa vida pessoal e profissional mistura-se e estamos a falar dos livros que vamos fazer como podíamos estar a combinar outra coisa qualquer, não é? Por exemplo, o título deste livro foi decidido na esplanada no Jardim da Estrela, num dia em que fomos passear o Ricotta, que é o cão do Ricardo.
3. Afinal, o que é um Mas-Mas (sem spoiler)?
R.H.: Penso que este é um livro que explora a curiosidade. Quando algo de diferente ou de estranho aparece nas nossas vidas, podemos ter duas atitudes: ter medo e afastar-nos ou avançar e tentar perceber o que é que está à nossa frente. Isto é tão natural numa criança de quatro ou cinco anos como num adulto. Diria que, nesta história, se existe moral, coisa que odeio, é que medo, mas não muito, e coragem, mas não muita…
A.L.: Esta história não tinha este título originalmente. Na verdade, esta ideia do Mas-Mas apareceu numa conversa em que achámos isto podia ser um bocadinho mais parvo do que tínhamos pensado. O Mas-Mas seria uma coisa misteriosa, mas também podia ser uma coisa disparatada.
R.H.: E a parvoíce em nós é uma coisa natural…
A.L.: Gostamos de imaginar que, qualquer dia, os miúdos passam a dizer ‘olha um Mas-Mas’ para se referirem a alguma coisa grande, estranha e misteriosa. Na verdade, acabámos por ter de explicar mais do que queríamos, por causa das traduções para outras línguas… mas gosto da ideia de que não é necessário explicar nada. Uma das coisas que dei por mim a valorizar na história é aquela parte em que a Foxy e a Meg se viram para o leitor e perguntam, depois daquelas tentativas para perceber o que é o Mas-Mas: “Será melhor não sabermos o que é?” É aquela dúvida que fica. É um momento que pode ser mais filosófico e que nos põe a pensar… O que é que interessa realmente? Ou será que resistimos à curiosidade? E vamos continuar a viver o dia a dia sem nunca saber uma coisa que poderia ter sido muito boa? Mas se formos lá pode ser muito má também… Na verdade, o Mas-Mas nem é a descoberta e aquilo que sai do ovo, é o mistério, não é? É o caminho que elas fizeram até lá, não é?
Ver esta publicação no Instagram
Rachel Caiano invadiu o Teatro LU.CA com muitas linhas. No entrepiso e no piso 2, a artista plástica e ilustradora espalhou o seu traço na exposição Viagens à volta de uma linha, que ali estará até 27 de fevereiro, e em que mistura os desenhos do livro Roda-Viva (a Menina e o Círculo), ilustrado por si e escrito por Sandro William Junqueira, com os desenhos que faz, em tempo real, no espetáculo de Cláudia Nóvoa com o mesmo nome (em cena de 12 a 27 de fevereiro). “Cada linha é uma frase, é um novelo, é uma estrada”, promete Rachel, que vive “entre lápis, pincéis, agulhas, cães, guitarras e tabuadas”. “É uma exposição interativa que será feita, em parte, pelos visitantes”, adianta. No espetáculo, indicado para maiores de 3 anos, além de desenhar ao vivo, é também ela a responsável pelos figurinos. “É bom voltar ao LU.CA, depois de várias apresentações pelo país.” Não será fácil, nestas semanas, encaixar programas culturais na agenda, mas as sugestões que aqui faz são tentadoras – e, sobre algumas, Rachel Caiano confessa-se bastante curiosa e entusiasmada.
Anastácia Carvalho
11 fevereiro, 19h
Biblioteca de Marvila
O projeto Música em Bairros, da associação cultural Soma Cultura, tem organizado concertos gratuitos de músicos do mundo em vários lugares da cidade. Esta semana, a cantora são-tomense Anastácia Carvalho atua na Biblioteca de Marvila, e Rachel Caiano, que já ali viu a ucraniana Litá Folk Band, faz desta uma das suas sugestões. “São concertos de proximidade. Todos os cantores atuam nos vários locais e gosto dessa ideia de levar estas músicas até perto das pessoas. Agrada-me muito a multiculturalidade e conhecer coisas de outros sítios. Ficamos com o mundo aqui perto”, nota. Até abril, as atuações acontecem na Ti – Associação Juvenil Ponte, Quinta Alegre, Biblioteca de Marvila e Orientar. Para o concerto de Anastácia Carvalho podem fazer-se reservas para o email bib.marvila@cm-lisboa.pt.
Veludo Azul, de David Lynch
12 fevereiro, 14h
Cinema Nimas
Talvez não seja o melhor dia e o melhor horário para ir ao cinema, mas Rachel não quis deixar de destacar o ciclo de homenagem a David Lynch, que decorre no Cinema Nimas. “Falo do Blue Velvet, mas recomendo qualquer um dos filmes, claro. O David Lynch é incontornável. Mesmo não sendo o meu realizador favorito, tem uma linguagem muito própria que é necessário conhecer”, aponta. “Admiro a forma como trabalha o subconsciente, gosto da ideia de não ter de se perceber tudo, de não ter as respostas todas, de existir espaço para a dúvida e o questionamento. Ele faz isso muito bem e os seus filmes são objetos abertos, que cada um interpretará à sua maneira. Numa altura em que a tendência é explicar tudo e que as coisas tenham todas princípio, meio e fim, agrada-me este lugar que o Lynch cria.”

Cella, d’ Os Espacialistas
MAC/CCB
Na praça CCB do Museu de Arte Contemporânea e Centro de Arquitetura, está uma instalação feita de cortiça, criada pel’ Os Espacialistas, um coletivo de investigação teórica e prática das ligações entre Arte e Arquitetura. “Uma espécie de espaço de natureza anatómica, arquitetónica e escultórica”, como se define, onde podemos entrar e que podemos explorar – e que está nomeado para o prémio de Building of the Year, da plataforma Arch Daily. A ilustradora já se aventurou e recomenda. “É muito sensorial, as pessoas podem sentar-se, deitar-se e rebolar! Dá vontade de trepar e de nos encostarmos”, diz, contando que se deitou lá dentro, a olhar para o céu. “Parece uma eira ou um poço, dá para imaginarmos o que quisermos, é um espaço livre que, sendo fechado, nos abre muitas leituras”, acrescenta.
Festival Play
15 a 23 fevereiro
Cinema São Jorge e Cinemateca Júnior
Começa na sexta-feira, 15, a 12.ª edição do Festival Play, com uma seleção cuidada de filmes de animação para os mais novos – dos bebés aos adolescentes de 16 anos. Rachel conta que sempre frequentou o festival e que, mesmo agora que já não tem filhos pequenos, não deixa de ir. “Não preciso de desculpas e vou à mesma”, diz, defendendo que este não tem de ser um programa apenas para crianças. “Não há muitas ocasiões para vermos filmes de animação e tantos tão diferentes uns dos outros. A programação é sempre variada e ali descubro o que se está a fazer em animação pelo mundo. Gosto muito deste festival.”

Lucy and Friends, de Lucy McCormick
14 e 15 fevereiro, 19h30
TBA – Teatro do Bairro Alto
É uma sugestão quase no escuro, esta. “Não conheço a Lucy McCormick, mas estou muito curiosa. Parece-me uma proposta muito interessante, diferente e visceral, e agrada-me essa ideia de puxar as margens para o centro. Pelo que li, tem uma linguagem mais divergente que nem sempre tem muita visibilidade”, diz sobre o trabalho da artista britânica cuja biografia destaca as “interrupções em discotecas, intervenções em cabarets e peças de teatro espetaculares, conjugando interesses no absurdo, no ego e no grotesco”. Neste regresso ao Teatro do Bairro Alto, Lucy promete deixar o público “a precisar de ser abraçado, de chorar um pouco e de tomar logo um duche” depois de ver “o seu mais ambicioso espetáculo de cabaret queer moderadamente conceptual”. “Além disso, no dia 15, há uma conversa moderada pela Maria Sequeira Mendes, por isso, só pode ser bom”, conclui a ilustradora.
Os Cães e os Lobos, de Irène Némirovsky
Relógio d’Água
“Sugiro o livro que estou a ler neste momento. É uma autora que descobri há pouco tempo e já li vários dos seus livros. Comecei pel’ O Baile, que é um conto incrível, li outros e agora vou a meio deste, que dizem que é o melhor dela. Estou a gostar muito”, afirma sobre as obras de Irène Némirovsky, escritora judia que morreu durante a II Guerra Mundial no campo de concentração de Auschwitz. “Os livros passam-se naquela época, anos 30 e 40, e ela escreve sempre de um ponto de vista muito humano. Não sendo autobiográficos, penso que são muito próximos da história dela, da sua relação com a família e com a mãe, em especial”, descreve Rachel, confessando que gosta de explorar a obra dos escritores e não ficar apenas por um dos seus livros. Annie Ernaux foi outras das escritoras que leu recorrentemente nos últimos meses.
A tua relação com a música começou muito cedo. Tinhas seis anos quando começaste a aprender violino. Foi por vontade própria ou dos teus pais?
Surgiu por minha vontade, mas gostava que tivesse durado mais tempo. Comecei por frequentar música para bebés aos três anos, e lá experimentávamos um pouco de tudo. Iniciei a aprendizagem de violino por uns cinco anos, mas nunca cheguei a ser boa. Mas sempre foi tudo muito orgânico, os meus pais nunca fizeram pressão para eu fazer música, mas também nunca estiveram contra, e fui experimentando também muitas outras coisas. À medida que o tempo foi passando fui encurtando as possibilidades até perceber que era mesmo na música que queria continuar.
Cresceste rodeada de música: o teu pai trabalhava com o Fausto e com o José Mário Branco. De que forma é que isso influenciou o teu caminho?
Não sei exatamente de que forma, mas a verdade é que, obviamente, teve influência. Tenho a certeza de que, se tivesse crescido noutra casa, a música que faço seria diferente. Nunca nada me foi imposto, foi uma coisa muito natural, sempre ouvi muita música em casa. Do lado do meu pai, mais música portuguesa, e do lado da minha mãe, mais anglo-saxónica e jazz, portanto, houve uma fusão e um interesse que eu acabei por recolher de forma absolutamente inconsciente. Podia, se calhar, não me ter apaixonado por este ofício, mas aconteceu.
Há também um gosto muito grande quer pela poesia, quer pela literatura. Isso também influenciou a tua forma de compor?
Influenciou muito. Mas foi uma paixão já tardia, embora eu seja muito nova [risos]. Escrevia prosa de forma absolutamente descomprometida, até que, no ensino secundário, tive uma professora brilhante de literatura portuguesa, ela própria muito apaixonada por literatura, o que levou a que eu também ganhasse esse amor. É mesmo importante ter professores que gostam do que fazem pois isso tem um impacto enorme nos alunos. Apaixonei-me primeiramente pela obra de Fernando Pessoa e a partir daí comecei, de forma quase obsessiva, a explorar a literatura portuguesa. Isso mudou muito a minha forma de escrever canções. Tive de entender que, depois de ler tantas obras incríveis, nunca iria escrever nada brilhante – percebi o meu tamanho microscópico nessa área, mas sou muito apaixonada por poesia…
Consomes mais poesia do que prosa, é isso?
Muito mais, sim.
A certa altura, apaixonaste-te pelo fado. Como é que começaste a frequentar casas de fado?
Os meus pais não gostam muito de fado, na verdade, acho que também nunca tiveram essa cultura. Mas um dia fui a uma casa de fados e apaixonei-me. Comecei a ir mais vezes, cada vez com mais regularidade e percebi que aquilo que estava a atrair-me não era tanto a questão musical, mas sim o ambiente que lá se vive, a forma como fui recebida. E o fado apareceu numa altura em que eu precisava dele, precisava de me sentir compreendida no meio de pessoas que são, de facto, muito sensíveis. Foi uma fase muito especial e que me mudou, principalmente, como intérprete. É muito engraçado porque o De Sombra à Sombra nasceu antes desta fase, mas a partir do momento em que comecei a visitar casas de fado, o disco teve uma alteração de 180 graus. Realmente comecei a cantar de forma diferente. Vou parecer louca, mas já é a segunda paixão obsessiva que tenho [risos]. Talvez tenha sido ali uma coisa muito vincada e, atualmente, já não é tanto assim, mas é uma influência que vai existir para sempre, porque quando nos apaixonamos pelo fado já não há forma de ele se ir embora.
Consegues definir a música que fazes? Há quem diga que é uma mistura de fado e pop…
Não gosto nada de rótulos, até porque os artistas estão constantemente em transição. E, embora não concorde, entendo a associação do meu primeiro disco ao fado. Não foi propositado, mas houve essa influência, por isso entendo que a minha forma de cantar possa remeter para esse lugar. Aquilo que estou a fazer agora – e tudo o que vier no futuro que esteja mais ou menos associado ao fado – não é propositado. Amanhã posso fazer um disco de reggaeton e essa gaveta deixa de fazer sentido, mas é normal, faz parte. 
“A arte tem de vir de um sítio de vulnerabilidade”
De Sombra à Sombra foi escrito a partir de um lugar um bocadinho sombrio. Como é que é interpretar músicas com as quais, se calhar, agora não te identificas tanto?
Atualmente, cantar as canções desse disco é um processo bonito. No início foi um bocadinho doloroso, no sentido em que sou muito intensa na minha forma de interpretar e de estar em palco. Aquilo que canto é o que estou a sentir no momento… Às tantas comecei a perceber que isso já não estava a acontecer, porque realmente eu já não estava naquele lugar tão escuro. Mas foi um exercício muito giro, era quase como se eu estivesse a fazer uma homenagem a uma artista que não era eu, e a criar uma ligação de empatia com uma terceira pessoa. Por isso, canto esse disco a partir de um sítio diferente, mais bonito, porque estou a cantar a tristeza de uma forma distante. Na altura em que estava naquele lugar sombrio, precisava de estar constantemente a exteriorizar isso. Mas há uma coisa engraçada: antes de ter começado a tocar ao vivo, a imagem que as pessoas tinham de mim – fosse por causa do disco ou de algumas entrevistas que dei – era de uma pessoa pesada, muito fria e distante… Quando comecei a tocar foi bonito perceber que as pessoas não sentiam nada disso, porque depois tenho o lado leve dos meus 23 anos e, portanto, estou sempre nesse balanço entre o lado escuro e o lado mais solar.
E não é difícil partilhares as tuas inquietações?
No início, com algumas canções específicas, tive medos. Agora, isso raramente me passa pela cabeça. Sinto que a arte tem de vir da vulnerabilidade. Se eu estiver preocupada com isso e a tentar esconder ou tornar menos óbvias as coisas que quero contar, a mensagem não vai chegar de forma tão clara ao público. Se escrever uma canção a partir de um sítio vulnerável e triste, acho que é importante que isso passe para as pessoas, não quero tentar mascarar as coisas. Já não é algo que me preocupe muito, acho que já não é um assunto. Aconteceu com algumas canções, principalmente com a Roubar um corpo, mas agora já não.
Neste álbum trabalhaste com o Agir. Como é que surgiu esta colaboração?
Foi um acaso. Não o conhecia pessoalmente, mas sabia quem ele era. Tinha escrito o Lamentos, que era o primeiro single, e pedi ajuda ao Rodrigo Correia, que foi quem me ajudou também no De Sombra a Sombra. Sem que soubesse, ele mostrou a canção ao Agir. Um dia, estava com as minhas amigas na rua à noite a fumar um cigarro e recebo uma chamada do Agir, a dizer que tinha ouvido a canção e a perguntar se queria passar no estúdio. Fui, demo-nos muito bem, começámos um namoro profissional e fomos trabalhando… Fomos unha com carne. Não foi sempre fácil, mas foi sempre muito verdadeiro.
E depois participaste no Festival da Canção [em 2022] com uma composição dele. Como é que foi interpretar uma música que não foi escrita por ti?
Amo cantar, com paixão. Às vezes sinto que, se calhar, estou a fazer as coisas erradas. Poderia estar a cantar canções de outros em vez de escrever as minhas. Amo cantar canções de outras pessoas quando me identifico verdadeiramente com elas. E a verdade é que eu me revia cem por cento nessa canção, que fala sobre a importância de estarmos atentos ao papel da mulher. Foi uma responsabilidade grande defender uma canção daquelas no festival. Uma situação que, à partida, me era desconfortável: a questão de estar a pedir votos, de pôr a música em competição, não tem muito a ver comigo, mas acabou por ser uma etapa muito especial para mim.
No ano passado atuaste num Teatro Maria Matos completamente esgotado, e agora vais estar no CCB. Como é que te sentes?
Só vou ter consciência de que isso está a acontecer quando acabar o concerto, porque parece tudo meio irreal… Desde ter o disco lançado, que não era uma coisa que estivesse realmente nos meus planos, a todas as coisas boas que foram acontecendo desde então, tudo me parece uma surpresa. Estar a tocar no CCB e na Casa de Música, dá-me uma sensação de síndrome de impostor: como assim? isto está mesmo a acontecer? Mas, falando sobre os concertos, acho que que vai ser o fecho de um ciclo, não um fecho completo, porque, na verdade, o disco saiu há dois anos e mal seria se nunca mais voltasse a cantá-lo. Mas, porque vou começar a preparar outro disco, o concerto no CCB vem encerrar este ciclo escuro do De Sombra a Sombra, embora comigo a cantar com mais distância. Aquilo que mais quero é que seja um concerto intimista e muito familiar, que as pessoas sintam que entraram em casa. Adorava encontrar um palco gigante onde as pessoas pudessem estar ali e que fosse quase em modo tertúlia. Não é a melhor sala para fazer isso, é muito grande [risos] e também por isso estou um bocadinho nervosa…
Agora que estás a trabalhar no próximo álbum, podemos esperar um trabalho mais solar?
Sim. Este lado mais solar tem mais a ver com a forma como estou a viver e a olhar para a minha vida, porque nem sequer sei se sou boa a escrever coisas levezinhas, será um desafio para este ano. O sítio mais leve não vem tanto da parte temática, mas sim da forma como estou a olhar para a vida. Estou realmente mais feliz e mais leve. Estou a preparar este disco com calma, não quero sentir pressão, acho que não faz sentido. Quero ter a certeza de que aquilo que estou a contar é aquilo que quero contar. E parece-me que o Algo mais já é uma boa iniciação para o que aí vem.
Ver esta publicação no Instagram
Na galeria principal do Gabinete Curiosidades Karnart (GCK), pouco mais de uma dezena de pequenas cabines individuais em círculo cercam o camarim de Bianca, uma dançarina de strip tease do Quartier Pigalle acabada de ultrapassar os 50. Quando cada espectador se instala na sua cabine, já Bianca está em frente ao espelho, vertendo lágrimas: os novos donos do Love Supreme, o peep show onde trabalha desde os 18 anos, acabam de a despedir – “esta adoração estúpida pela juventude, eles queriam era miúdas novas. Aliás, parece que neste negócio atinges o auge entre os 18 e os 25 anos, depois é tarde demais, dizem eles”, nota a dado momento Bianca.
Antes de abandonar definitivamente o lugar que roubou nome ao mais mítico álbum de John Coltrane – e que nem as mais jovens dançarinas nem os novos donos eslavos sabem quem é (“Não conhecemos o John Coltrane, estamos a cagar-nos para esse gajo, e se nós não conhecemos, os outros também não conhecem!”, cita-os Bianca) -, a dançarina despe-se uma última vez. Contudo, agora já não é o corpo, considerado noutro tempo “objeto de desejo”, mas a própria identidade e a memória que são postas a nu, a par do olhar pessoal sobre o mundo da noite, que mudou numa cidade também ela distante daquela que outrora terá sido.
“É muito interessante nesta peça o modo como o lugar da mulher na sociedade patriarcal é abordado, desde o objeto de desejo sexual ao eventual potencial maternal”, sublinha Andreia Bento que, além de dar corpo e alma a Bianca, assina com Nuno Gonçalo Rodrigues a encenação deste texto escrito em 2018 pelo dramaturgo francês Xavier Durringer.
Para Andreia Bento, a identificação com a protagonista de A Love Supreme foi imediatamente reforçada por partilhar com a personagem a mesma idade. “A Bianca é vítima desta ideia de que as mulheres de uma determinada idade se tornam invisíveis e descartáveis, que deixam de ser válidas”, aponta.

Para além desse olhar sobre o envelhecimento da mulher, A Love Supreme aborda questões culturais e sociais a partir das histórias e das referências culturais que vão sendo partilhadas. Com uma grande paixão pela música – com os Joy Divison e os Clash à cabeça, ao lado (claro) de Coltrane – e pelo cinema, Bianca usa a iconografia que capta através de uma cinefilia esclarecida para a sua arte – são incontáveis as menções a filmes como O importante é amar, Uma mulher sob influência e Paris, Texas, e às suas estrelas: Romy Schneider, Gena Rowlands e Nastassja Kinski.
“Independentemente das experiências de vida da personagem serem muito diferentes das minhas, a peça fala de um mundo que, de certo modo, também foi o meu. Há a memória algo glamorosa da noite de Pigalle de que ela fala e faz lembrar o Bairro Alto de quando eu era nova, com as noites do Frágil”, refere a atriz e encenadora.
“Um tour de force da Andreia”
A peça A Love Supreme chegou às mãos de Andreia Bento através da editora francesa de textos de teatro independente Éditions Théâtrales. “Por saberem dos nossos Livrinhos de Teatro [coleção de textos dramatúrgicos editados pelos Artistas Unidos, atualmente com a chancela da SNOB], enviaram-nos uma lista com peças de alguns autores franceses para saber se tínhamos interesse em publicar. Uma das peças era esta, do Xavier Durringer, de quem encenámos em 2001, ainda n’ A Capital, Bal-Trap”, lembra.
“Ao ler a sinopse, que referia qualquer coisa como Bianca, bailarina de peep show de 50 anos, despedida por não ser já considerada atraente, rentável…, disse para mim mesma ‘quero ler isto'”. Na altura, Andreia tinha completado 49 anos e quando acabou de ler a peça, confessa, “estava apaixonada pela personagem e senti que tinha de a fazer.”
Interpretar Bianca começou por comportar, desde logo, um primeiro desafio para a atriz: “Esta proximidade muito grande com o público, esta necessidade de o fazer no limite, com um elevado grau de exposição, é algo que nunca tinha experienciado na minha carreira. Acho que aos 20 anos era incapaz de fazer algo deste género, aos 30 não teria coragem para o fazer de todo, mas agora, aos 50 anos, sinto-me no melhor momento, mais consciente de mim mesma, a passar pela fase mais plena e segura da minha vida.”

Ao mesmo tempo, este é o primeiro monólogo de Andreia Bento, e logo com “um texto muito longo e exigente, tanto do ponto de vista emocional como físico”. “Para estar uma hora e meia sozinha em cena, iria precisar de quem me ajudasse criativamente na ideia do espetáculo” – e assim a atriz estendeu o desafio a Nuno Gonçalo Rodrigues, com quem havia encenado, em 2023, a peça de Frances Poet Adam.
“Eu e a Andreia somos muito cúmplices, mesmo quando não concordamos ou temos visões um bocadinho diferentes das coisas”, aponta Nuno Gonçalo Rodrigues. Sobre A Love Supreme, o também ator faz suas as palavras do autor da peça: “é quase como se fosse uma improvisação de jazz para uma atriz”. Por isso, o seu trabalho com Andreia passou por “guiar um bocadinho” a atriz “na forma como os objetos e o som se podem tornar gatilhos para a memória. A escrita do Durranger é muito real, muito crua e orgânica, o que convida a uma série de flutuações do discurso e mudanças súbitas de ambiente”, atenta.
Voltando à imagem da improvisação de jazz, Andreia acredita que, inevitavelmente, cada récita será sempre diferente, como “um caminho em construção”. Nuno crê que o grau de exigência de A Love Supreme é “um verdadeiro tour de force para a Andreia”, mas ao qual, dizemos nós, a atriz corresponde desafiando-se, minuto a minuto, neste peep show que os Artistas Unidos levam ao GCK até 22 de março.
[este artigo foi atualizado na data de término da temporada]
Na sua segunda colaboração com o dramaturgo e encenador Pedro Penim, depois de em 2021 ter integrado o elenco de Pais & Filhos, Stela assume o papel da protagonista em A Farsa de Inês Pereira. Esta produção do Teatro Nacional D. Maria II, na estrada desde outubro de 2023, oferece uma visão contemporânea da peça vicentina escrita em 1523, transformando Inês Pereira numa “adolescente bastante raivosa ou, como se diz no texto, numa baddie“. Um desafio acrescido para Stela – “eu não sou nada assim”, pelo que “tive de me inspirar noutras pessoas para torná-la minha e conseguir interpretá-la”. À construção desta Inês Pereira punk e algo destrutiva, Stela debateu-se ainda com “um texto muito palavroso e em verso”, o que representou “um desafio teatral” acrescido para a intérprete. A partir de 12 de fevereiro, este “olhar cáustico sobre alguns alicerces da sociedade contemporânea, como o trabalho, a sexualidade e a célula familiar”, chega a Lisboa, ao Teatro Variedades, e em cena, ao lado de Stela, vão estar, entre outros, Rita Blanco e Hugo van der Ding.

Intimidades em fuga. Em torno de Nan Goldin
MAC/CCB
Até 31 de agosto
A partir da obra da fotógrafa norte-americana de origem judaíca Nan Goldin, o MAC/CCB, em Belém, apresenta aquela que é uma das exposições do ano em Lisboa. Goldin destacou-se pelo seu trabalho em torno da intimidade, sublinhando em parte considerável do seu trabalho os corpos LGBT e o drama do HIV. A mostra parte de The Ballad of Sexual Dependency e reúne outras 65 peças de 36 artistas diferentes, num diálogo que recorre à obra de Goldin para gerar outras fugas e explorar temas variados ligados à intimidade, com enfase no trabalho de artistas femininas que desafiaram normas patriarcais. Segundo Stela, “é importantíssimo ver a obra de Goldin e conhecê-la pela importância que tem na arte e na fotografia.”
Isto não é uma aula – referências LGBT na literatura portuguesa
Casa do Comum
5 de fevereiro, às 19h
Segunda conversa de um ciclo de 11 que a Casa do Comum, no Bairro Alto, promove com a Causas Comuns, estrutura dirigida pela atriz Cristina Carvalhal, e a Livraria Aberta. O mote é dado pela leitura de um ou mais textos da literatura portuguesa, escritos entre o século XIX e a atualidade, que, sublinham os organizadores, “estava mesmo a pedir uma releitura queer“. A conversa é dinamizada por Paulo Brás, e para além da pertinência desta iniciativa, Stela destaca a Casa do Comum como um espaço que vale sempre a pena visitar por ser “um sítio muito dinâmico, onde há sempre coisas novas a acontecerem.”
Festa CURVS#12
Planeta Manas (Prior Velho)
8 de fevereiro, a partir das OOh
Às portas de Lisboa, no Prior Velho, surgiu em 2021 um espaço cultural colaborativo entre a Associação Cultural Mina e a Rádio Quântica. “Frequento bastante o Planeta Manas pela sua relevância cultural, sobretudo pelo foco na música eletrónica, e por ser ao mesmo tempo um espaço de resistência queer“, explica Stela. Pelo seu caráter inclusivo, tornou-se “um dos maiores safe space de Lisboa para pessoas queer saírem à noite”. No próximo sábado, noite dentro, acontece a celebração de “dois anos de resistência e abundância” com a CURVS#12, ao som de GAYANCE e DJ Caring. “É uma rave, uma festa de tecno e underground, onde as pessoas queer podem expressar de uma forma mais efetiva e criativa as suas identidades.”
poros
Malva
Disponível em Spotify, Apple Music e outras plataformas
Carolina Viana, mais conhecida por Malva, música e compositora natural de Viana do Castelo, tem novo disco. O sucessor de vens ou ficas chama-se poros e é já a banda sonora de Stela por estes dias. “Para além de minha amiga, a Carolina é um talento que escreve de uma forma muito profunda e poética. Este álbum, saído há poucos dias, é muito bonito e tem uma canção, manada, escrita durante uma residência de duas semanas que fizemos na minha aldeia natal, Miranda, em Arcos de Valdevez, e que deu origem a um espetáculo que lá apresentámos”, conta. poros é o segundo registo de Malva e conta com participações especiais de Mimi Froes, Miguel Marôco, Luís Duarte Moreira, Bia Maria e Francisco Fontes.
Um disco e espetáculos em vários palcos do país, sempre acompanhados de conversas com especialistas. Como surgiu este Viva la Muerte!?
Pensámos fazer o disco depois dos seis espetáculos se terem realizado. Só a seguir aos concertos entraríamos em estúdio para gravar os temas, mas os espetáculos, que eram para se estrear em setembro do ano passado, tiveram de ser adiados, devido a um acidente que tive no mar e que implicou uma intervenção cirúrgica e um longo período de imobilidade e de recuperação. Esse facto criou-nos um vazio, por isso, decidimos mudar os planos. Já que tínhamos um interregno sem nada para fazer, fomos gravar o disco. Os temas estavam todos feitos, portanto, os músicos entraram em estúdio em setembro e gravaram tudo sem mim. Só fui lá depois, ainda meio combalido, fazer as vozes. Foi assim que o disco foi gravado e saiu agora.
Viva la Muerte! fala-nos de fascismo. Porque escolheram este tema neste aniversário da banda?
No início de 2023, fomos convidados pelo Theatro Circo de Braga para fazermos um espetáculo comemorativo dos nossos 40 anos. Fomos apanhados um bocado de surpresa, não é nossa prática andar a olhar para o passado, gostamos mais de olhar para o futuro. Quando demos a resposta, já levávamos esta proposta: fazer um espetáculo de palco que, em vez de ser uma retrospetiva dos nossos 40 anos, apontasse para o futuro, aproveitando o facto de serem os 50 anos do 25 de Abril. Sentíamos que era urgente falar de uma temática que começa a ser perigosa, não só em Portugal, mas em todo o mundo democrático, que é esta ameaça latente da extrema direita e do regresso do fascismo, seja qual for a aceção que queiramos atribuir ao termo. Quisemos olhar para o lado ideológico do fascismo, fazer-lhe uma espécie de psicanálise do que são as suas traves mestras, do que é esta pulsão de morte que lhe está inerente, que é a sua principal matriz ideológica. E queríamos que essa interpretação deste perigo iminente do fascismo tivesse um lado mais sério, mais sapiente, mais científico, chamemos-lhe assim. Desde logo, propusemos que houvesse, paralelamente a este espetáculo de palco, uma conferência com especialistas, com historiadores que soubessem do que estavam a falar e que nos ajudassem a compreender e a pensar este fenómeno do ressurgimento do fascismo e das ideias fascistas.
Musicalmente, isso levou-vos para uma sonoridade que evoca o 25 de Abril.
A ideia de fazer um espetáculo sobre o tema do fascismo iria permitir que fizéssemos coisas novas além daquelas que estamos habituados a fazer. Porque nos mandava para algo que tinha a ver com a música portuguesa de intervenção pré-25 de Abril e logo a seguir ao 25 de Abril, iríamos lá buscar referências, nomeadamente ao José Mário Branco: referências melódicas, harmónicas, vocais… permitiria que usássemos um coro masculino, que era uma espécie de piscar de olho ao Grândola, Vila Morena. Também nos permitia explorar novos caminhos em termos estritamente musicais: a ideia era misturar essas referências de música de intervenção com a nossa matriz, mais rock e experimental.
Então, partiram primeiro para a música e só depois para as letras?
Há 40 anos, partíamos das letras para as músicas, mas desde finais dos anos 90 que estamos a trabalhar essencialmente – não quer dizer que não haja exceções – a partir das músicas para as letras. A mim, autor das letras, ajuda bastante ter já muitas restrições, porque a página em branco é demasiada liberdade. Perco-me um bocado, assim estou mais focado em termos de métrica e de rima. Há uma série de condicionantes que me focam mais e que me ajudam bastante a escrever.
Criar músicas acaba, de alguma forma, por ajudar também a enfrentar a realidade, nomeadamente esta do ressurgimento do fascismo?
Alivia-me eticamente sentir que contribuo para defender a democracia, não é? Acho que é um dever moral de qualquer cidadão amante da liberdade fazê-lo, ainda mais um artista que o pode fazer no seu trabalho. Mas não mais do que isso.
Porque sentiram necessidade desse lado “mais sério”, como lhe chamou, e de ter paralelamente conversas sobre o tema?
Fala-se muito de fascismo, designando as coisas mais variadas e até mais comezinhas, como, por exemplo, a obrigação do uso de máscara, que ouvimos muitas vezes no tempo da pandemia, ou dizer que um superior hierárquico mais rígido é um fascista, ou que o terrorismo islâmico é fascismo… Acabamos por usar o termo indiscriminadamente. E achamos que a ameaça é tão real que a palavra não pode ser utilizada de uma forma tão leve. Temos de saber do que estamos a falar. Apesar de nas letras das músicas ter uma liberdade artística, fui estudar afincadamente, fartei-me de ler livros sobre o que é o fascismo, sobre as suas matrizes ideológicas. O que me interessava mais era perceber porque é que hoje essas ideias velhas de cem anos estão a ter tanto eco e perceber que ideias concretamente são essas. Sabendo quais são as características ideológicas do fascismo, podemos saber sobre o que estamos a falar e quais são os perigos que isto traz, porque estas ideias têm consequências.
Nessas leituras chegou a algumas conclusões?
Sim, cheguei. Aliás, as conclusões estão espelhadas nas músicas, de alguma forma. Com alguma liberdade artística, como é evidente, porque estamos a falar de criação artística. Mas o cerne está lá. A primeira conversa já aconteceu, em Braga, e fiquei contente porque todos os oradores foram buscar excertos como exemplificativos de uma boa síntese do que são as ideias fascistas ou do que é a trave mestra das ideias fascistas. Deus Pátria Autoridade é o tema inicial do espetáculo e também do disco, e põe logo em cima da mesa o que é o cerne do fascismo.
Em Viva la Muerte!, há alguma réstia de esperança?
Viva la Muerte!, que dá nome ao espetáculo e ao disco, é o tema final, que sai com alguma esperança, sim. Há uma espécie de grito mudo que se ergue ali e que diz “não”. A esperança somos nós. Nós é que podemos dizer “não” a isto. Os fascismos sempre chegaram ao poder através de eleições – aconteceu assim há cem anos e está a acontecer assim agora. São todos democráticos, só que depois, quando se instalam no poder, começam a ilegalizar, a limpar, a alterar a Constituição, a mudar o regime, a criar o Estado Novo, a nova ordem… Na verdade, até falam disso de uma forma encapotada, ouvimos o Chega dizer que é contra o sistema, não é? Nós é que interpretamos aquilo de uma forma ligeira. Portanto, há esperança, sim, mas a esperança somos nós.

Não sendo os Mão Morta uma banda que gosta de olhar para trás, acabaram por fazer algum balanço nesta altura de aniversário ou nem por isso?
Não mesmo, verdadeiramente olhamos para a frente. Se fizéssemos um balanço, acho que ia ser positivo, mas isso seria um bocadinho andarmos a afagar o ego e não é isso que nos move. Gostamos de música, de fazer música, de experimentar música e de aprender música e também de fazer coisas novas. Não é que nunca tenhamos usado coros, por exemplo, mas nestas músicas utilizamos o coro como elemento central da composição e de uma forma que nos obriga a trabalhar de outras maneiras em termos melódicos, vocais, harmónicos, etc… Mesmo em termos de escrita, usamos o coro de uma forma muito mais abrangente. Tanto o pensamos como uma espécie de coro grego, como o usamos como uma espécie de coro operático, à Kurt Weill. Há uma data de experiências que vamos fazendo e é isso que nos dá prazer. Trabalhamos na música porque pura e simplesmente gostamos. Não é o nosso ganha-pão, não é a nossa sobrevivência. Portanto, temos essa liberdade absoluta de sermos apenas guiados pelo nosso anseio, pela nossa vontade de descoberta, de fazer coisas que não fizemos ainda. Agora, juntámos uma necessidade profunda de nos manifestarmos politicamente, de uma forma cidadã, relativamente a este perigo que sentimos premente do regresso do fascismo, com uma necessidade de nos manifestarmos musicalmente, de fazer aquilo de que mais gostamos, que é descobrir. Este disco e este espetáculo são a junção dessas duas facetas.
Tem sido esse lado do prazer e essa forma de fazer música, quase como um hobby, que vos tem dado longevidade?
É um dos motivos, sim: o facto de não termos uma dependência física e económica relativamente à música. Se estivermos fartos da música, vamos embora. Mas se não estivermos, continuamos. E, não estando, o que gostamos de fazer é descobrir, não há necessidade de andar a repetir uma fórmula de êxito, não é isso que nos move. É o prazer puro e o prazer puro não cansa, acho.
Imaginavam, há 40 anos, quando começaram quase sem saber música nem saber cantar, que aqui estivessem hoje?
Nem nos piores pesadelos! Começámos a banda para irmos passar umas férias a Berlim, coisa que nunca realizámos até hoje. E fomos aprendendo. Foi essa necessidade de aprender também que nos guiou o caminho e que fez com que, nas encruzilhadas, direcionássemos os nossos passos para um lado ou para o outro. A banda, que começou de uma forma incipiente e sem saber ler nem escrever, hoje tem dos melhores músicos que existem no panorama nacional. Sem falsa modéstia, até porque não sou músico, portanto, estou à vontade para dizer isto.
Há saudades dos tempos mais loucos daqueles concertos míticos no Theatro Circo ou no Rock Rendez-Vous?
Faz parte do nosso crescimento e da nossa aprendizagem, mas não temos saudades do passado. Só não me importava nada de ser o que sou hoje e ter fisicamente menos 40 anos, a idade começa a pesar…
Mas isso não há de impedir um concerto cheio de energia na Culturgest.
Este é um espetáculo que não pede tanta energia, mas musicalmente é muito enérgico, sim. E tem muita força, penso eu.

Han Kang
O Livro Branco
O historiador francês Michel Pastoureau, um dos maiores especialistas na simbólica das cores, escreve em Branco – História de uma Cor (ed. Orfeu Negro): “na sua maioria, as ideias associadas ao branco são virtudes ou qualidades: pureza, inocência, sabedoria, paz, beleza, higiene. (…) Foi também, durante muito tempo, a cor do sagrado e da sua encenação”. Simbólica poderosamente expressada neste belíssimo livro de Han Kang, autora sul-coreana galardoada com o Prémio Nobel de Literatura 2024. A obra, dedicada à memória da irmã mais velha que morreu com apenas duas horas de vida, é o livro mais autobiográfico da escritora, a história de como nasceu e cresceu no “lugar dessa morte”. A autora sul-coreana evoca tal memória escrevendo apenas sobre coisas brancas, criando um texto encantatório e fantasmático, situado entre a vida e a morte, num “intervalo em que o sono aflora junto à vigília”, num sítio invadido pela neve, “aquela fragilidade efémera, aquela beleza tão pesada e opressiva”, ou pelo sal “onde, por muito branco que seja o seu brilho, a sombra preserva sempre um certo calafrio”. Meditação dolorosa sobre o luto, busca do sagrado e da beleza, romagem “em direção à luz”. LAE Dom Quixote
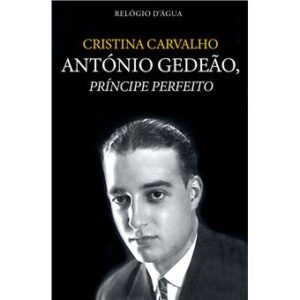
Cristina Carvalho
António Gedeão, Príncipe Perfeito
Evocando a figura materna, escreve Rómulo de Carvalho em Memórias: “A minha mãe foi uma pessoa admirável. (…) O que me enleva nela não é a minha mãe mas a pessoa dela, a qual, acidentalmente, foi minha mãe”. A escritora Cristina Carvalho, autora da biografia de seu pai, podia repetir estas palavras a seu respeito. E há tanto para admirar em Rómulo de Carvalho: o professor, o historiador, o investigador e divulgador científico, o poeta (sob o pseudónimo de António Gedeão, “entidade que o duplicou por quase metade da sua vida”). “Um Homem do Renascimento. De um outro Renascimento, o do século XX”, considera-o a autora neste livro que não pretende ser uma “biografia exaustiva” nem “objeto de estudo, mas sim um espreitar documentado, embora simples, da sua longa vida”. Homem notável que, entre muitas outras, tinha a paixão pelo ensino, de “ensinar a aprender”, num país em que, como escreveu, “as coisas do ensino” suscitavam “pouco interesse”, “a não ser na exaltação de satisfazer necessidades imediatas”. Grande poeta que uniu vocação lírica e conhecimento científico: “Todo o tempo é de poesia // Desde a arrumação do caos / à confusão da harmonia.” LAE Relógio D’Água

Leonora Carrington
A Corneta Acústica
Marian Leatherby, nonagenária dura de ouvido recebe de presente uma corneta acústica a que atribui “todas as possibilidades revolucionárias”. Usando-a, apercebe-se dos planos da família: interná-la num lar. Aí, rodeada de personagens excêntricas, numa intriga que alia trama policial e cenário apocalíptico, numa era pós-atómica de crise climática, vai assumir uma atitude de rebeldia. Leonora Carrington (1917- 2011), nascida numa família abastada do norte de Inglaterra, insurge-se contra a sua classe social e abraça, aos 20 anos, o surrealismo (foi companheira de um dos seus expoentes: o pintor Max Ernst) dedicando-se à pintura, à escultura e à escrita. A Corneta Acústica, romance admirado por Luis Buñuel e Olga Tokarczuk, é uma obra singular, simultaneamente absurda e visionária, que Ali Smith, no prefácio da presente edição, caracteriza do seguinte modo: “uma visão transcendental profunda, mágica (…), uma rejeição da autoridade social e espiritual mais convencional; e uma colisão de símbolos misteriosos e por vezes teimosamente não interpretáveis, alguns oriundos da alquimia e do tarot, uma série de diferentes mitologias e tradições medicinais, juntamente com o budismo, o catolicismo romano, o folclore irlandês, a cabala e a astrologia.” LAE Antígona

Valério Romão
Mais uma desilusão
Em entrevista recente, Valério Romão refere-se ao seu livro de estreia na poesia, comparando-o à realização de um filme. Foi sendo escrito sem preocupação com o resultado, mas depois exigiu um trabalho cuidado na seleção do que ficaria no livro e fora dele, costurando, como na fase da montagem cinematográfica, este longo poema cuja separação dos versos se faz na horizontal, e indicada pelo maior espaçamento entre palavras. A ser um filme, como classificaríamos Mais Uma Desilusão? Existe no seu fluxo experimental e expressionista o vislumbre de uma narrativa, episódios de adolescência quase sem pingo de nostalgia, e de vida adulta marcada pela mesma desencanto com o país, com a gente que o habita e que o visita. Mais Uma Desilusão lê-se como a catarse de um homem branco, heterossexual, espécie acossada pelas reivindicações do puritanismo woke, que discorre em voo arrasante “qual genial pássaro / príncipe mais puro da incessante voragem.” Provavelmente para bater asas e voar para outro local fora dali. Mais Uma Desilusão é um desabafo vernacular que desarruma qualquer ideia que tenhamos da poesia, apresentada ainda como “uma caixa com as cinzas da infância”. Literatura em autocombustão. RG Abysmo
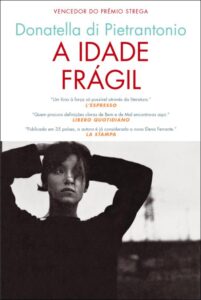
Donatella di Pietrantonio
A Idade Frágil
A Idade Frágil, da escritora italiana Donatella di Pietrantonio, explora, numa prosa económica e elegante, o clássico tema do “fosso de gerações”. Num mundo mudado, o da pós-pandemia, em Abruzzo, terra natal da autora, a jovem Amanda regressa a casa da mãe depois de uma experiência universitária mal sucedida na cidade de Milão. O clima entre mãe e filha é de total incomunicabilidade, uma relação que “devolve silêncio ao silêncio”. Amanda fecha-se no quarto e não fala. Porém, a dolorosa memória de dois acontecimentos traumáticos vai uni-las. Amanda foi violentamente atacada à noite, numa rua de Milão sem que ninguém a socorresse. A sua mãe carrega, há quase 30 anos, a recordação de um trágico crime em Dente del Lupo, num dos terrenos da família nos Montes Apeninos, que vitimou três raparigas, uma delas a sua melhor amiga. Só quando, juntas, se mobilizam por um objetivo em prol da comunidade – impedir a construção de um projeto turístico de grande escala nesses terrenos -, conseguem combater a força brutal da memória e do medo. Afinal, até “a Natureza esquece. Volta a crescer sobre por cima de tragédias e desastres”. Inspirada num crime real que abalou a Itália nos anos 1990, a obra venceu o Prémio Strega, o mais importante galardão literário italiano. LAE ASA

João Pinharanda e Filipa Lowndes Vicente
48 Artistas, 48 Anos de Liberdade
O primeiro 10 de Junho do Portugal democrático (1974) deu origem a uma das mais singulares e relevantes manifestações artísticas desse período: a realização, no Mercado do Povo, em Belém, de uma enorme pintura coletiva. Reunidos no intitulado Movimento Democrático dos Artistas Plásticos, 48 artistas (número simbólico de 48 anos de fascismo) colaboraram nessa obra. Sobre esta iniciativa, escreveu Filipa Lowndes Vicente: “Ser artista passou a ser agir, intervir, partilhar, sair à rua, participar, e fazê-lo em conjunto.” Esse notável painel, lamentavelmente destruído num incendio em 1981, foi reinterpretado 48 anos depois, a 10 de junho de 2022, no exterior do MAAT, também em Belém, por igual número de criadores, alguns deles envolvidos na obra original. A primeira pintura coletiva assinalou o fim de 48 anos de ditadura, a segunda celebrou 48 anos de democracia. Com fotografias tiradas em 1974 e 2022, este belíssimo álbum inclui ensaios de João Pinharanda e Filipa Lowndes Vicente sobre as obras, e depoimentos e entrevistas aos artistas que trabalharam nas duas pinturas. LAE Tinta da China

Rosario Raro
Proibida na Normandia
Dizia Sun Tzu que “A guerra é a arte do engano”. A partir de factos verídicos, em Proibida na Normandia, Rosario Raro dá-nos a conhecer a viagem épica de Martha Gellhorn, a única mulher que acompanhou o desembarque dos primeiros soldados na Normandia, em plena Segunda Guerra Mundial. Desafiando a ordem militar que impedia a presença de mulheres nos desembarques, a correspondente de guerra trava conhecimento com uma enfermeira, de quem se vem a tornar amiga, e consegue esconder-se num navio-hospital, chegando assim à Normandia. “Tirou a primeira fotografia aos que caíram ao mar sem chegarem a pisar a areia. Depois, ficou agachada, como se a morte só lhe pudesse passar por cima, até que a instaram a desembarcar com os demais. A primeira coisa que viu enquanto descia pela rampa foram vários jovens a explodir no ar. Sentiu uma pontada nas vísceras. Tinham viajado de muito longe só para morrer.” Casada com Ernest Hemingway, também ele na altura jornalista, Martha pede-lhe ajuda para tratar do passe de imprensa dos dois, mas só ele o obtém. Como não conseguiu autorização para estar presente no desembarque, os textos de Martha não são publicados, nem o seu trabalho reconhecido. Mais do que uma emocionante história de guerra, em que acompanhamos a queda de Hitler e as manobras de distração do “Exército Fantasma” (unidade móvel norte-americana, de dissimulação tática, concebida para enganar as tropas nazis), o livro é também um relato vigoroso da luta das mulheres pela igualdade de direitos. SS Porto Editora
p. feijó
Episódios de Fantasia & Violência
Episódios de Fantasia e Violência é um livro pequeno, que, expondo as fragilidades de quem o escreve, traz dentro uma incrível força. Escritora, investigadora e “militante da monstruosidade”, como se apelida, P. Feijó conta-nos, de peito aberto, a sua experiência de pessoa não binária. Fala de si, mas fala também de nós, os outros, que a agridem ou que não a compreendem – alguns intencionalmente, com violência gratuita, outros “sem ser por mal”, mas destruindo. Um testemunho carregado de dor, narrativa autobiográfica sobre um corpo que não encaixa na imagem de masculinidade dominante e que, procurando o seu lugar, também o afirma. “eu, feita de vulnerável. eu, toda veia e carne. eu, apneia da dor”, escreve. Com uma linguagem ao mesmo tempo poética e crua, relata como diariamente a sua existência é posta em causa e como a fantasia se torna modo de sobrevivência. “Não me peçam mais calma. Não dou mais a outra face. Não combato ódio com amor.” GL Orfeu Negro
O coreógrafo Vasco Wellencamp, o músico Bernardo Moreira, a dupla de cineastas João Pedro Rodrigues/ João Rui Guerra da Mata, a artista visual Susana Anágua e o jornalista e escritor Luís Osório celebram a genialidade de Carlos Paredes nas suas próprias artes.
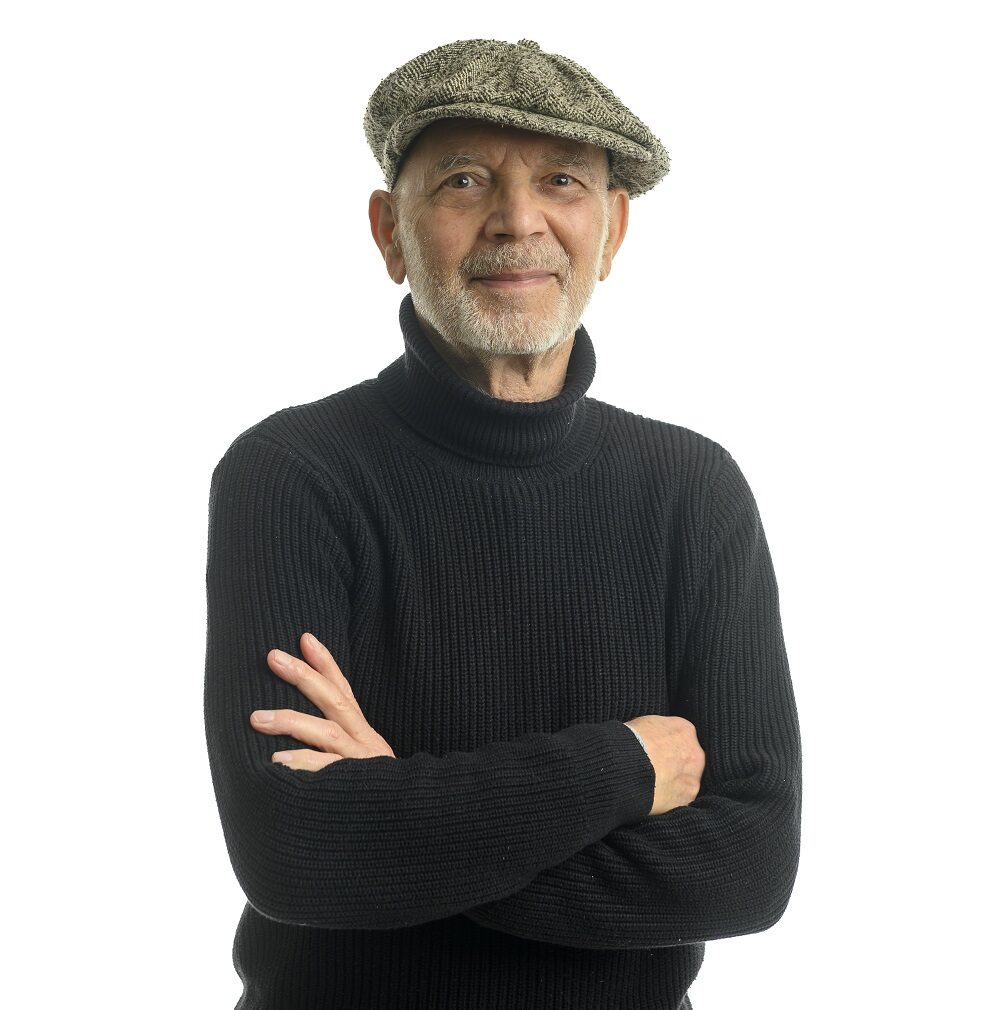
Vasco Wellencamp
Coreógrafo e antigo bailarino
“O Carlos era um homem bom”. É assim que Vasco Wellencamp recorda o mítico guitarrista, com quem trabalhou na peça Danças para uma Guitarra, em 1982, que estreou na Fundação Gulbenkian. O bailado era coreografado por Wellencamp e musicado ao vivo por Carlos Paredes: “ele foi o primeiro músico popular a atuar na Gulbenkian. Tivemos os espetáculos sempre esgotados”.
Passaram mais de 40 anos, mas o coreógrafo lembra-se bem: “era uma pessoa muito marcante. Era encantador, os bailarinos adoravam-no”, recorda. Habituado a trabalhar com rigor e precisão, o antigo bailarino rapidamente percebeu que, com Paredes, seria também um desafio: “ele improvisava muito e a dada altura tivemos de pôr alguma ordem”, diz com um sorriso. “Ele ‘viajava’ enquanto tocava, não cumpria os tempos. É muito difícil dançar com música ao vivo por causa dos tempos, mas os bailarinos adaptaram-se muito bem”.
Wellencamp conta que o músico encontrou um método para não se perder: “tinha uma cartolina com a ordem das peças e cada uma correspondia a uma janela, que ele ia fechando. Um dia, estávamos a apresentar o espetáculo no Brasil e uma das janelas fechou-se e abriu outra vez e ele não parava de tocar a mesma peça, o que provocou grande confusão entre os bailarinos. Eu estava na plateia e fiquei muito nervoso, mas felizmente o público não deu por nada”, conta entre risos.
Vasco Wellencamp continua a coreografar para a Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo, que fundou em 1998 com Graça Barroso, e ocupa os seus dias a ler e a pintar.

Bernardo Moreira
Contrabaixista
Bernardo Moreira era muito novo quando, por mero acaso, tocou com Carlos Paredes: “no início dos anos [19]90 conheci-o num concerto no Teatro Rivoli, no Porto. Ele tocou na primeira parte e o quarteto do Mário Laginha, onde eu estava, na segunda. Por sugestão dele tocámos todos juntos no final. Ele era de uma amabilidade extrema”. Na altura, Bernardo era um jovem contrabaixista obcecado por Miles Davis, mas esta “experiência maravilhosa e inesquecível” viria a dar frutos anos mais tarde com o álbum Ao Paredes confesso (2002), “um diálogo imaginário que estabeleci com ele através da música, uma espécie de primeira viagem”, afirma.
Em 2021, gravou Entre Paredes, que viria a receber, no ano seguinte, o Prémio Carlos Paredes. “Sempre soube que, mais tarde ou mais cedo, iria fazer esse regresso a casa. Este disco é uma espécie de conclusão do meu namoro com Carlos Paredes – que dura há 30 anos – e remete mais para o universo da música portuguesa, enquanto o primeiro é mais assumidamente de jazz. O desafio foi, sem desvirtuar a música dele, criar uma espécie de diálogo entre nós”.
O ano ainda vai no início e a agenda de Bernardo Moreira já se prevê preenchida: este mês irá gravar o segundo volume do projeto Sul (que partilha com Luís Figueiredo e Bernardo Couto) e está a preparar um disco seu. Tem também vários concertos marcados: “nunca me farto. Ora estou a tocar com a Cristina Branco algures no mundo, ora com o Mário Laginha, ou com os meus próprios projetos. Isso dá-me o prazer de estar sempre a fazer coisas sem a monotonia da repetição”, conclui.

João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata
Realizadores
Onde Fica Esta Rua? ou Sem Antes Nem Depois (2022) é uma celebração de Os Verdes Anos (1963), mítica obra de Paulo Rocha com banda sonora de Carlos Paredes. “Um dos décors do filme fica abaixo da casa onde vivemos”, conta João Pedro Rodrigues. O realizador herdou o apartamento dos avós – que viviam ali à altura das filmagens – mas nunca lhes perguntou se se lembravam desse processo. “Essa foi a semente de onde partiu o filme”, explica. A ideia foi responder à questão “o que fica quando retiramos os atores e o enredo, mas apontamos a câmara seguindo, de forma rigorosa, os mesmos planos, movimentos e tempos?”
Os cineastas decidiram então voltar aos locais onde Paulo Rocha tinha filmado, mas esvaziá-los de ficção. “Não se trata de um remake, quisemos olhar para Lisboa como ela é hoje”. A obra conta com a lendária Isabel Ruth (Ilda no filme de Rocha), “a única atriz viva do elenco. Não queríamos que ela fizesse de Ilda, mas sim de Isabel no presente”.
Para a banda sonora, trabalharam com a violoncelista Séverine Ballon: “quisemos ir buscar um instrumento acústico sem manipulações eletrónicas, para manter a ideia do Paulo Rocha e da música do Carlos Paredes. No fundo, ela faz música contemporânea, à semelhança do que o Paredes fez na época com a guitarra portuguesa. Essa foi, talvez, a grande importância que ele teve: pegou num instrumento tradicional e deu-lhe uma vida própria e um pensamento completamente diferente”, explica Guerra da Mata.
Este ano, João Pedro Rodrigues vai começar a trabalhar numa longa-metragem chamada O sorriso de Afonso. Os dois realizadores vão ainda trabalhar juntos numa curta.

Susana Anágua
Artista visual
Em 2004, a associação Movimentos Perpétuos organizou, na Cordoaria Nacional, a exposição Arte para Carlos Paredes, que mostrava a relação da comunidade artística com a obra do mítico guitarrista. A iniciativa contou com o trabalho de vários artistas plásticos, mas também de músicos, escritores e cineastas, entre outras personalidades. Uma dessas artistas era Susana Anágua, cuja participação surgiu de um convite da curadora Carla Mendes. “Algumas peças foram feitas propositadamente para a exposição, outras foram empréstimos que os curadores acharam que estavam relacionadas com a ideia de movimentos perpétuos”, explica.
Susana Anágua apresentou um vídeo chamado HACCP-23, em que mostrava o processo de formação de gelo numa máquina industrial: “uma metáfora para ‘congelar’ um determinado momento que depois volta ao ciclo novamente, já que o gelo permite fixar e desfazer logo a seguir”. A artista tinha acesso facilitado às máquinas industriais do McDonald’s, onde tinha trabalhado durante os seus tempos de estudante. “Passei uma noite inteira a desmontar a máquina até ao núcleo para filmar o processo e voltar a montar tudo novamente”.
Recorda a artista: “a água corria, levava um choque térmico e congelava imediatamente. Em segundos, as pessoas podiam ver água transformar-se em gelo branco. É uma filmagem pura, sem edição, que dura exatamente o tempo que leva a fazer o gelo”. O vídeo foi gravado sem som “para reforçar a ideia de estar sozinha com a máquina, tal como o Carlos Paredes e a sua relação com a guitarra”.
Atualmente, a artista está a preparar uma exposição em Leiria e a trabalhar numa individual que pretende apresentar este ano.

Luís Osório
Jornalista e escritor
“O Carlos que eu conheci nunca me pareceu que era vivo como nós. Dentro do seu universo, existia a música, esse mundo próprio que só a ele pertencia”. Luís Osório conta que conheceu o guitarrista ainda em criança: “o meu pai [José Manuel Osório] fundou a associação Cantar Abril, onde o Carlos Paredes tocava regularmente”, recorda. “Era uma figura absolutamente genial. Não apenas por aquilo que tocava, mas por aquilo que era. Não tinha nenhuma noção de que era genial, a consequência daquilo que fazia transcendia o seu entendimento”.
Em 2003, o jornalista e escritor foi um dos autores convidados a participar na obra Textos para Carlos Paredes. Mais recentemente, dedicou-lhe um dos seus Postais do Dia, crónica que mantém na Antena 1. “O Postal do Dia é um espaço onde muitas vezes recordo pessoas que, por um motivo qualquer, vamos esquecendo e deixam de ter o lugar que merecem. O Carlos era incrível, representa o país na sua identidade mais profunda e misteriosa”, afirma.
O autor era muito jovem quando o visitou no lar “na sua fase desprotegida. Há uma altura em que a Amália o vai ver e ele tapa a cara, porque não queria que ela o visse. E ela diz: ‘Carlos, por favor destapa a cara porque eu preciso de ver os teus olhos’. É um momento muito bonito: ali estão aqueles dois mitos, uma diva e um homem especial”, partilha.
Em 2025, o escritor vai continuar com o Postal do Dia. Em março, apresenta um espetáculo com João Gil, Que vento são estes?, no Auditório Carlos Paredes, que depois levará em digressão pelo país. Tem ainda dois livros em andamento, um da coleção A última lição de (Contraponto), bem como um novo romance.
Este projeto do coreógrafo tem início nos começos do século XX, juntando composições de Maurice Ravel (1875-1937) e Luís de Freitas Branco (1890-1955), e prolongar-se-á num segundo momento pelo século atual, para terminar revisitando a década de 1960.
Gostava de começar pelo título: Maurice Accompagné, título bonito, musical, poético, sugere intimidade. Que importância dá ao título das suas criações e o que disso determina ou é determinado pelo trabalho coreográfico?
Sempre achei que é preciso ter muito cuidado com os títulos, porque tenho a sensação de que um bom título, um título otimista, que abra perspetivas, pode dar uma boa peça. Um título pessimista pode ter o efeito contrário. É uma coincidência, mas tenho sentido isso ao longo dos tempos. Aqui é um título óbvio porque é o Maurice [Ravel] acompanhado pelo Luís de Freitas Branco. De facto o título possui uma musicalidade e além disso precisamos de títulos que nos levem para a frente, e a palavra “companhia” é importante, uma vez que em termos sociais andamos cada vez mais distanciados, mais fechados em nós próprios. Sobre a questão de condicionar ou não a coreografia, posso dizer que muitas vezes dou os títulos e esqueço-os durante o processo de criação. Esta peça é muito debruçada sobre as ideias do século XX, a dança do século XX, aquilo que caracterizou o início deste período: a ligação com o corpo, o encontro do corpo, a verdade, uma febre de quebrar barreiras e normas. Normalmente não gosto de fazer coreografias em cima da música; prefiro que música e coreografia caminhem lado a lado como dois seres que se entendem e têm uma cumplicidade enorme, mas que são autónomos. Desta vez, quis mesmo trabalhar em cima da música, com deferência para com a música, e que a coreografia fosse nesse sentido.
Até aonde pesquisou as biografias de Luís de Freitas Branco e de Ravel e quanto dessa informação enforma este espetáculo?
Começou por ser a intenção inicial, mas acabou não sendo esse o caminho. Claro que tenho conhecimento de acontecimentos ou peripécias, de factos que estão por trás da vida destas pessoas, por exemplo: ambos tinham uma vida facilitada por pertencerem à alta burguesia e faziam música sem terem a sobrevivência como preocupação. Interessou-me particularmente o tipo de dança que se praticou no início do século XX, aquela dança ritualista, muito ligada à terra e a um corpo forte quase tribal, um corpo animal. Fixei-me mais neste caldo cultural que caracterizava as artes deste tempo, a questão surrealista, o expressionismo, a questão da liberdade que foi um vetor muito importante na inspiração e na construção da coreografia.
Muitas pessoas da sua geração tiveram o primeiro contacto com a música de Ravel através da cena do Bolero dançado no filme de Claude Lelouch, Uns e os Outros (Les Uns et les Autres, 1981). Passou-se o mesmo consigo?
Eu não entrei no filme, mas dancei essa peça à volta da mesa, com o Jorge Doon no topo, quando foi feita no Théâtre Royal De La Monnaie de Bruxelas. Estava na escola do Maurice Béjart. O filme veio depois, bastante depois. O Jorge Doon era magnífico no Bolero de Ravel, mas também houve a Shonach Mirk ou a Maya Plisetskaya, entre as interpretações femininas muito interessantes. Esse Bolero de Ravel marcou-nos a todos, não tanto pelo filme, mas pela própria música.
Maurice Accompagné é parte de uma trilogia que se deslocará ainda para os anos 1960 (reunindo Joly Braga Santos e Benjamin Britten) e para a presente década, que juntará a música de Louis Andriessen com a de Luís Tinoco. Que critérios seguiu para agrupar estes três pares de músicos, portugueses e estrangeiros?
Construí este programa em conversa com o Luís Tinoco, a quem manifestei a vontade de ligar três períodos da música: início do século XX, meados do século XX, e o princípio do século XXI. Fomos falando e fechámos os três momentos do programa. Ele fez-me descobrir algumas peças de Ravel e de Freitas Branco. Neste ano de 2025 não seguirei a ordem cronológica do programa: começarei com o início do seculo XX, em seguida apresentarei a peça que diz respeito ao século XXI, com uma composição original do Luís Tinoco e música do Louis Andriessen, que será estreada no Festival de Dança de Cannes, com a Orquestra de Cannes. Só depois concluirei com os anos de 1960.

O compromisso para a criação destes três trabalhos coreográficos sugere que a Companhia Paulo Ribeiro se encontra num período de estabilidade relativamente aos seus parceiros no mecenato. A Companhia ressentiu-se de alguma forma no período em que deixou a direção artística da mesma para abraçar outros projetos [Companhia Nacional de Bailado (CNB) e, depois a Casa da Dança, em Almada]?
A Companhia ressentiu-se muito, porque tratando-se de uma companhia de autor, o meu trabalho deveria ter estado mais presente. Foi muito tempo. Na CNB só estive dois anos, porque demiti-me. A São Castro e o António M Cabrita faziam, na Companhia Paulo Ribeiro, enquanto diretores artísticos, um mandato DGArtes de quatro anos, tendo ambos ficado de 2016 a 2021. Nesses cinco anos não fiz praticamente nada na minha Companhia. Em 2021, criei uma peça para assinalar os 26 anos, mas com recurso a coprodutores à parte. Seguiu-se a minha saída de Viseu, a instalação da Companhia em Cascais, e sinto que estamos, agora, a ganhar um outro fôlego.
O eixo franco-belga ainda representa o vetor mais relevante da criação contemporânea na dança europeia, ou outros países vieram juntar-se-lhes ou assumir uma posição de maior importância?
Penso que não. O que acontece em França é que hoje temos o Festival de Avignon a ser dirigido por um português [Tiago Rodrigues], tal como sucede com a Maison de la Danse de Lyon [Tiago Guedes], que são estruturas com uma importância enorme no país. Sobre a questão do olhar que os programadores têm em relação a nós, criadores, diria que os franceses são os mais operantes, os que mantém uma curiosidade e uma relação mais profícua com Portugal. A Bélgica parece ter-se apagado um pouco, mesmo os seus criadores que de algum modo desapareceram: o Alain Platel do [les ballets] C de la B parece ter parado; o Jan Fabre foi interditado de coreografar; a Anne Teresa De Keersmaeker parece ter-se fixado em reposições das suas peças. Quanto a Portugal, temos uma nova geração de coreógrafos fantásticos, da nova e da novíssima dança, de uma criatividade e de uma linguagem muito fortes, que são de facto incontornáveis. Está a acontecer a mesma coisa em África, com coreógrafos africanos que estão a descolar, e no Brasil também, o que faz descentralizar o fenómeno da Dança.
Tamara Alves é uma artista visual, muralista e ilustradora fascinada pela estética da rua e pelo contexto urbano. Natural do Algarve, tem vindo a tecer uma narrativa que celebra de forma crua e poética a vitalidade primitiva das sensações fortes, do devir animal, da paixão bruta, em oposição à deliberação racional. Cinco anos depois da sua última exposição individual na Underdogs, Tamara Alves regressa à galeria para, até 8 de março, mostrar 27 novas obras que combinam desenho, aguarelas, esculturas e dípticos, em materiais tão diversos como a resina e a madeira, e que evocam ausência, silêncio e tensão.
Blue Velvet, de David Lynch
29 janeiro, às 19h15
Cinema Medeia Nimas
Até 17 de fevereiro, a Medeia Filmes apresenta no Cinema Nimas Os enigmas de David Lynch, um ciclo dedicado a um dos maiores realizadores da história do cinema do último meio século, falecido no passado dia 16, aos 78 anos. Ali, vão ser exibidas algumas das principais obras do cineasta, em cópias restauradas. Tamara Alves é uma fã confessa do realizador e, por isso, sugere o seu preferido: Blue Velvet. “De todos os filmes do David Lynch, gosto particularmente do Blue Velvet. O filme marcou-me muito quando o vi pela primeira vez, há muitos anos. Gosto muito da estética, da banda sonora e da Isabella Rossellini”, diz.

Eikoh Hosoe
Até 8 de fevereiro
Ochre Space
Numa exposição inédita em Portugal, a Ochre Space apresenta um conjunto de 15 fotografias tiradas pelo japonês Eikoh Hosoe e que têm como protagonista Yukio Mishima, escritor nipónico várias vezes apontado como candidato ao Prémio Nobel da Literatura. Foi, aliás, o icónico Mishima que inspirou um dos projetos mais emblemáticos da carreira daquele que é considerado um mestre dos mestres da fotografia japonesa e uma referência incontornável na história da arte contemporânea. Mas também Tamara se sente inspirada por Mishima e, por isso, destaca esta exposição. “Adoro o trabalho dele e a forma como escreve. Acho que tem, de certa forma, uma escrita obscura e um bocadinho fora do radar. Mishima e Eikoh Hosoe fizeram um livro em conjunto, com fotografias muito íntimas do escritor e são essas fotos que agora podem ser vistas nesta exposição.” Além disso, destaca a artista o facto da mostra “ser de entrada livre e ser fora do circuito mais comercial”.
 À Primeira Vista
À Primeira Vista
Até julho
Teatro Maria Matos
À Primeira Vista (Prima Facie) é, simultaneamente, um poderoso monólogo e um thriller jurídico. Margarida Vila-Nova sobe ao palco do Teatro Maria Matos como Teresa, uma brilhante jovem advogada, numa encenação de Tiago Guedes a partir do texto de Suzie Miller. A peça, uma das mais reconhecidas dos últimos anos, é um olhar incisivo sobre poder, consentimento e lei. Tamara sugere-a “pela sua temática” e porque gosta muito do trabalho de Margarida que, ali sozinha em palco, luta contra todos os julgamentos. “Ela é muito boa. É quase como se não estivesse a representar e ver isso ao vivo é qualquer coisa.”
A Fúria e outros contos, de Silvina Ocampo
Antígona (2021)
Silvina Ocampo (1903-1993), um dos tesouros mais bem guardados da literatura latino-americana do século XX, foi uma poeta singular, mestre na arte de contar histórias. Tamara só recentemente a descobriu, atraída pelo facto de a escritora ter sido cúmplice intelectual e grande amiga de Jorge Luis Borges, que é também uma grande referência para a artista. “Eu não conhecia a Silvina e assim que comecei a ler os contos dela adorei. Acho que são histórias malditas”, diz, entre risos. É que a obra de Silvina narra o teatro da humanidade com distanciamento e elegância, com notas de insólito, fantasia e terror.
Hounds of Love
Kate Bush (1985)
Kate Bush é uma das artistas mais inovadoras da música britânica, conhecida pela sua voz única, pelas letras poéticas e pela sua abordagem ousada e experimental. A sua sensibilidade literária e teatral tornaram-na uma figura singular no panorama musical moderno. “Ultimamente tenho mergulhado novamente na [obra de] Kate Bush. Andei a pesquisar temas dela para ver se me inspiravam para a minha exposição e há algumas músicas que têm a ver com a temática que tenho estado a explorar”, justifica Tamara, que recomenda, em especial, Hounds of Love. Este disco, o quinto da cantora inglesa, é considerado por muitos o melhor de Kate Bush, sendo votado frequentemente como um dos melhores álbuns de todos os tempos.
paginations here