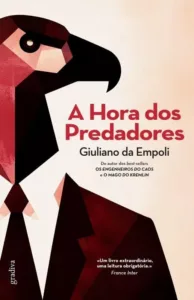No próximo dia 8 de outubro, naquela que é a segunda temporada em Lisboa de Coelho Branco, Coelho Vermelho, cabe a Hugo van der Ding abrir o envelope que guarda um texto que nunca leu e dizê-lo para uma plateia cheia. “Podia ter ido espreitar os espetáculos ao You Tube e tenho três ou quatro amigos que já o fizeram, mas nunca quis perguntar como era. Acho que seria pior se soubesse”, afirma, sobre este projeto no Teatro Maria Matos que, até meados de dezembro, terá, noutros dias, como protagonistas Inês Castel-Branco, Rita Cabaço, Romeu Costa, Inês Lopes Gonçalves, Ana Brito e Cunha, Jorge Mourato, Beatriz Gosta e César Mourão. “Os bilhetes foram postos à venda e esgotaram muito depressa. Fiquei contente, mas estou um bocadinho nervoso. Tenho uma vaga ideia de que não se trata de uma comédia… o que me deixa mais descansado porque, se as pessoas não se rirem, não é responsabilidade minha! Estou muito ansioso, no bom e no mau sentido”, acrescenta o ator, que conhecemos também pelo seu trabalho como escritor e desenhador.
Já se sabe, Hugo van der Ding nunca tem apenas uma ocupação. Na verdade, confirma, está a fazer “milhares de coisas ao mesmo tempo”. No final de outubro ou início de novembro, chegará às livrarias o seu novo livro, editado pela Leya. “Ainda não é o meu primeiro romance, que estou prestes a acabar, mas peguei na ideia do [podcast] Vamos Todos Morrer, onde falei dos reis de Portugal, e juntei-os com as suas mulheres. À medida que ia escrevendo, larguei os textos originais e escrevi um livro do zero, são quase 70 pessoas, em mais de 400 páginas”, conta. “Tentei construí-lo como uma saga familiar. Se pensarmos bem, é uma família com um destino muito particular, todos parentes uns dos outros, todos descendentes do Afonso Henriques. Há ali histórias que a maior parte de nós nem sabe. Às vezes até me comovi um bocadinho. Não é um livro nada académico, juntei um pouco de humor, mas é sério e com muita investigação, num tom mais leve”, descreve. O título que lhe deu não podia ser melhor: Uma Família SurReal.
A par disto, o autor de Vamos Viajar na Maionese, o seu novo podcast com Tiago Ribeiro com quem fez Vamos Todos Morrer (os episódios saem ao domingo), está a preparar vários projetos teatrais. Além da adaptação de Tito Andrónico, de Shakespeare, que está a escrever para a companhia Estrutura, volta a trabalhar com o maestro Martim Sousa Tavares. Depois de, juntos, terem feito O Misantropo, a partir do texto de Molière, no Teatro Nacional D. Maria II, começarão a escrever uma peça, “à volta da história da inauguração” deste Teatro. Envolto ainda nalgum segredo está outro espetáculo: “Não sei se posso dizer muito, mas será uma ópera que vai ter direção musical do Martim, vai ser composta pelo Pedro Lima, e cujo libreto é meu”.
Hugo garante que tem também a decorrer outro ofício – “ando a trabalhar em ficar mais quieto e parar um pouco, sair da cidade e ir passar mais tempo no campo”. Para a próxima semana quis deixar sugestões especiais: “aquilo que andam a fazer alguns dos meus amigos muito queridos”. “Assim, não vendo gato por lebre, porque eles são todos awesome.”

Arte, de Yasmina Reza, com encenação de António Pires
Teatro Maria Matos
Até 30 de novembro
“Está incrível. É uma nova vida desta peça em Portugal, mas não vi da outra vez [com António Feio, José Pedro Gomes e Miguel Guilherme]. É difícil competir, porque o espetáculo foi um marco na altura, mas acho que estes atores estão muito bem.”
O nariz de Cleópatra, pois claro!, a partir de Augusto Abelaira, com encenação de Cristina Carvalhal
Teatro Variedades
Até 5 de outubro
“Fiz umas ilustrações para promover este espetáculo. É um exercício de imaginação sobre como seria o mundo se este ou aquele acontecimento tivesse sido diferente, como se disse do nariz de Cleópatra. Uma boa reflexão sobre o passado, o presente e o futuro.”

Mal Viver, de João Canijo
Filme disponível na Filmin
“Queria dar uma sugestão com a minha amiga Rita Blanco e ela está absolutamente brilhante neste filme.”
O Último Avô, de Afonso Reis Cabral
Dom Quixote
“É o romance mais recente dele, que vai ser lançado no dia 1 de outubro, na Casa do Jardim da Estrela, onde vou fazer leituras de alguns excertos. Já li os outros dois livros do Afonso e gosto muito da escrita dele. Sabe bem ver gente mais nova do que eu a escrever com tanta qualidade e a ir buscar temas, de certa forma, tão inesperados. O Pão de Açúcar é sobre a história da Gisberta, morta no Porto, com uma visão interessante e um olhar humano sobre que sociedade somos para um bando de miúdos ter feito aquela coisa.”
As Berlengas
de Benjamim
“Um disco um bocadinho experimental, muito fixe para se ouvir, por exemplo, em viagens de carro. Gosto muito.”

Há um herbário no deserto
de Mia Tomé
“Um disco que gravou nos Estados Unidos da América. A Mia tem passado umas temporadas no deserto do Arizona. É spoken word com música, é muito relaxante e ouço-o muito para escrever.”
Bandas sonoras de Noiserv
“Há sempre novidades a aparecer no canal de You Tube do Noiserv, mas ele tem também aquelas músicas incríveis para quem precisa de tirar a cabeça da atualidade e das notícias, que são as bandas sonoras que faz e que estão disponíveis para se ouvirem.”
Casa Capitão
“Abriu agora e tenho muita vontade de conhecer. É importante aparecerem sítios que sejam um safe space e que sirvam de resistência, de espaço cultural para quem vive na cidade, lugares onde se possam fazer coisas que não se fazem nos outros sítios, seguindo a vontade daquelas pessoas que vivem naquele território. É bom conhecermos zonas de Lisboa onde antes não andávamos tanto.”

Casa do Comum
“Não está numa boa fase em termos de sustentabilidade do projeto e é importante lá ir. Além de todas as outras coisas boas que tem e de ter um bar fixe, acaba por ser uma memória desses sítios onde nos sentíamos em casa e que têm desaparecido. Tem uma excelente livraria, ligada à Ler Devagar, que é outro sítio incrível e que se mantém, apesar das mudanças na LX Factory, e que faz um bom equilíbrio entre a resposta ao turismo e a resposta a quem vive na cidade.”
Gaza: Pensar, Resistir, Imaginar
Disponível no site do Teatro Nacional D. Maria II
“Foi uma conversa sobre o que está a acontecer em Gaza e acredito que é fundamental falar sobre o que se está a passar. O Nacional teve esta iniciativa e terá outras. Há uma frase que circula por aí como meme: ‘um dia quando isto acabar e tiverem morridos todos, vamos ser todos contra isto’. Até aqui todos nós pensámos: ‘como aconteceu o Holocausto?! Como foi possível?!’ e hoje, de repente, percebemos exatamente como foi, porque é exatamente o que está a acontecer agora. Ainda ontem o Presidente dos Estados Unidos da América disse ‘odeio os meus oponentes políticos’ e nós não estamos a fazer nada. Com o meu lado de historiador, é uma oportunidade para ver com os meus olhos como acontece, mas é terrível.”
A princípio, O Senhor Paul, de Tankred Dorst, até parece uma comédia de costumes.
Deitado num sofá sovado, rodeado de livros poeirentos e almofadas puídas, com um vetusto piano vertical a servir de base para um fogão elétrico, apresenta-se o senhor Paul. Velho e pesado, dele se escuta, num breve monólogo, uma ode às virtudes da existência letárgica. É então que a irmã, Luise, o interrompe, anunciando que vai à opera com bilhete oferecido, a uma récita de Aida. Na panela fumegante sobre o bico do fogão, há esparguete acabado de cozer para o jantar do senhor Paul, assim informa a irmã.

Surge então Helm, o novo proprietário do imóvel onde vivem Paul e Luise. O jovem acaba de herdar aquela velha e desativada fábrica de sabão e tem novos planos para o espaço. Pacientemente, o recém proprietário procura de Paul uma resposta à carta que enviara, onde explicava o seu projeto de negócio e a necessidade de os irmãos abandonarem o imóvel. Contudo, Paul prefere responder, a partir do assento do seu sofá, com rebuscadas evasivas, como se desconhecesse ou não entendesse as intenções do proprietário.
Com a chegada da histriónica namorada de Helm, da menina Anita (com quem Paul tem uma relação de vincada promiscuidade) e de um investidor imobiliário, instala-se a confusão, algo inesperada, é certo, mas muito propícia à estratégia do inquilino.
A paciência de Helm começa a esgotar-se quando percebe que Paul tem na sua posse a carta e que a leu. Mas, nesse momento, talvez seja já demasiado tarde para escapar à astuta teia tecida pelo aparentemente passivo senhor Paul.

Será a partir deste momento que a aparente comédia de costumes começa a ganhar forma de “uma fábula”, como aponta o encenador Álvaro Correia. Por isso, “embora assim pareça no início, não se pode dizer que O Senhor Paul seja, de todo, uma peça realista”.
Um texto desafiante e uns toques de magia
Acabou por ser uma escolha natural para o Teatro Aberto abrir a atual temporada com O Senhor Paul para, assim, assinalar o centenário do nascimento de Tankred Dorst (1925-2017), um dos mais importantes dramaturgos alemães da segunda metade do século XX. “Era um desejo antigo do Teatro Aberto fazer esta peça, que nunca havia sido encenada em Portugal”, sublinha Álvaro Correia. O Senhor Paul é um regresso da companhia de João Lourenço e Vera San Payo de Lemos ao autor de Fernando Krapp escreveu-me esta carta, peça que o Teatro Aberto produziu em 1997, com um elenco onde pontuavam, entre outros, Alexandra Lencastre, Rogério Samora e João Perry.
“Fazer este espetáculo tinha vários atrativos, como a ideia da imobilidade que vai conduzir ao caos ou as múltiplas camadas que acabam por torná-la tão ambígua”, conta o encenador dando como exemplo a relação de duplicidade que se vai estabelecendo entre o velho Paul e Helm. “Depois, havia um conjunto de desafios cénicos muito complicados de concretizar. Tão complicados que só os resolvemos com a ajuda de um jovem mágico”, confessa.

Sobre a peça, muito se disse e escreveu na altura da estreia. O Senhor Paul subiu ao palco em 1994, coescrita por Dorst com a sua colaboradora e companheira Ursula Ehler, “e muitos viram ali uma reação à reunificação da Alemanha”, com o avanço do capitalismo sobre a débil economia do leste. Hoje, esta perspetiva do homem que está sob a ameaça de despejo e procura resistir, poderia ser “uma história sobre a especulação imobiliária dos nossos dias” e, acrscentamos, no nosso bairro, na nossa cidade.
Porém, Dorst tinha uma explicação diferente, embora percebesse que a vissem como a história de “alguém [que] herdou uma fábrica e quer abrir uma lavandaria – o senhor Paul tem de sair, mas o senhor Paul fica”, naquele contexto das duas “Alemanhas”, logo após a queda do muro de Berlim. Segundo Correia, o autor remetia a figura do senhor Paul para os anos 50 do século passado, época do milagre económico do pós-guerra.
“Aquele personagem baseava-se num vizinho de Dorst que, quando a porta de sua casa se abria, ele via imóvel, recostado no sofá, rodeado de livros. Essa figura, conta [o autor] numa entrevista, repugnava-o, porque a sua mãe dizia que ele poderia ficar assim um dia. Mas, simultaneamente, essa figura, imóvel, culta, atraia-o”, conta o encenador. “Ao mesmo tempo”, acrescenta, “Dorst inspirou-se na lenda de São Cristóvão, o homem forte e grande que transportava às costas pessoas de uma margem para a outra de um rio, e num pequeno conto dos Irmãos Grimm acerca de uma criança perpetuamente imóvel sobre uma pedra e que ninguém é capaz de remover.”
Para lá das múltiplas leituras, O Senhor Paul é um texto desconcertante e surpreendente que, em boa hora, o Teatro Aberto revela entre nós. Para além de Miguel Loureiro no papel de Paul, e de José Pimentão no do herdeiro Helm, o espetáculo conta com uma notável galeria de secundários abrilhantada pelos atores Maria José Paschoal, Lia Carvalho, Iris Cañamero e Carlos Malvarez. Em cena na Sala Azul, até 9 de novembro.
Desde muito jovem que Inês Pires Tavares sentiu uma forte ligação às artes. Estreou-se na representação no palco do Teatro Armando Cortez, em 2015, num espetáculo encenado por Wanda Stuart, mas o seu primeiro amor foi a música, tendo estudado canto e violoncelo no Conservatório de Lisboa. Em 2020, iniciou a sua carreira televisiva na novela Amar Demais, da TVI, e desde aí nunca mais parou. Tem sido presença assídua nos canais portugueses, mas também no teatro. No ano passado, participou na peça de grande sucesso Querido Evan Hansen, no Teatro Maria Matos, e agora podemos vê-la no Teatro Trindade com Julieta e Romeu.
Na reescrita contemporânea do clássico de Shakespeare, seguimos a história de dois jovens que se apaixonam num grupo de teatro. O tema não podia ser mais atual: Romeu é filho de migrantes; Julieta, filha de um político xenófobo. A peça estreou a 11 de setembro e tem tido “um feedback muito positivo”. Inês não revela muito sobre o espetáculo, mas adianta que “abre vários caminhos” e que o espectador “pode tirar várias conclusões”. “Eu própria ainda estou a tentar descobrir e acho que vai ser assim até ao fim”, diz-nos.
Inês irá vestir a pele de Julieta até dia 28 de outubro. Depois disso, a atriz, que tem tido um ano cheio, segue para umas merecidas férias. Sobre projetos futuros, afirma, com um sorriso, que “o que vier virá”.
Para onde vão os guarda-chuvas
de Afonso Cruz
Companhia das Letras
A primeira sugestão da atriz é o livro Para onde vão os guarda-chuvas, de Afonso Cruz. O romance passa-se num Oriente efabulado e acompanha a história de várias personagens fascinantes, como a de um homem que quer ser invisível, de uma mulher que quer casar com um homem de olhos azuis, ou de um poeta mudo. “Li este livro há pouco tempo. Nunca tinha lido nada deste escritor, mas fiquei rendida com esta obra.” Para além da história, Inês destaca “o estilo do autor, que tem uma forma muito particular de escrever”.

Dias Perfeitos (2023)
Filme de Wim Wenders
Disponível na plataforma Filmin
Dias Perfeitos, de Wim Wenders, “é das coisas mais simples e mais bonitas que vi nos últimos tempos. A beleza da simplicidade neste filme é qualquer coisa de extraordinário. Está muito bem filmado, o ator principal quase não fala durante todo o filme e consegue cativar-nos desde o primeiro segundo”. A história gira à volta do pacato Hirayama, empregado de limpeza de casas de banho públicas, cujos tempos livres são dedicados a simples prazeres da vida como a leitura, a música ou a fotografia.
Cut the World (2012)
Disco de Antony and the Johnsons (atualmente Anonhi)
Por último, a atriz recomenda o seu álbum preferido – Cut the world, de Antony and the Johnsons (a artista transgénero mudou, entretanto, para o nome Anohni). “Ela tem uma voz muito particular, tem um lado sombrio e meio melancólico. Quando oiço este disco viajo automaticamente para outro sítio, faz-me sentir coisas muito especiais. Há uma magia que não consigo pôr em palavras”. Inês não hesita em recomendar toda a discografia de Anonhi: “aconselho muito este e outros discos dela, porque é incrível”, remata.
A Festa de Abertura da Casa Capitão, que se estende por três dias, a partir desta sexta-feira, 19, e até ao próximo domingo, já deixa adivinhar o que aí vem. Neste fim de semana, a programação inclui concertos, clubbing, performances, oficinas para crianças, projeção de filmes, workshops, apresentação de livros e comida. É assim que se quer este “mini centro cultural”, como o define Gonçalo Riscado, um dos dois diretores (juntamente com o seu irmão João) do mais recente projeto da CTL – Cultural Trend Lisbon, que encerrou recentemente o Musicbox, no Cais do Sodré.
Há muito que vêm pensando como poderiam transformar o número 119 da Rua do Grilo, depois de, há mais de cinco anos, terem assinado um contrato de concessão com a Câmara Municipal de Lisboa para a sua exploração – o edifício faz parte daquele que é hoje conhecido como o Beato Innovation District, o complexo que resultou da reconversão das antigas fábricas da Manutenção Militar, fundadas em 1897.
Com a pandemia, tudo ficou adiado, mas durante os dois verões em que apenas eram permitidos eventos ao ar livre ou para muito poucas pessoas, foi ali que criaram um pop-up, aproveitando o terraço para organizar concertos e várias outras atividades (mais de 600, contando com as que se conseguiram realizar dentro de portas). Depois, foram em busca das condições que lhes permitissem avançar com as complexas obras de requalificação daquele espaço que servia de residência ao antigo comandante da Manutenção Militar.
Do Sótão ao Terraço
Nesta sexta-feira abrem-se, finalmente, as portas deste projeto que Gonçalo Riscado assume ser “de risco” pela sua ambição e dimensão. Com uma organização por “pisos” – Rés do Chão, 1.º Andar, Sótão, Pátio e Terraço – todos eles se querem totalmente flexíveis e capazes de albergar diferentes atividades. Se no Rés do Chão está a sala multiusos que perpetua a herança do Musicbox e que tem capacidade para cerca de 400 espectadores, mas que pode ser adaptada para um público bem menor, a blackbox do Sótão consegue receber noites de clubbing, tal como performances, workshops e concertos mais intimistas. Lá fora, o Pátio funciona como palco natural para variadas intervenções artísticas e o Terraço transformou-se num pequeno auditório ao ar livre.
O 1.º Andar mostra-se o lugar privilegiado de duas das “marcas” da Casa Capitão: a Mesa e o Quiosque. Na zona de refeições – “não lhe chamamos restaurante porque a comida também é uma intervenção cultural”, defende Gonçalo – estarão à vendas as sandes feitas com os papo-secos cozidos ali mesmo, numa ementa pensada pelo chefe Bernardo Agrela, que organizará jantares especiais (com bilhetes, como se de um espetáculo se tratasse) e encontros com outros chefes ou outros criadores. Promete-se, ainda, pôr a trabalhar a grelha da casa e fazer churrasco ao sábado, assim como ter feijoada ao domingo, numa parceria com o coletivo Gira.
Já o Quiosque consiste na programação à volta dos livros. “É como se fosse o nosso pequeno Festival Silêncio [um dos projetos da CTL]: a palavra como unidade de criação, como ponto de partida para programar qualquer coisa e para debater qualquer coisa”, explica o gestor cultural. Mesa de Cabeceira será o programa fixo do Quiosque em que convidam alguém a escolher livros, para ali estarem à venda, e, em torno deles, organizarem atividades (a estreia faz-se com Joana Guerra Tadeu). Pelo Quiosque vão passar também, em outubro, várias iniciativas do MIL – Lisbon International Music Network, o festival organizado pela CTL que se dedica “à descoberta, promoção, valorização e internacionalização da música popular atual e a uma reflexão sobre políticas e práticas culturais”.
Por fim, na Casa Capitão, acontece o Baile, a marca que descreve “a casa depois da meia-noite, para dançar” e que pode acontecer em qualquer parte do edifício.

A cultura como ação
A ideia é que exista programação regular e que as portas estejam abertas de dia e de noite, sobretudo ao fim de semana. Ao sábado e domingo, diz Gonçalo Riscado, o horário pode estender-se das dez horas às seis da manhã. “Queremos que as pessoas vão chegando, se vão cruzando com umas com as outras e também com coisas de que não estavam à espera. Estes lugares de encontro de diferentes artes e de diferentes públicos sempre nos interessaram muito e acho que é através deles que se desenvolve comunidade e pensamento crítico.” Por isso, define a Casa Capitão como um “um sítio de estar, de comunidade, de pensamento crítico, de debate, de encontro e de oportunidades”. E reforça: “Ao contrário do que se diz, acredito que pode existir um espaço para toda a gente – toda a gente que tem como ponto de ligação a arte e a cultura. Todos nós somos agentes de cultura e todos devíamos ter a possibilidade de exercer os nossos direitos culturais. É neste pensamento que surge a Casa Capitão.”
Talvez por essa razão não seja de estranhar o nome que escolheram para batizar o projeto. “Viemos ocupar um edifício militar e se há algo feliz e que nos remete para liberdade e revolução são os Capitães de Abril. Este será, assim, um lugar de memória e de defesa da importância de agir sobre essa memória, queremos materializar isso na programação e na intervenção.”
Quem entra, não vem ao engano, já que o assumem de forma clara, logo na apresentação que fazem no site da Casa Capitão: “Acreditamos na cultura como ação, força crítica e coletiva. Um lugar de liberdade e desobediência, onde se cruzam vozes, experiências e visões do mundo diversas e em diálogo. Assumimos uma posição clara contra todas as formas de opressão. Na nossa casa não há lugar para discursos xenófobos, racistas, sexistas, LGBTfóbicos ou discriminatórios. Acolhemos quem cria e quem participa. Valorizamos a liberdade artística, o pensamento crítico, a escuta atenta e o fazer em comum. Programamos cultura com consciência, compromisso e sentido de futuro.” Para Gonçalo, é importante dizê-lo, sem rodeios nem meias palavras. “Temos de ter manifestos porque, ao contrário do que achávamos, há muitas coisas que dávamos por garantidas e não o estão. Penso que vivemos, de novo, uma época de luta. E ela tem de partir destas afirmações que, depois, devem ser consubstanciadas na prática, na forma como programamos e nos comportamos”.
Se dúvidas houvesse, bastaria consultar o programa já anunciado para estes três dias e para os próximos meses. Cabe a Capicua, já nesta sexta-feira, dar a cara pelo arranque desta casa que se quer de combate e de toda a gente.
Vem aí a terceira edição do Festival Cuca Monga, a 26 e 27 de setembro, e nos Jardins do Museu de Lisboa – Palácio Pimenta há de celebrar-se “a música portuguesa e a amizade entre artistas”. Gaspar Varela sobe ao palco no primeiro dia com a sua guitarra portuguesa e os Expresso Transatlântico, a banda que criou com o irmão Sebastião Varela e o amigo de ambos, Rafael Matos. “Tentamos em cada concerto trazer alguma coisa diferente, nem que seja a nível de energia. Tocar em Lisboa é ótimo, porque estamos em casa, ainda por cima num festival de malta amiga, que reúne muitos músicos portugueses. Isso para nós é especial”, afirma. Acabados de chegar do Japão, onde atuaram no Pavilhão de Portugal na Expo de Osaka, e também noutras cidades, têm quase pronto o segundo álbum, que há de sair em inícios de 2026. Por aí já se ouve Flor Trovão, single de avanço desse próximo disco que hão de depois apresentar em Lisboa, no Capitólio, a 14 de março do próximo ano, no dia em que a banda comemora quatro anos.
Manel Cruz / Cru
17 setembro, 21h
Teatro Tivoli BBVA
“Não sei que tipo de espetáculo vai apresentar, mas o Manel Cruz é um artista e guitarrista incrível, que me inspira muito. Consegue criar um universo que me agrada, é uma coisa boa de se ouvir e que nos põe a pensar – e acredito que é para isso que a arte serve, para instalar a dúvida. Por isso, recomendo sempre qualquer concerto do Manel Cruz, seja com Ornatos Violeta, seja com Pluto, seja a solo. É sempre muito bom.”
![]()
Com a alma na mão, caminha, de Sepideh Farsi
A partir de 18 setembro
Cinema Ideal
Depois de ter sido um dos momentos mais emocionantes no Festival de Cannes, em maio, o documentário estreia-se esta semana em Lisboa e, para Gaspar Varela, é uma escolha obrigatória. Durante cerca de seis meses, a realizadora iraniana Sepideh Farsi espreitou o que se passava na Palestina através do olhar da fotógrafa Fatma Hassona, que permanecia em Gaza. As imagens que registaram – e as suas conversas à distância – deram origem a este filme. No entanto, em abril, logo depois de ficar a saber que o documentário tinha sido selecionado para Cannes, Fatma foi assassinada num ataque israelita. “É um tema muito importante e deixa-me feliz que a arte reflita sobre estes assuntos. Israel está a cometer um genocídio e é fundamental que se possam fazer filmes, músicas, pinturas, o que for, sobre isso. Ainda bem que o Cinema Ideal passa o filme. Todos deveriam ir vê-lo.”

Entre os vossos dentes, obras de Paula Rego e Adriana Varejão
Até 22 setembro
CAM – Centro de Arte Moderna da Gulbenkian
Na última semana para ver esta exposição, Gaspar garante que não deixará passar a oportunidade. “São duas artistas fascinantes e que, tanto em Portugal como no Brasil, elevaram muito o papel das mulheres nas artes. O trabalho delas, muito especialmente o da Paula Rego, é uma coisa fora de série e adorei a ideia da junção das duas”, afirma. “É cada vez mais preciso reforçar esse poder feminino e acho muito importante continuarmos a lembrar-nos destas duas artistas por todo o trabalho maravilhoso que fizeram.”
Anónimos de Abril
De José Fialho Gouveia, Rogério Charraz e Joana Alegre
Livros Zigurate
Primeiro, foi o projeto musical, com letras de José Fialho Gouveia, músicas de Rogério Charraz e voz de Joana Alegre, sobre “mulheres e homens que tiveram a coragem e a ousadia de enfrentar e fragilizar o regime que durante 48 anos oprimiu os portugueses” e, mais recentemente, chegou o livro que aprofunda essas histórias. “Gostei muito de o ler, achei bastante interessante, com relatos muito bonitos”, elogia o guitarrista, que confessa preferir títulos de não ficção. Com QR codes para se poder também ouvir as canções, esta edição tem textos de José Fialho Gouveia, Aurora Rodrigues e Miguel Carvalho, e ainda ilustrações de Marta Nunes.
Suspiro…
Álbum de Maria Reis
Saiu no ano passado e Gaspar Varela não hesita em recomendar este disco de Maria Reis, cantora, compositora e guitarrista, que se tem afirmado como nome fundamental da nova música portuguesa. “Gosto muito da maneira da Maria escrever e adoro a forma como usa a voz e interpreta as suas músicas. Já gostava de Pega Monstro, a anterior banda dela, e acho que este álbum é muito bonito”, diz sobre Suspiro…
No teatro contemporâneo, contam-se pelos dedos das mãos as peças de teatro que aliam a popularidade ao aplauso da crítica. Menos ainda, aquelas que, embora escritas não há muitos anos, se podem considerar “clássicos”. Arte, peça de afirmação da autora francesa Yasmina Reza, faz parte desse limitadíssimo lote de textos teatrais que conquistaram plateias, prémios e a crítica, e que, passados pouco mais de 30 anos desde a estreia, continuam a repetir semelhante aclamação.
Para o comprovar, sobretudo a toda uma geração que não teve oportunidade de ver este texto em palco – em Portugal, Arte foi encenado por António Feio por duas ocasiões, em 1998 e 2003, e, posteriormente, em 2016, por Adriano Luz e Carla de Sá -, a Força de Produção aposta em levar a cena, nesta nova temporada, o clássico de Yasmina Reza. Com uma nova tradução (de Ana Sampaio), António Pires dirige Cristóvão Campos, Nuno Lopes e Rui Melo, num espetáculo que o encenador define como “uma comédia sobre a empatia nos nossos dias”.

Se em 1998, quando a peça estreou em Portugal, o enfoque parecia centrar-se nas questões do gosto e das controvérsias à volta da arte contemporânea, sendo o quadro em branco, como observa Pires, “uma espécie de provocação”, hoje, “parece-nos que este texto é [primordialmente] sobre a forma como nos relacionamos, sobre a falta de empatia que, devido ao individualismo e ao isolamento propiciado pelas redes sociais, vamos tendo na relação com o outro”. Em suma, Arte trata de três homens, amigos há 20 anos, que “já não se ouvem uns aos outros” e que parecem estar prestes a descobrir que, muito provavelmente, a amizade acabou.
O gatilho da discórdia
Quando Marco (Nuno Lopes), à boca de cena, anuncia à plateia que o seu velho amigo Sérgio (Rui Melo) adquiriu, pelo valor obsceno de 120 mil euros, uma tela de um metro e 20 por um metro e 60, totalmente branca, assinada por um artista de renome, prenunciam-se momentos de tensão.
Diante do quadro, Marco ri jocosamente de Sérgio, mas tudo escala para o conflito, por ora ainda velado, quando o amigo classifica a obra como “uma grande merda”. Ofendido, Sérgio procura aprovação num terceiro, Ivo (Cristóvão Campos), amigo de ambos, mas tão vulnerável nas suas opiniões como falhado na vida pessoal e profissional.
Quando, de novo em casa de Sérgio, se reúnem, o valor da obra de arte vai digladiar-se com o da amizade, num confronto revelador de inúmeros incómodos e ressentimentos entre os três homens. Fica a questão: será que, depois de tudo o que é dito, a amizade sobreviverá?

Toda a conflitualidade em crescendo, que culmina num gesto radical e surpreendente, é tratada com uma minucia notável dos tempos da comédia. António Pires não deixa por isso de confessar “o enorme prazer e o divertimento” de trabalhar um texto que é “uma lição de comédia”. E, quando se tem “três atores de grande talento, daqueles que têm opinião, basta deixá-los tomar conta da cena”.
Com estreia marcada para dia 10, a genial comédia de Yasmina Reza prepara-se assim para continuar a conquistar gerações de espectadores de teatro, provando que os clássicos, pela sua intemporalidade, não têm idade.
Mariana Duarte Silva apresenta-se sempre como “mãe de três rapazes” e já foi considerada uma das mais importantes mulheres empreendedoras em Lisboa. Em 2014, depois de anos a trabalhar na promoção e produção musical, trouxe de Londres o Village Underground e transformou autocarros sem uso num espaço de eventos culturais. Foi aí que, mais tarde, fundou a Skoola, seguindo “uma vontade muito grande de fazer um projeto educativo de base musical”.
Skoola – a magia de fazer com todos
Há microfones, djembés, teclados, uma bateria, guitarras, maracas e outros instrumentos na sala. Também há sorrisos e gargalhadas, brincadeiras e muita concentração. Nesta aula da Skoola, cada um escolheu o que queria tocar e as melodias vão-se fazendo em conjunto. A academia de música urbana que nasceu dentro do Village Underground Lisboa, em 2021, funciona agora num antigo ginásio recuperado da Escola Básica Integrada Manuel da Maia, em Campo de Ourique. Quando a fundou, Mariana Duarte Silva sabia exatamente como queria que fosse este lugar de aprendizagem e crescimento, por oposição ao tradicional ensino da música. “É uma metodologia de educação não formal, por serem os jovens que escolhem o que querem aprender. Os facilitadores vão dando ferramentas para cada um ir construindo o seu processo criativo e isso torna-os mais autónomos na criação e no pensamento. Uma forma mais aberta, criativa e inclusiva, porque não deixa ninguém de fora”, explica.
À Skoola chegam miúdos com mais ou menos talento musical e com mais ou menos necessidades, sejam financeiras, sociais ou de saúde mental, por exemplo. A escola tem bolsas para quem não pode pagar (em parte financiadas pelas propinas dos que podem) e muitas estratégias para a integração. “A música é realmente uma ferramenta que consegue fazer a diferença e operar a mudança”, acredita Mariana. Pensada como um projeto de impacto social, a Skoola tem vindo a abrir-se aos jovens mais privilegiados. “Só assim faz sentido. Essa é a magia: misturar e fazer com todos. Uns aprendem com os outros e todos aprendemos em conjunto.”
Os locais de Campo de Ourique
Livraria Ler
Rua Almeida e Sousa, 24 / T.213 888 371
“Tem um atendimento muito personalizado e simpático. É sempre lá que vou quando quero um livro para mim, para os meus filhos ou para oferecer a alguém.”

Ateliê de Felipa Almeida e Sousa
Rua Almeida e Sousa, 27 R/C DTO
“Artista e curadora, a Felipa foca-se na origem dos objetos em cerâmica portugueses. Tem um trabalho muito bonito, faz visitas ao ateliê e organiza exposições com outros artistas.” Neste mês, haverá uma mostra com peças de 27 artistas de diferentes gerações e origens que recuperam e reinterpretam o tradicional moringue, a bilha de barro com dois gargalos e uma asa, usada antigamente no campo para manter a água fresca.
Exposição Moringue vazio não carrega só vento, 18 a 20 de setembro
.

Casa Príncipe
Rua Coelho da Rocha, 31A
A editora Príncipe Discos, com a associação Filho Único, também se mudou recentemente para Campo de Ourique, e Mariana aplaude esta chegada. “Fiquei muito contente por terem vindo para Campo de Ourique. O novo espaço, que já fui conhecer, é escritório e estúdio e têm uma loja onde vendem discos e merchandising. Acredito que a Casa Príncipe vá trazer mais dinamização e mais músicos, e que vá marcar o bairro.”

Biblioteca/ Espaço Cultural Cinema Europa
Rua Francisco Metrass, 28 / T.218 009 927
“Se preciso de me concentrar ou de escrever é para aqui que vou, com o telefone no silêncio. Gosto muito de escrever no meio de livros e de jornais. Recentemente, conheci o auditório, que também me pareceu um ótimo espaço”, diz Mariana Duarte Silva sobre esta biblioteca nascida no edifício que funcionou como sala de cinema até ao início dos anos 80 do século passado e que ainda mantém, como imagem de marca, o alto-relevo do escultor Euclides Vaz.

Cemitério dos Prazeres
Praça São João Bosco, 568
“Gosto muito de ir ali passear. Para mim, não é nada mórbido. Tem uma vista muito bonita para Monsanto e, quando preciso de calma, dou umas voltas por lá.”

Barbeiro Diamante
Rua Saraiva de Carvalho, 128 / T.213 902 605
“Para mim, é cultura. Este barbeiro centenário resiste em Campo de Ourique e foi lá que os meus filhos fizeram os primeiros cortes de cabelo. O corte à Diamante é um clássico do bairro.”

Pátio dos artistas
Rua Coelho da Rocha, 69
“Sempre tive muita curiosidade e só recentemente lá entrei. É uma pérola no meio de Campo de Ourique.”

A Padaria do Povo
Rua Luís Derouet, 20A / T.213 620 464
“Organizei lá várias festas e é ótimo para se ir beber um copo ao fim do dia.”
Publicou o seu primeiro livro aos 51 anos. A que se dedicou, entretanto?
Ao meu trabalho que é ser publicitário.
Como surgiu a necessidade da escrita?
Foi mais curiosidade do que necessidade. Habituado a contar histórias com 30 segundos, quis perceber como se contava uma história com 300 páginas. E como sou teimoso, fui tentando e errando, errando…
Porque escolheu este período histórico e a construção da ponte para tema do livro?
A primeira coisa a surgir foram as personagens através de histórias que me contavam. A maior parte são baseadas em pessoas que existiram num bairro alfacinha nos anos 50. Como essa realidade não fazia sentido nos dias de hoje, precisei de recuar no tempo. Precisava de uma obra que fizesse as pessoas virem de fora trabalhar e viver nos pátios operários. De repente a ponte foi uma espécie de “Ovo de Colombo”. Ainda ninguém tinha escrito sobre a sua construção e, além disso, gosto muito da ponte.
Porquê?
A ponte levava-me de férias quando era miúdo e ia para o Algarve com os meus pais. Ainda hoje mantém esse simbolismo.
Como possui um conhecimento tão apurado do bairro de Alcântara, e das suas gentes, no final do Estado Novo?
Fui estudar. Nunca vivi em Alcântara e foi no Gabinete de Estudos Olisiponenses que encontrei muita informação interessante sobre o bairro. Fui também à junta de freguesia e falei com pessoas de Alcântara que frequentam a universidade da terceira idade e que eram jovens nessa altura.
Concorda que o bairro de Alcântara é o verdadeiro protagonista do livro? O local onde se concentram dois fluxos opostos: o dos operários de todos os pontos do país que vêm trabalhar na construção da ponte e o dos soldados que partem para a guerra colonial.
Penso que o verdadeiro protagonista será o Pátio do Cabrinha. Depois alarga-se ao bairro de Alcântara que é simbólico da transformação que o país atravessava na altura.
É também aqui que se cruzam, num dos mais belos momentos do livro, os destinos dos dois irmãos protagonistas. Um embarca para a guerra passando por baixo da ponte que o outro constrói.
A certa altura percebi que o livro era sobre um paradoxo: um país que, ao mesmo tempo e no mesmo sítio, constrói uma ponte e uma guerra. Percebi que tinha o tema do livro e montei-o em cima desse positivo e negativo. Aproveitei essa boleia para encher o livro de outros paradoxos.
No fundo, quando descreve este bairro é a todo um país que se refere: a fome, a miséria, o analfabetismo, o alcoolismo, a violência doméstica, a prostituição, a opressão, a guerra…
Sim. A ponte é ainda hoje usada como símbolo de uma boa governação do Estado Novo. Interessava-me investigar e perceber a parte negra de tudo aquilo que as pessoas se esquecem quando falam da ponte. Existe cada vez mais um saudosismo de uma determinada situação que é romantizada e não corresponde à realidade. Pretendia expor tudo o que era verdadeiramente podre na ditadura portuguesa e matar a ideia de que a ponte representa um símbolo de excelência do Estado Novo.

Esta é uma ponte erguida como símbolo de modernidade num país muito pouco moderno. Nesse sentido, é uma ponte de aço com “pés de barro”?
Completamente. Atrevo-me a dizer que a ponte era a única coisa moderna neste país. Ainda a ponte estava a ser construída quando foi renovada a proibição do biquíni nas praias portuguesas.
De todas as personagens que criou, Ângelo Barraquinho é a mais enigmática. O único letrado do Pátio do Cabrinha quer apender a desler. Pode desvendar um pouco do seu significado?
O meu pai teria ficado muito feliz se tivesse vivido para ver este livro. Ele lia muito e era muito crítico do Estado Novo. Os seus últimos anos foram com demência. Talvez o Ângelo Barraquinho seja um pouco o meu pai. E, voltando à questão do paradoxo: se tenho alguém que precisa de aprender a ler [Vitor Tirapicos, o protagonista do livro] tenho que ter o seu contrário.
Morte, pobreza, violação, tortura, mutilação, são temas centrais no livro que convivem com uso frequente do humor. Esse recurso, contudo, não afeta a seriedade da narrativa nem a dignidade das personagens centrais. Como conseguiu esse equilíbrio?
Há duas formas de lidar com o que nos revolta, uma inteligente, outra menos. A menos inteligente é agressiva, a outra é através do humor. Precisava da ironia para que o livro não fosse tão raivoso. A descrição do irmão na guerra, por exemplo, que eu não inventei, é de uma violência atroz. Há momentos, como esse, em que não se deve fazer humor e há outros que aguentam.
Há um momento do livro em que diz que os problemas das pessoas, vistos do alto da ponte, parecem insignificantes. Isto prende-se com uma ideia que permeia toda a obra: a da indiferença de Deus perante os destinos humanos?
Sim, essa é capaz de ser a minha passagem favorita do livro. Incomoda-me profundamente, não a fé das pessoas, mas a forma como é trabalhada e aproveitada pelos homens. Portugal é profundamente hipócrita e a religião está intimamente ligada a isso, tal com a Igreja Católica ao Estado Novo. Portugal tem uma história de 500 anos que, em nome de Deus, se permitiu fazer tudo e mais alguma coisa.
Pés de Barro já foi comparado a Memorial do Convento. Sente que é inevitável falar em Saramago quando se lê o seu livro?
São dois livros, com as distâncias devidas, sobre as duas obras mais emblemáticas dos respetivos regimes, ainda que separadas por séculos. Nesse aspeto, a comparação é inevitável. Gosto muito do [José] Saramago, e para mim a comparação é uma honra. Mas, sinceramente, em termos de escrita, não acho. Nomeadamente, a questão da ausência dos diálogos com travessão prende-se com a minha origem de designer e com a confusão que me faz a mancha da página. É uma questão gráfica, não gosto das interrupções no texto. Ao nível das personagens, o Vitor Tirapicos pretende ser uma homenagem ao Tom Joad de As Vinhas da Ira, de John Steinbeck, o meu escritor de eleição pela forma como retrata a miséria, não ao Baltasar Sete Sóis [protagonista de Memorial do Convento]. A Dália, já era muda, mas foi criada como personagem secundária na primeira versão do livro. Porém, achei-a tão interessante que a tornei protagonista na segunda versão.
O final da obra, ousado como solução narrativa, ao contrariar a realidade histórica produz algo só possível no universo da criação artística, neste caso da ficção literária. É um ato de “justiça poética”?
Sim. Não podia chegar ao fim e deixar tudo na mesma. Alguém tinha de pagar por aquilo que descrevo ao longo do livro. Se na vida a justiça tão poucas vezes se cumpre, ao menos que se cumpra na literatura.
O livro é sobre o passado, porém, ao lê-lo, não consegui deixar de sentir que é uma obra escrita para o tempo histórico e social que estamos a viver. Teve essa intenção?
A partir de determinada altura, sim. Não tive, nem tenho, qualquer intenção moralista ou pedagógica e espero não vir a ter. No entanto, como diz António Lobo Antunes, “uma população que lê é uma população que não se deixa escravizar”. Acredito que os livros, e a arte em geral, devem contribuir para aprofundar o conhecimento das pessoas.
O que sentiu ao ganhar o Prémio Leya, atribuído por um júri tão prestigiado?
Senti que tinha escrito um livro. Tinha coisas no computador que achava que não possuíam qualidade; quando acabei este livro pareceu-me que não me envergonhava. O Prémio Leya teve, por isso, muita importância, porque no fundo aquela gente tão prestigiada está a dizer que eu sei escrever. Para além de tudo, o que prémio me trouxe de bom até agora foram as pessoas que tenho conhecido, a equipa de Leya, as experiências que tenho vivido, os sitos onde tenho ido.
O Gabinete de Estudos Olisiponenses (GEO) apresenta Lisboa na Época Moderna. Quotidianos, Artes e Ofícios, uma exposição dedicada ao quotidiano e às profissões de Lisboa entre os séculos XVI e XVIII. Assente numa investigação histórica rigorosa, a mostra revela, através de reproduções de documentos, cartografia, pinturas, gravuras e painéis de azulejos, a dinâmica cultural, social e económica da cidade a partir dos seus ofícios e atividades profissionais.

Regateira
O regateio era uma profissão exercida sobretudo por mulheres dos meios sociais mais desfavorecidos. Vendiam a retalho produtos alimentares – peixe, marisco, pão, produtos hortícolas ou galinhas – à porta de sua casa, na Ribeira ou em circulação pela cidade. Tinham grande liberdade de movimentos, mas as posturas municipais mais antigas exigiam que fossem casadas ou viúvas “honestas”.
A sua atividade era rigorosamente controlada e corriam o risco de ser multadas e até açoitadas se as mercadorias não fossem supervisionadas pelo Senado. Faziam-se anunciar com pregões que ecoaram na cidade até meados do século XX.

Cristeleira
Profissional de saúde responsável por administrar “ajudas” — clisteres purgativos — prescritos para o tratamento de diversas doenças. Para exercer a função, era obrigatório submeter-se a um exame perante o físico da cidade e, se aprovada, receber a carta de ofício emitida pela Câmara de Lisboa.
O seu principal instrumento de trabalho era o cristel, que devia estar em perfeitas condições de higiene e funcionamento. As profissionais que desrespeitassem as boas práticas estavam sujeitas a multas e, no limite, a pena de prisão. Com os avanços da medicina, este ofício entrou em declínio e foi extinto no decurso do século XVIII.

Quadrilheiro
Os quadrilheiros surgiram durante o reinado de D. Fernando, no século XIV, com a função de manter a ordem nas cidades. Eram recrutados compulsivamente entre os cidadãos mais respeitáveis e obrigados a cumprir um mandato de três anos, sem remuneração.
Cada quadrilha era formada por vinte homens que, sem qualquer formação específica, tinham a missão de denunciar e intervir em diversas situações que ameaçassem a ordem pública e a moral vigente. Eram identificados por uma vara verde com insígnias, que carregavam consigo, sendo frequentemente agredidos e ridicularizados. A instituição dos quadrilheiros foi extinta no século XIX.

Aguadeiro
São frequentemente representados na iconografia de Lisboa carregando barris de água em carroças, com a ajuda de animais de carga ou às costas. O aguadeiro era fundamental para o funcionamento da cidade, levando água desde os principais chafarizes e fontes aos pontos mais distantes e inacessíveis da cidade. A partir do século XVIII, essa função passou a ser desempenhada sobretudo por imigrantes originários da Galiza.

Almocreve
Desde a Idade Média o almocreve era uma presença assídua nas cidades, aldeias, estradas e caminhos do país. Com o seu animal de carga transportava e distribuía alimentos e outros bens, ligando por terra as regiões mais remotas. Foi uma profissão essencial para o comércio interno e manteve-se até se tornar obsoleta com o desenvolvimento dos transportes.

Calafate
Responsável por vedar as embarcações de madeira, este artesão era essencial numa época em que o comércio marítimo se impunha como uma das mais fortes atividades económicas.
Na Ribeira das Naus, o imenso estaleiro ativado no século XVI, trabalhavam centenas de carpinteiros e calafates. Enquanto os primeiros construíam e reforçavam a estrutura dos navios, os segundos garantiam a sua impermeabilidade, preparando-os para enfrentar longas travessias oceânicas. A técnica consistia na aplicação de um calafeto — geralmente produzido com alcatrão e breu aquecido — que selava as juntas, protegendo o casco contra a infiltração de água.

Odreiro
Artesão que fabricava os odres, recipientes feitos de peles de animais para transporte de líquidos como vinho, azeite, vinagre, leite ou água. Usados em contexto rural e urbano, exigiam muita perícia na sua confeção. Normalmente o pescoço do animal servia como gargalo, sendo a impermeabilização feita com pez, uma substância resinoso-vegetal.
A exposição Lisboa na Época Moderna: Quotidianos, Artes e Ofícios está patente ao público no GEO [Palácio do Beau-Séjour- Estrada de Benfica, 368], até 28 de novembro. Entrada livre.
Estão previstas visitas orientadas (máximo 10 pessoas) nos dias 23 de setembro, 15 de outubro e 13 de novembro em dois horários: 11h30 e 15h30 (inscrição: geo@cm-lisboa.pt)
Para além das visitas haverá um ciclo de conferências a 4 de setembro, 9 de outubro e 4 de novembro, sempre às 18h.
A entrada é livre, sob marcação, em todas as atividades.
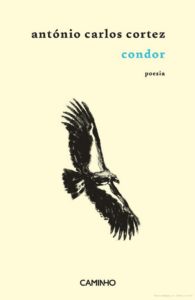
António Carlos Cortez
Condor
Neste conjunto de vinte e sete poemas longos de verso caudaloso, António Carlos Cortez refere-se ao autor d’Os Lusíadas, Luís Vaz de Camões, como “poeta da poesia”. No seu mais recente livro, também Cortez o é, na medida em interpreta a realidade do mundo presente (“tempo tétrico do averno técnico” onde ninguém já tem “ouvidos para a musa”) à luz da tradição poética, enquanto reflete sobre a natureza e significado da própria poesia (“Sim, a poesia / é uma forma de pressentimento das eras / que sobre eras vêm”). A obra, que elege o “oráculo como arquétipo”, convoca o passado literário como refúgio para o esquecimento da alienação do presente (“Portugal (…) no porto do desabrigo e da infâmia”). Nesta leitura alegórica, o condor – mensageiro dos deuses na mitologia andina, o maior pássaro da terra e o único animal que pode olhar o sol de frente, sem cegar – é o próprio poema (“condor-poema”): “animal poético animal perfeito / animal profético”. Escreve António Carlos Cortez: “A poesia acabará também por ser (…) uma ave a caminho do sol que a cegará absolutamente. Só na cegueira a poesia poderá continuar e aí terá a sua última fase lúcida”. LAE Caminho

Stanisław Lem
A Máscara e Outros Contos
Em O Enigma, último dos contos desta coletânea, o mestre da ficção especulativa, Stanisław Lem (1921-2006), relembra o papel do Santo Ofício como principal opositor ao avanço da ciência. Na realidade, o grande escritor polaco sempre cultivou o ideal de liberdade como utopia. De ascendência judaica e apoiante da resistência, como mecânico, dedicou-se a sabotar carros alemães durante a invasão nazi. Em 1976, foi expulso da Associação de Escritores de Ficção Científica e Fantasia da América, por ter criticado a fraca qualidade da produção norte-americana no género. A Máscara reúne treze contos escritos entre 1956 e 1993 que revelam os diferentes temas e influências que dominaram as suas obras de grande fôlego como Solaris (1961): a contaminação do romance policial e da literatura gótica, o interesse pela cibernética e a psicologia, o tom grotesco e humorístico, a relação nem sempre pacífica entre a humanidade e a inteligência artificial. Em todos eles é possível reconhecer os elementos estilísticos que contribuíram para tornar Lem popular junto de uma larga camada de leitores, como a descrição minuciosa dos detalhes, baseada numa espantosa erudição científica, os diálogos descarnados, essenciais, rápidos, inspirados no modelo norte-americano, ou a procura constante de uma dimensão existencial profunda. LAE Antígona
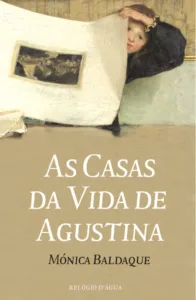
Mónica Baldaque
As Casas da Vida de Agustina
Nascida em 1922, desde cedo ficou patente a vocação literária de Agustina. A Sibila, de 1954, constitui um enorme sucesso e revela a sua mestria na arte do romance. A relação com a região duriense, durante largas temporadas da sua infância e adolescência, marca de forma indelével a sua obra. A escritora escreveu em 2013, no Caderno de Significados: “Os lugares físicos são fonte de revelação, porque eles guardam o espectro do acontecimento”. Neste livro, a pintora e escritora, Mónica Baldaque, filha de Agustina, recorda a “vida sábia” da mãe e “o reflexo das paisagens por onde passou”. A partir da casa de seus pais em Vila Meã, onde nasceu a 15 de outubro de 1922, Agustina, originária de uma família com “espírito de nómadas”, mudou muitas vezes de morada, apenas de passagem ou de forma mais demorada. Este livro relembra as suas vivências e a relação que estabeleceu com a escrita em cada um desses “lugares físicos”. Evocando a Casa do Gólgota, sua última morada, escreve Monica Baldaque; “foi mais uma casa da vida de Maria Agustina, e não A Casa da Vida. Essa, e por fim, não a vejo noutro lugar senão na sua obra.” LAE Relógio D’Água

Eugenio Carmi e Umberto Eco
Três Contos
Exemplo perene de colaboração entre um artista visual e um escritor, estes três contos revelam como as pessoas se enriquecem e ganham novas dimensões em contacto umas com as outras: face às palavras de Umberto Eco, o pintor Eugenio Carmi tornou-se ilustrador e face às imagens de Eugenio Carmi, o filosofo, semiólogo e escritor Umberto Eco tornou-se fabulista. A Bomba e o General mostra como a harmonia de mundo se pode destruir com uma guerra atómica. Os Três Cosmonautas glosa o tema da tolerância e do respeito à diferença entre um marciano com seis mãos e três cosmonautas rivais: um americano, um russo e um chinês. Os Gnomos de Gnu é uma parábola sobre o colonialismo e a “curiosa” noção ocidental de “civilização”. Todos ostentam belíssimas ilustrações a aguarela, entre a geometria e a abstração, com recurso à colagem de fragmentos de papel e tecido. Os dois primeiros contos foram publicados originalmente em 1966, o último em 1992. Infelizmente, mantêm plena atualidade. Num momento em que vozes se levantam a favor do rearmamento da Europa e do mundo e da reintrodução do serviço militar obrigatório no nosso país, e em que vemos crescer a intolerância para com o “outro”, este livrinho é de leitura imprescindível para miúdos e graúdos, pais e educadores, humanos e extraterrestres. LAE Gradiva
Giuliano da Empoli
A Hora Dos Predadores
Entre os títulos mais aguardados da 82.ª edição do Festival de Cinema de Veneza encontra-se The Wizard of the Kremlin, de Olivier Assayas, que adapta o romance de estreia de Giuliano da Empoli, hoje mais reconhecido enquanto ensaísta do que conselheiro político, apesar das duas atividades coexistirem em toda a produção escrita deste autor de origem italiana e suíça. A Hora dos Predadores não se compadece com aparências ou palavras meigas para falar do presente e antecipar o pior que espreita. “Hoje, as nossas democracias ainda parecem sólidas. Mas ninguém pode duvidar de que o mais difícil ainda está por vir. O novo presidente americano passou a encabeçar um cortejo variegado de autocratas descomplexados, de conquistadores da tecnologia, de reacionários e de teóricos da conspiração impacientes por chegarem a vias de facto”, escreve. Giuliano da Empoli relata situações a que assistiu protagonizadas por aqueles que alimentam e tiram partido da máquina do caos: a mesma que inflama o comportamento dos seres humanos com infinitas perceções que mais não são do que extrapolações abusivas da realidade. O poder crescente da Inteligência Artificial aponta para esse mesmo abismo, o qual é uma espécie de rosto incorpóreo e totalitário. RG Gradiva

Sigrid Nunez
Qual é o teu tormento
Depois de vencer o National Book Award com O Amigo, Sigrid Nunez regressa aos romances com Qual é o teu tormento, obra adaptada ao cinema por Pedro Almodóvar com o título O quarto ao lado, protagonizado por Tilda Swinton e Julianne Moore. A história é a de duas amigas, cujos nomes desconhecemos, uma delas a fazer tratamento para um cancro terminal. Depois de inicialmente se recusar a ser cobaia numa série de tratamentos que provavelmente não a iriam salvar, todos a convenceram a não desistir. Afinal, “ela não queria sair da festa mais cedo”. Todos menos a filha, com quem pouco contacto tinha. Num diálogo contínuo entre a narradora e a amiga doente, vamos ainda acompanhando a relação da narradora com o ex-marido e os motivos que levaram a filha a afastar-se da mãe, sem nunca perder o que está por detrás desta narrativa: o poder da amizade. Sem querer “partir numa angústia humilhante”, a mulher doente revela à amiga que possui um medicamento para a eutanásia e que gostava que ela a acompanhasse nos últimos dias. Não quer que a ajude a morrer, apenas que lhe faça companhia e esteja com ela até ao fim. “Alguém disse: Quando vens ao mundo tens pelo menos uma pessoa contigo, mas quando o abandonas estás só. A morte acontece a todos nós, mas continua a ser a mais solitária das experiências humanas, que nos separa em vez de nos unir.” Exceto neste romance. SS Livros do Brasil

Patrícia Portela
Manual para andar espantada por existir
À semelhança do “panfleto mágico em forma de romance” em que se inspira – Aventuras de João Sem Medo, escrito por José Gomes Ferreira no tortuoso ano de 1933 –, este é também um livro ensombrado por tempos difíceis, onde nunca é demais alertar para a importância de resistir. Para isso, Patrícia Portela apela a que se cultive a imaginação e escreveu este Manual, advertindo desde logo o leitor (de todas as idades) para que não tente “pensar só com a parte lógica do cérebro”, senão será incapaz de se “espantar por existir” e, naturalmente, de fazer a viagem proposta por este livro com capa dominada pelo amarelo, cor que, afiança-se, seria a do espanto se “o espanto tivesse uma cor”. Vestindo o papel de João Medrosa, a aventureira que percebe ser “o medo um sentimento que (…) pode paralisar as pessoas e impedi-las de sonhar livremente”, a autora atravessa o muro da realidade e leva-nos de volta a essa antítese do país sombrio que é a Floresta Branca, lugar das aventuras de João Sem Medo no folhetim de Gomes Ferreira. Ali, à luz dos mais de 90 anos que separam as duas narrativas, ressurge todo um universo prodigioso de fantasia e imaginação, alimentado pela emergência de combater velhos fantasmas que retornam através da prodigiosa faculdade humana do pensamento e da curiosidade. FB Caminho
Tiago Salazar
O judeu de Santa Engrácia
Viajante, escritor e guia, Tiago Salazar inspirou-se no mito em torno da construção da Igreja de Santa Engrácia para escrever o mais recente romance, O judeu de Santa Engrácia. Corria o ano de 1631 quando o cristão-novo Simão Lopez Pires de Sólis foi acusado de ter profanado as relíquias do templo de Santa Engrácia. “Mandar alguém para o cadafalso sem prova cabal era comum no nosso burgo, como deveria ser noutros, assistidos por um poder despótico e venal.” Apesar de não ser a primeira vez que presenciava tais rituais, Antero Figueira, homem de leis, assistiu à morte na fogueira de Simão e sentiu que daquela vez estava a ser cometida uma tremenda injustiça e resolve investigar o porquê de andar Simão a rondar a igreja inacabada a horas tão tardias. “A execução de Simão era o grau máximo da impunidade das trevas. E o facto de as gentes que ali acorreram não o terem apedrejado, e muitos em surdina o tomarem por vítima de uma ratoeira, mais me faz convicto de haver ali pano para mangas.” Embarque nesta viagem até ao século XVII e descubra o que levou Simão a manter-se calado face à acusação que lhe pendia até ao momento de atearem o lume, altura em que afirmou: “Morro inocente! E é tão certa a minha inocência como é certo que nunca se hão-de acabar aquelas obras, por mais que se façam!”. SS Oficina do Livro
paginations here