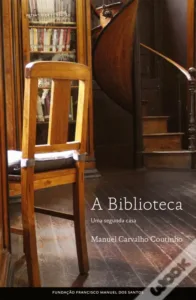O ambiente é feérico e a boa disposição, com uma ou outra transgressão, absolutamente compreensível. Afinal, não são todos os dias que se organiza um baby shower ou, trocando por miúdos, um “chá de bebé”, festa surpresa dedicada àquela amiga que se prepara para ser mãe, e onde ninguém deverá levar a mal se as xícaras de chá forem trocadas por copos de vinho.
Ana (Raquel Tillo) está a pouquíssimo tempo de se tornar mamã e a sua tendência para ser meticulosa e perfecionista reflete-se nas tensões e na ansiedade que aumenta de minuto a minuto. Para que as coisas não resvalem, tem a seu lado as melhores amigas: Patrícia (Tânia Alves), dona de casa e matriarca de família numerosa; Beatriz (Gabriela Barros), advogada e mãe de dois filhos; e Cristina (Ana Cloe), recém-divorciada, três filhos, e em fase de adaptação à realidade de ser agora mãe-solteira.

Durante a festa, antecedendo o nascimento do bebé, as quatro mulheres partilham experiências e desafios, frustrações e conquistas, e até os inigualáveis prazeres da maternidade, numa viagem em montanha-russa que mostra como é tão complexa a arte de ser mãe… e mulher. Porque Mães, de Sue Fabisch, é mesmo aquele tipo de musical que não se limita a ser escapista e procura deixar no espectador “muito mais do que boa disposição.”
É, precisamente, a capacidade de “vibrar noutras zonas” que Ricardo Neves-Neves elenca como um dos atrativos para ter aceite o convite da Força de Produção para encenar este musical, que muito sucesso vem fazendo, há mais de uma década, por palcos dos Estados Unidos, Escócia e Austrália. “O sentido de humor e as canções e a hipótese de trabalhar com atrizes tão extraordinárias no texto e na voz cantada” são outros aliciantes.
Mas Mães é ainda uma peça onde Neves-Neves reconheceu outras potencialidades, tão bem sublinhadas na adaptação para português de Henrique Dias (com Miguel Viterbo, nas canções). “Interessava-me que fosse possível imaginarmos para aquelas personagens um passado e um futuro”, refere. Para isso, a encenação evitou “o tom de vaudeville, tipo café-concerto,” e situou o grupo de amigas numa sala de estar, “uma quase casa de bonecas, que ajuda a humanizar as personagens e [enfatiza] a personalidade de cada uma delas.”

Às magníficas atrizes juntam-se em cena os músicos André Galvão, Artur Guimarães e Tom Neiva, brilhando os figurinos de Rafaela Mapril, o cenário de Catarina Amaro e o desenho de luz de Luís Duarte. Mães tem ainda os preciosos contributos da coreógrafa Rita Spider – colaboradora habitual nas mais recentes criações de Ricardo Neves-Neves, como Noite de Reis e O Livro de Pantagruel – e de Diana Vaz como assistente de encenação.
O espetáculo sobe ao palco do Teatro Villaret durante os próximos meses, sempre de quinta a domingo.
Na peça que o catalão Pau Miró escreveu para completar a sua Trilogia das fábulas (onde figura Búfalos e Leões) recorreu ao mamífero de longo pescoço que conhecemos como girafa. O autor nunca terá justificado o título, e a peça está distante de o fazer, muito embora Miró tenha dito, com algum humor, que “se transformássemos uma drag queen num animal seria certamente uma girafa”.
Pelo menos foi esta ideia que o encenador Nuno Gonçalo Rodrigues reteve quando iniciou o trabalho de pesquisa para encenar Girafas. E há, de facto, uma drag queen (e, consequentemente, um número drag, ao som de Milord de Édith Piaf, passado num recôndito cabaret de Barcelona) a quem o autor chama Aurora e, na didascália, “a girafa do Paral-lel”, numa referência a uma das principais avenidas da capital da Catalunha, conhecida até à segunda metade do século passado pelos seus teatros e clubes noturnos.
“Não sei como ele chegou a essa relação tão direta da drag queen com a girafa, mas ao mesmo tempo não posso dizer que não a entenda”, explica o encenador, relevando a “elegância e o porte” em comum. No fundo, “a girafa é um animal muito vistoso”, mas também misterioso, porque “não tendo cordas vocais, não comunica por sons, mas por uma espécie de infrassons.”
Esse aparente emudecimento da girafa estabelece uma correspondência com as personagens da peça. Para Rodrigues, “o que elas fazem é recorrer ao subtexto, aos subentendidos ou aos contrários [das suas vontades] para comunicarem umas com as outras.”

Se, na aparência, Girafas se parece resumir a um drama familiar passado no final dos anos de 1950, em plena ditadura franquista, num bairro popular de Barcelona (o Raval), o autor parece inspirar-se nesse mecanismo silencioso das girafas para construir uma peça fascinante e complexa onde, como nota Rodrigues, se desenvolvem “duas dinâmicas” que lhe interessaram particularmente.
Por um lado, há um mecanismo que se assemelha ao das “memórias que se esboroam”, com “as cenas contaminando-se umas às outras e tornando as passagens algo difusas”, roçando mesmo “a alucinação”. Por outro, está sempre presente nas personagens “a necessidade de evasão de uma realidade opressiva. É a ditadura de Franco, que pode ser transportada para o salazarismo, ou sabe-se lá para o que mais aí venha.”

Cada uma das personagens procura, precisamente, evadir-se através de algo que deseja arduamente. Contudo, a força e o poder da realidade vai condicionar sempre esse desejo, levando a que, no final da peça, fiquemos com a sensação de que todas elas mudaram profundamente desde o início. E perderam dentro de si, ou em si, qualquer coisa.
Isso leva Rodrigues a considerar Girafas “uma peça sobre desaparecimentos”, porque é isso que as ditaduras fazem aos seres humanos. “Mesmo quando as pessoas não desaparecem fisicamente, há sempre qualquer coisa nelas a desaparecer”, observa o encenador.
Ela, eles e a Bru
O espetáculo começa ao som de um jingle. Em cena, um vendedor (Vicente Wallenstein) anuncia a uma mulher (Eduarda Arriaga) as vantagens de ter uma máquina de levar roupa, nomeadamente, uma Bru: “com uma Bru em casa, estará de bom humor sete dias por semana”, proclama.
A mulher passa a sonhar com aquele eletrodoméstico que lhe poderá poupar 18 horas de trabalho doméstico por semana. É isso que transmite ao marido (Pedro Caeiro), um carpinteiro que garante o sustento da casa, mas que a dureza do trabalho e o ciúme tendem a transformar num homem cada vez mais sombrio. No entanto, enquanto sonham com a criança que não conseguem ter e ele delineia projetos a dois, ela também sonha com a Bru. Afinal, o vendedor garante andar por ai a “prosperidade económica”…

No modesto apartamento do casal vive ainda o irmão dela (Gonçalo Norton), um jovem mudo que passa as horas a olhar o céu sobre a cidade à espera de um qualquer sinal galáctico, e um hóspede (João Vicente) que vive uma vida dupla como drag queen no clube La Polvera. Se o irmão procura no mistério do infinito um sinal da mãe que perdeu, o hóspede sonha com a lotaria e com a evasão para Paris, a cidade prometida onde poderá, por fim, ser quem verdadeiramente é.
São estas personagens e as suas existências, tão banais quanto complexas, que durante pouco mais de hora e meia vemos desfilar em Girafas, espetáculo em cena no Teatro da Politécnica até final de março. A trilogia de Pau Miró prossegue em abril, com a estreia, a 11, de Leões, numa encenação de António Simão, e conclui-se em setembro com Búfalos, peça encenada por Pedro Carraca. Se tudo correr bem, ou seja, os Artistas Unidos garantirem, por fim, um espaço para continuar a apresentar-se ao público, a Trilogia subirá ao palco, na íntegra, por alturas do outono.
De onde vem a sua ligação ao fado?
Quando era pequena estava sempre a cantar. Cantava músicas do Festival da Canção e outras. O meu avô cantava-me folclore, e acho que isso também me influenciou. Um dia, uma amiga da minha mãe – que era sobrinha do António Melo Correia – ouviu-me e disse que eu devia cantar fado. Tinha uns 11 anos. Então, ela levou-me uns discos de fado e comecei a ouvir. Quando fiz 12 anos, foi a minha mãe que me levou a uma casa de fados no meu aniversário para ir ouvir a Ana Moura. E pronto, nunca mais parei.
E a sua mãe reagiu bem?
No início não, achava estranho. Dizia-me: “porque é que uma criança de 11 anos vem da escola, faz os trabalhos e depois vai ouvir fados? Isto é tão esquisito. Vai fazer outra coisa”. E eu só queria ouvir fados…
Também surgiu, desde muito cedo, vontade de escrever…
Sim, já em pequenina gostava de escrever em verso e a rimar. Reencontrei alguns textos da primária, e já nessa altura os fazia em verso. Todos com métricas meio confusas, mas escrevia muito a rimar, mais até do que em prosa. Quando comecei a cantar, comecei também a ter vontade de escrever os meus textos. Mas sempre com vergonha, não assumia que os escrevia. Até que um dia, o Pedro Castro [dono da Mesa de Frades] pediu-me para lhe mostrar as minhas quadras. Incentivou-me a cantá-las e comecei a escrever assim.
Existe uma ideia generalizada de que, para se ser fadista, é preciso ter alguma experiência de vida. É o exemplo perfeito de que isso não é verdade…
Quando comecei a cantar, havia muito poucas crianças nas casas de fado. Muita gente não gostava de me ouvir porque eu era uma miúda, e ainda hoje isso acontece. Por vezes ainda me perguntam o que é que tenho para dizer. A verdade é que vamos crescendo e vamos vivendo. E o fado é sobre a vida e qualquer pessoa vive, não é? Independentemente da idade que tenha. Claro que, se eu cantar uma história de amor aos 12 anos, não vou perceber bem o que estou a dizer. E se aos 16 tiver um desgosto amoroso vou achar que o mundo vai acabar. E depois com 20, vou olhar para trás e dizer “que parvoíce, claro que a vida continua”. E agora, com quase 28, olho para trás e vejo que, aos 20 anos, também não sabia nada. Portanto, acho que isto também faz parte dessa construção.
Como é que caracteriza o seu fado?
Venho de uma escola muito tradicional e ainda faço parte das casas de fado, o que torna o meu percurso mais tradicional. No entanto, à medida que vou gravando os meus discos e vou conhecendo outros compositores, sinto que me vou desviando um bocadinho daquilo que é o fado tradicional. Quem gosta de fado, mas não está bem por dentro do assunto, ouve os meus discos e diz que é fado de princípio ao fim. Mas, para o público fadista, aquilo que faço – mais até neste último disco – já é um bocadinho desviado. Trago toda a jovialidade que tenho, não sou uma pessoa pesada nem depressiva, canto coisas que me aliviam, mas também canto coisas mais densas, mais introspetivas. Porque o fado é sobre a vida, e a vida tem estes dois lados. Não estamos sempre bem, nem estamos sempre tristes. Acho que tem de haver um equilíbrio em qualquer estilo musical. O fado é tendencialmente mais melancólico e mais dramático, mas também precisa de ter um bocadinho do outro lado.
Sente-se mais exposta numa casa de fados ou no palco de uma sala de concertos?
Num palco. Sei que isto parece contraditório, mas se perguntarmos a um fadista que começou pelos palcos e só mais tarde passou a atuar em casas de fados, a resposta será ao contrário da minha, porque dizem que nas casas de fados as pessoas estão muito perto. Para mim isso é maravilhoso. Quando estou num palco, as pessoas estão longe, não consigo lê-las, perceber o que estão a sentir. Numa casa de fados estou colada às pessoas, sei se estão a gostar ou não, enquanto o palco é muito mais impessoal. Cresci nas casas de fados, foi ali que aprendi tudo. É ali que faço as minhas experiências e se não correr bem no dia a seguir vou fazer melhor. Num palco, não sei quando voltarei a ter a oportunidade de fazer melhor…
Sente que tem muita coisa para dizer?
Não gosto de estar parada e gosto mesmo de cantar. Sou tão feliz a cantar e a fazer discos, que espero que as outras pessoas também sejam felizes a ouvi-los. É nesse sentido que trabalho. Este disco acaba por não ser tanto escrito por mim (embora metade dele o seja), há convites a outros compositores, que é algo que sempre quis fazer: cantar outras pessoas minhas contemporâneas. Este disco nasceu desta vontade de trazer outras pessoas para a minha ilha musical. Sinto que tenho de estar sempre a fazer qualquer coisa. Há sempre esta necessidade de cantar e de produzir.

O novo disco chama-se Para Dançar e Chorar. Isto quer dizer que há músicas para todos os estados de espírito?
Quero que as pessoas se sintam confortáveis para chorar e para desabafar a alma, mas que também estejam à vontade para dançar e para se identificarem com momentos de euforia. Este nome também é uma justificação para eu poder cantar folclore, que é uma coisa que adoro, e que há muito tempo faz parte do repertório dos fados. Foi um excelente pretexto para o fazer.
Quis passar alguma mensagem específica?
Tenho andado a fugir um bocadinho de uma temática que é muito comum nas minhas canções mais antigas, que são as histórias de amor. É importante falar de amor, mas acho interessante usar a música para falar de outras questões que são relevantes para mim e que me inquietam. Tenho dois temas neste disco que falam sobre isso. Um é sobre o Alzheimer (inspirado num livro do Afonso Cruz, em que uma das personagens tem demência). Esta é uma das doenças que mais me assusta porque há uma perda de identidade gigantesca. O que é que nós somos sem memória? Será que existimos sem ela? Outro dos temas fala sobre o medo, que não é preciso ter medo de ter medo. O lado amoroso da minha vida está tão estável que não sinto motivação para escrever sobre isso. Acho que os compositores vivem dos dramas para conseguirem compor, e quando não há um drama evidente, preocupamo-nos com o resto. E isso eu acho interessante: não falar só de amor porque é uma tendência, mas falar sobre outras coisas.
Em relação aos compositores que convidou para este álbum, já tinha trabalhado com algum?
Conhecia a Maro porque ela foi à Mesa de Frades ouvir-me e um dia convidou-me para cantar com ela no CCB, para fazer a vez da Silvia Pérez-Cruz numa canção. A Beatriz Pessoa conheço também há algum tempo, das minhas incursões pelo jazz. O Jorge Cruz não conhecia pessoalmente, foi um pedido arrojado que lhe fiz porque adoro as composições dele. O Francisco Guimarães é um grande amigo que se está a revelar na escrita para o fado, e que desafiei a escrever uma letra. A Milhanas vai muito aos fados, portanto criámos uma relação muito próxima. Não nasceu nos fados, mas tem alma fadista. O Mário Laginha é uma referência desde pequena, está num pedestal. Então, desafiei-o com uma letra muito especial para mim e ficou um tema muito bonito. A Rita Dias fez uma letra muito bem-disposta para dançar e que aborda temas fraturantes do dia-a-dia.
É muito disciplinada a trabalhar?
Sim, estou sempre a pensar em coisas, sempre a compor. Agora um bocadinho menos porque a pressão de pôr um disco cá fora me rouba um bocadinho a criatividade. Há nervosismo e ansiedade. É muita energia focada numa coisa. Mas há pessoas a pedirem-me letras e eu tenho que entregar trabalho com quem me comprometo. Há muita gente nos fados que começou a convidar-me para escrever…
E é mais difícil compor para si própria ou para os outros?
Para os outros é horrível [risos]. A Cristina Branco convidou-me para escrever para o último disco dela. Entreguei-lhe três letras, sendo que uma delas eu já tinha escrito, ela leu e identificou-se. Foi um desafio porque estou sempre a pesar as palavras que vou usar e a pensar “será que ela quer dizer isto? Será que gosta desta palavra? Será que a estou a expor?” Então é uma confusão na minha cabeça. Mas faço um grande trabalho de pesquisa. Sou um bocado stalker, vejo o que as pessoas põem no Instagram, as descrições das fotografias… Converso muito com elas, faço muitas perguntas. Sou um bocado chata porque gostava que fizessem o mesmo comigo. Quando me entregam alguma coisa gosto de olhar e rever-me, por isso tento fazer isso com outras pessoas. Escrever para mim é muito mais simples porque sei o que estou disposta a dizer e como é que quero falar das coisas.
Segue uma linha tradicional no fado. Isso pode ser impedimento para um dia gravar um disco com uma sonoridade totalmente diferente?
Penso que não, porque acima de tudo sou intérprete. Quando somos apaixonados por música é fácil derrapar para outros caminhos e para outros estilos musicais, fazer parcerias com outros artistas. Mas há uma coisa sempre que me assusta: que um dia me digam que desvirtuei o fado. Acredito mesmo no fado como ele é. Não acho que seja necessário fundi-lo com outros instrumentos ou estilos musicais. O fado vive da forma como nasceu e como foi feito. Acho que o que inova são as letras que colocamos nos fados tradicionais. E essa é a magia: pegar numa melodia que tem 60 anos e cantar uma música que foi escrita hoje, usar melodias e estilos musicais antigos e torná-los atuais através das palavras. Na minha ótica, a palavra é a coisa mais forte que a música tem. É o que manda na música, mais do que a melodia. Canto fados tradicionais neste disco, mas há uma viagem para outro mundo. Tenho noção que as pessoas vão ouvir e vão dizer que isto é fado. E eu vou ter de responder continuamente “não é, são canções tocadas por um trio de fado, que eu escolhi cantar assim”. A estrutura não respeita, não encaixa no fado, mas não vejo problema nisso. É assim que me apetece fazer agora. Porém, quando canto fado é fado.
Como é lidar com a crítica?
É muito difícil. Não porque me ache intocável, mas desde muito pequena que tenho essa dificuldade. O nosso trabalho é uma coisa muito pessoal e quando o pomos cá fora é com muito carinho, por isso uma crítica custa sempre, mas temos de saber aceitar. Aliás, tive uma aprendizagem nos fados muito dura, muito rígida: comecei muito nova numa ‘escola’ em que não há grande pudor em dizer aquilo que se pensa e em que ainda há muito pouco elogio. Neste meio, acredita-se que o elogio pode deslumbrar o artista, portanto quando nos enaltecem acaba por ter mais valor. É difícil, mas também faz parte do crescimento e é essencial.
Dia 26 apresenta o disco novo no Maria Matos. O que está a preparar?
Vamos começar agora a preparar o palco e a pensar no que vai acontecer. É uma apresentação de novo disco, por isso quero que seja uma coisa especial e que consiga ter esta dualidade: para dançar e para chorar. Quero que isso seja bem marcado, para que as pessoas consigam sentir este contraste.
Em todas as faixas etárias, encontramos artistas a partilhar a experiência transformadora que viveram a partir do momento em que começaram a fazer teatro, o encantamento que sentem ao viver outras vidas (nem que seja por breves minutos), ou até o lado terapêutico de abraçar uma arte que, a par da música ou da prática desportiva, forjou muito do espírito associativo dos lisboetas.
No mês em que se celebra mais um Dia Mundial do Teatro (27 de março), homenageamos os amadores que levam esta coisa de fazer teatro muito a sério, dando palco a seis grupos sediados em várias zonas da cidade.
“Como fazemos tudo por carolice, aqui nunca há lugar para desânimos”
Teatro Contra-Senso
Av. François Mitterrand. Lote 737, Loja B. Bairro do Armador
Vão ser meses frenéticos aqueles que se aproximam. Para além da digressão do espetáculo de poesia encenada Estação-Poema, em coprodução com o Teatro Independente de Loures, o Teatro Contra-Senso prepara uma evocação do 25 de Abril, para integrar o programa celebrativo da freguesia (estreia marcada para 11 de abril, na Biblioteca de Marvila); e desenvolve, com a atriz Ana Palma, um projeto com repercussão internacional, que irá, provavelmente, ao Líbano ainda este ano.
Para o grupo, de momento, o maior constrangimento é mesmo a impossibilidade de uso da sede, desde que uma inundação inviabilizou o espaço e remeteu “os ensaios para o online”. Mas, “como fazemos tudo por carolice, aqui nunca há lugar para desânimos”.
Esta história de amor pelo teatro começou “por 1994, na [Escola Secundária] D. Diniz, “com as peças de Gil Vicente”, recorda Marina Subtil, aluna da escola e, a par de Vanessa Filipe, a mais antiga atriz do grupo. “Nos primeiros tempos, o projeto era tão acarinhado pela direção da escola que era lá que ensaiávamos”, sublinham ao lembrar que o grupo foi fundado por um conjunto de “jovens de 17, 18 anos”, destacando-se Miguel Mestre, que viria a ser autor de muitas das peças encenadas. 25 Anos depois de, oficialmente, o grupo ter passado a chamar-se Teatro Contra-Senso, “o núcleo ativo conta com cerca de 15 pessoas”.
“Chegámos a ser entre 20 a 25, sendo normal, ano após ano, novas entradas e saídas, até porque as pessoas mudam de vida e algumas delas saem mesmo da cidade”, constata Sónia Castro, atriz que assume também a responsabilidade pela comunicação do Contra-Senso, e que não deixa de apontar que um dos problemas do teatro amador numa cidade como Lisboa, com “tanta oferta cultural, é a adesão do público, comparativamente ao que se passa noutras localidades do país. Aí, os grupos de teatro amador são conhecidos por todos, e as salas enchem para ver os seus espetáculos.”
“Quando subimos ao palco, todos ganhamos uma alma nova”
teatroàparte
ART – Associação de Residentes de Telheiras (Rua Prof. Mário Chicó, 5)
Tudo começou há 25 anos, quando uma jovem residente em Telheiras, ligada ao teatro universitário, se dirigiu à ART (Associação de Residentes de Telheiras) propondo realizar um workshop de expressão dramática. Susana Graça Oliveira recebeu resposta positiva e, quando à sua volta se reuniram pouco mais do que meia dúzia de formandos, estava muito longe de prever que, aquilo “que seria para durar dois meses, haveria de se prolongar até hoje.”
Quem nos conta esta história é Mariana Sousa, o membro mais antigo do teatroàparte – “depois de termos sido Teatro dell’ART e Pó de Palco, registámos a marca para evitar confusões” – e responsável pela produção. “O entusiasmo das pessoas” desde 1997, “quando o resultado do workshop foi apresentado no antigo lagar de Telheiras [Quinta de São Vicente]”, fez como que o grupo se desenvolvesse e atraísse para o dirigir profissionais do teatro, como os atores Fernando Ascensão, Pedro Carmo e Jorge Parente, os encenadores Bruno Bravo e Gonçalo Amorim, ou o atual presidente do conselho de administração do Teatro Nacional D. Maria II, Rui Catarino. “Normalmente, um encenador está connosco entre três e cinco anos. Quando sai, recomenda o próximo.”
Desde 2021, é Eurico Lopes quem está ao leme do teatroàparte e, depois de encenar uma peça de Alejandro Casona e uma adaptação de Ensaio Sobre a Cegueira de José Saramago, prepara para maio a estreia de MHL [título provisório], espetáculo a partir da vida e obra do surrealista Mário Henrique Leiria.
Mas, o que move este grupo, hoje constituído por 19 elementos que se reúnem, todas as segundas-feiras à noite, no Centro Comunitário? Mariana Sousa não tem dúvidas: “é o gosto pelo teatro, é o convívio, é o apelo de estar em cena. Quando subimos ao palco, todos ganhamos uma alma nova.”
“Trabalhar as nossas próprias histórias pode tornar-se muito libertador”
Grupo de Teatro Playback da ILGA
ilga-portugal.pt
No âmbito de um projeto europeu, encabeçado em Portugal pelo ISPA (Instituto Superior de Psicologia Aplicada), que “procurou dar palco a comunidades em contexto de menor visibilidade e trabalhar a temática dos direitos humanos”, a ILGA Portugal (Intervenção Lésbica, Gay, Bissexual, Trans e Intersexo) foi desafiada a associar-se, promovendo nesse sentido um grupo de teatro playback. O sucesso da iniciativa foi tal que “o grupo continua para lá do projeto”, sendo neste momento o sucessor natural do grupo de teatro que a associação dinamizava desde 2013.
Atualmente, como explica Emídio Dias, cerca “de 20 pessoas, entre os 19 e os 46 anos, compõe este grupo de uma grande diversidade de género, de raças e até de línguas”, que todas as quartas-feiras, na Biblioteca Palácio Galveias, encontram “um espaço de partilha e de escuta empática, um espaço seguro onde se é acolhido sem o preconceito nem a discriminação a que muitas vezes algumas se é sujeito no dia-a-dia.”
Vindo “do psicodrama e da psicoterapia”, o teatro playback pode ser entendido como uma vertente do teatro improvisado que utiliza as narrativas pessoais do público como base para as representações dramáticas. Ou seja, “o público que vem ver uma performance de teatro playback não pode, de todo, esperar ser um ator passivo”. No seio deste grupo de teatro, o performer é também o membro da audiência, e assim “partilham-se e reproduzem-se as histórias contadas por cada um. E, trabalhar as nossas próprias histórias pode tornar-se mesmo muito libertador”, conta Emídio.
Talvez por isso, para os membros da comunidade LGBTQIA+ que integram este grupo de teatro, “isto é um bocadinho como casa”. Mas, o Grupo de Teatro Playback da ILGA é também, “para muitos de nós, um lugar de reivindicação e de ativismo social e político.”
“Abdicamos de tudo às segundas à noite e vimos ensaiar”
Teatro das Nações
jf-parquedasnacoes.pt
O auditório do edifício do IPDJ na Rua de Moscavide foi pequeno para o sucesso de A Birra do Morto, de Vicente Sanches, peça levada a cena recentemente pelo Teatro das Nações. O grupo de teatro amador fundado em 2016 pela então recém-criada Junta de Freguesia do Parque das Nações (JFPN) continua a somar êxitos, e a procura é tanta para o integrar que, como conta Teresa Cabral, “nas recentes audições tivemos um número largamente superior de candidatos para as vagas disponíveis”.
Neste momento, “16 atores” trabalham com a encenadora Catarina Vargas num espetáculo alusivo aos 50 anos do 25 de Abril que estreará no próximo mês de junho. “Estamos a fazer investigação com os atores, a organizar um conjunto de atividade paralelas, como uma ida ao Museu do Aljube, para preparar o espetáculo”. A encenadora procura com isso proporcionar “uma peça imersiva destinada a um espaço não convencional, que permita ao público estar junto dos atores”. Aliás, eles vão ser determinantes no processo de pesquisa, já que a peça procurará “trabalhar a visão que cada um tem da liberdade e da importância da data, isto num grupo que vai dos 27 aos 70 anos.”
Entretanto, paralelemente ao Teatro das Nações, a JFPN tomou a iniciativa de formar um grupo de teatro infantil e outro juvenil. “Hoje, temos aqui famílias inteiras a fazer teatro”, garante Teresa Cabral, sublinhando que as pessoas que integram o Teatro das Nações “vivem ou trabalham na freguesia, e têm em comum esse bichinho”. Como conta Júlia, uma das atrizes mais antigas, “abdicamos do tempo que temos para nós e para a família todas as segundas-feiras à noite, e vimos ensaiar”. Ou não fosse “o teatro a paixão comum neste grupo solidário e amigo.”
“Fomos sempre uma escola para futuros profissionais”
Teatro de Carnide
Azinhaga das Freiras, 33
Entre o passado glorioso no teatro amador e a evolução para uma estrutura profissionalizada que não abdica do legado “de fazer mesmo aquilo que quer”, compreende-se uma história centenária. As origens do atual Teatro de Carnide (TC) remontam à fundação da Sociedade Dramática em 1913, mas será 50 anos depois que um grupo liderado por Bento Martins inicia um novo ciclo, surgindo o Grupo de Teatro de Carnide.
“Na altura não existia a oferta cultural que temos hoje, cabendo às múltiplas coletividades existentes na cidade dar essa resposta”, lembra a presidente da associação TC, Teresa Martins. Já em democracia, o TC atinge o auge com arrojadas encenações de autores portugueses, como Bernardo Santareno ou Luís de Sttau Monteiro, e estrangeiros.
“Entre a década de 80 e a de 90, o grupo de teatro participava em festivais internacionais e acumulava prémios”, tendo sido premiado no então Festival de Teatro Amador da Câmara de Lisboa por cinco vezes, e considerado, em 1999, o melhor grupo amador do país pelo Instituto Português das Artes e Espetáculos. “Houve uma altura que deixámos de ir aos concursos porque os outros grupos diziam que ganhávamos sempre”, recorda a atriz profissional Mónica Garcês, que no TC deu os primeiros passos, e se prepara agora para integrar o elenco de Cicatrizes, peça escrita e encenada por Claudio Hochman, naquele que será um dos projetos artísticos a ser levado à cena este ano. Na verdade, o TC é hoje uma estrutura profissional que não deixou de ser palco de inúmeros amadores. “Há quem diga que fomos sempre uma escola para futuros profissionais”, sublinha Teresa Martins evocando atores como João Ricardo ou Maria João Falcão.
A braços com a indefinição sobre a futura sede (projeto vencedor do Orçamento Participativo municipal em 2017), o TC continua a distinguir-se junto da comunidade pelo trabalho desenvolvido na área da formação e por ser a associação que anualmente organiza a Marcha Popular de Carnide.
“Este é um projeto transformador na vida das pessoas”
Companhia da Chaminé
companhiadachamine.com
“Há mais de 17 anos que andamos nisto”, exclama com notória alegria a atriz amadora Teresa Costa Félix, durante uma pausa no ensaio de A Birra do Morto, peça que o grupo sénior da Companhia da Chaminé prepara para apresentar, no Centro Cultural Franciscano, no início do próximo mês de junho. Esta publicitária reformada está na génese daquilo que é hoje o projeto fundado e liderado pela atriz Mariana Amaral. “Conheço a Mariana desde miúda e, quando soube que ela dava aulas de teatro a crianças, desafiei-a a fazê-lo com pessoas da minha idade. Ela concordou, eu juntei mais umas pessoas, e tudo começou numas casinhas do Pátio do Paiol [em Campo de Ourique]”, recorda.
Paralelamente ao seu trabalho de atriz, Mariana descobria que este era o início de “um projeto transformador na vida das pessoas”. Com o grupo a solidificar-se passou a complementar o trabalho de formação com a encenação. “Começámos a apresentar-nos regularmente na [Sociedade] Guilherme Cossoul comigo a encenar. Fizemos Sophia de Mello Breyner, André Brun, Steven Berkoff e outros. Até chegámos a ir ao Porto com As Ligações Perigosas [peça de Christopher Hampton]. Era só vontade, nada de budget!”.
Quando em 2016 instala um estúdio em casa, Mariana agrega todos os seus projetos “de formação de pessoas dos três aos 100 anos de idade” sob a denominação de Companhia da Chaminé, devido a uma grande chaminé existente no pátio traseiro. A partir daqui, rodeia-se “dos melhores profissionais, como Claudio Hochman ou Pedro Carmo”. Por perceber “a alegria e o alento” que o teatro transmite a tantos jovens e menos “jovens”, Mariana não se cansa de afirmar “como cada ator amador que está na Companhia torna cada um dos nossos dias sagrado.”
Gostaríamos que começasse por nos falar do ciclo Corpos Políticos de que é curadora, referindo a sua importância e os objetivos da programação a apresentar.
Este ciclo cria um lugar de reflexão, de pensar as artes performativas e a deficiência, e nesse sentido os corpos que se estabelecem enquanto sujeitos políticos por não serem aceites em qualquer tipo de ambiente social. O ciclo corresponde a um desejo de dar acesso a informação, a conferências em torno da questão de como a pessoa com deficiência é observada, principalmente no contexto artístico. Inclui performances, conferências, debates, espetáculos, workshops, e tem ainda o intuito de homenagear estes corpos conscientes de que têm uma durabilidade diferente, e uma existência que é constantemente contestada.
Em que contextos conheceu os artistas nacionais e internacionais que integram o programa deste ciclo?
Eu também trabalho em investigação no campo da historiografia dos corpos não normativos, quer nacional quer internacional. Cruzei-me com alguns destes artistas no European Access, uma plataforma internacional de artistas com deficiência, através da qual o British Council proporciona encontros. Com outros trabalhei em Portugal, como por exemplo a Joana Gomes. E ainda outros chegam por parte da minha investigação, como é o caso do Tito Rajarshi, um escritor. Na verdade existe uma espécie de comunidade, de comunhão entre semelhantes, porque as nossas lutas são comuns independentemente do país onde estamos.
O seu trabalho de ativismo e sensibilização para o maior acesso dos corpos não normativos em todas as situações da vida, desenrolando-se num espaço cultural de referência para as vanguardas, corre de alguma forma o risco de falar para um público já alertado para este tema?
Acho que nunca estamos muito alertados ou suficientemente alertados. Nós continuamos a ter as mesmas discussões que tínhamos há dez anos. Existe um lugar empático mais comum e as coisas estão mais simples. Mas é um lugar que continua a precisar de ser discutido. Continuo a ter de justificar a minha existência constantemente. Estou aqui a dar uma entrevista, a seguir vou apanhar um Uber e, quando digo que sou bailarina, perguntam-me se eu danço na junta de freguesia. Não somos vistos como iguais. A forma como as pessoas com deficiência são observadas neste país ainda vem ou de um lugar de condescendência, de paternalismo, ou de inspiração, de superação. Não somos vistos como iguais. Acredito que não corremos o risco de falar para pessoas já sensibilizadas, porque quando convido o Lennard J. Davis, ele traz uma abordagem filosófica sobre o modo como as pessoas são observadas, em torno do the gaze da Rosemarie Garland-Thomson. Isto vem da filosofia e não é algo que seja óbvio. Estamos a trazer conceitos que são ainda novos em Portugal. Quando o Tito [Rajarshi Mukhopadhyay] escreve o livro Plankton Dreams estabelece uma relação sarcástica e um estudo de base de dados em torno da escola das necessidades especiais. Ele diz “tornei-me filósofo a partir das minhas próprias humilhações”. São lugares de reflexão que por norma não estão garantidos.

Enquanto espectadora de artes performativas procura ver espetáculos que não se situem exclusivamente no campo das disability arts?
Sim, vejo muita coisa, às vezes vejo até demasiadas coisas. Muito daquilo a que assisto não vem da relação da arte com a deficiência, porque não nos esqueçamos que muitas vezes os artistas com deficiência não têm acesso a um ensino académico como tem um artista normativo. O seu trabalho não tem o mesmo nível de recursos financeiros ou em termos conceptuais. Eu também trabalho com artistas que não têm qualquer tipo de deficiência.
Concebe vir um dia a criar um espetáculo que não tenha o seu corpo como objeto principal de estudo, e que possa vir a apresentar apenas bailarinos com corpos normativos?
Eu trabalho com bailarinos normativos. Criar uma peça só com bailarinos normativos é uma coisa muito fácil de fazer. São corpos muito treinados; são corpos que estão numa fábrica da hierarquia do corpo performativo. Mas, isso teria de corresponder a um convite, tipo “a Diana Niepce vai coreografar para a Companhia Nacional de Bailado”. Agora eu enquanto criadora num projeto meu, interesso-me por corpos diversos, e não um corpo que está treinado segundo uma estética já um bocadinho ultrapassada, no sentido de que os corpos não devem ser só vistos pelo que fazem em termos de execução física. As minhas peças não são sobre a capacidade física de execução do corpo. São sobre um outro lugar, que implica limites físicos e psicológicos. Interessa-me ainda trabalhar com artistas de circo ou da live art, que vão para um lugar diferente da performance. Com ou sem deficiência.
A questão do desejo ligada ao corpo e à sexualidade é algo que está presente nas suas criações? É importante para si sentir-se desejada? Ou dar a ver o seu corpo como um corpo que deseja?
As pessoas com deficiência nunca são observadas como um lugar sexual, de desejo sexual. Se isso algum dia foi uma questão, não o é mais para mim. Mas o meu trabalho passa pela exposição do corpo como ele é, ou seja, a nudez é importante para mim. Não pela parte do desejo porque está ali inerente a partir do momento em que temos corpos nus, mas mais pela apresentação do corpo como ele é, com as suas falhas e valências, virtuosidades ou estranhezas. Também não uso cadeiras de rodas, próteses ou canadianas, no sentido em que não me interessam coisas que adestrem o corpo, que o obriguem a normatizar ou a criar eficiência. O meu trabalho vai no sentido de uma estética deleuziana do corpo que se expõe. Trabalho sobre fragilidade, sobre força, sobre potência, sobre intimidade.
Tem memórias ou toma nota dos seus sonhos? Usa esse material no seu processo de criação?
É uma pergunta curiosa porque sonho muito com coisas que aplico nas minhas peças. Já sou uma pessoa que sonha muito, e nos processos criativos ainda mais. Acordo com a memória do que sonhei. E o meu trabalho vem também de um lugar da intuição. Faço um grande trabalho de pesquisa e depois recorro a inputs de intuição.

A relação de amor e ódio com o seu corpo é algo ainda presente no dia-a-dia?
O meu corpo é o meu corpo. Quando me olho ao espelho é este o meu corpo. Um corpo que levo ao limite num lugar que nem sempre é muito generoso com ele. Estou numa fase em que a reflexão me diz que os artistas com deficiência têm um tempo diferente, mesmo de vida e de existência, de reconhecimento. Até onde é que o meu corpo vai aguentar o nível de pressão que lhe coloco? Neste semestre tenho três criações e muitas circulações. Mais o ciclo Corpos Políticos, de que já falámos. A juntar à necessidade de tentar mudar paradigmas do sistema, que me levam a que fique doente. O meu corpo não sendo normativo sofre já de fadiga crónica.
Que diferenças existem entre o sentido do risco a que sujeita o seu corpo atualmente e no passado antes do acidente, e os níveis de adrenalina potenciados por esses diferentes limites?
Eu trabalho sobre o risco. Mas sem perigo. Estou sempre consciente da fragilidade da condição dos corpos. Não só do meu, mas também dos meus intérpretes. Muitas das situações de risco em que me coloco, é porque não acho justo colocar ninguém para além de mim nesse conflito, nesse evento cénico. Trabalho com noções de não-gravidade, horizontalidade e verticalidade, de que forma os corpos se compõem no espaço, criando narrativas ficcionais em que se transcendem. O que verdadeiramente me interessa são lógicas de física. Trabalhá-las de uma forma que se torna quase mágica.
Que objetivos profissionais tem definidos para o resto do ano?
tenho, portanto, de 4 a 16 de março o ciclo dos Corpos Políticos, com apresentações minhas e de outros artistas – como o Dan Daw ou a Diana Anselmo -, mas depois terei a Utopia, que estreia no Teatro do Bairro Alto a 3 de abril; a minha nova criação, que é uma peça duracional de 4 horas; e tenho ainda uma peça com o Teatro Nacional Dona Maria II em julho, chamada Norma.
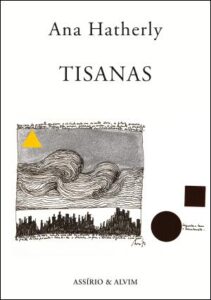
Ana Hatherly
Tisanas
A criação das Tisanas, iniciada em 1969, sempre foi considerada por Ana Hatherly (1929-2015) como um work in progress. Durante a sua vida, conheceram várias publicações, sendo um grande número de novos poemas acrescentados e redigidos ao longo dos anos. A estas pequenas narrativas, pertencentes à área do poema em prosa, Hatherly atribuiu o título de Tisanas porque considerava que eram infusões e não efusões. O termo infusões remete, como escreve Ana Marques Gastão no posfácio à presente edição, “para os quatro elementos que trespassam, de modo simbólico, a obra”, designando “um processo de imersão de folhas e raízes, sementes e plantas (terra) em água quente (fogo), que em contacto com o ar, gera vapor”. As narrativas, “muitas de tendência autobiográfica ou onírica, assentam numa forte erudição e no estudo de textos essenciais da cultura europeia e da sabedoria oriental nos domínios literário, filosófico, científico, artístico e espiritual. O estilo é de vanguarda (…) e fragmentário, e, não obstante partindo do real, sofre, por vezes, a influência da literatura e do cinema fantásticos, das ficções científica, do absurdo e do terror”. A recolha que agora se apresenta tem por base a última revista pela autora. Assírio e Alvim
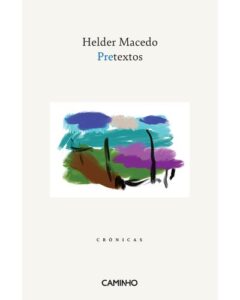
Helder Macedo
Pretextos
O presente volume reúne crónicas e textos afins escritos de 2006 a 2023 e, com uma exceção, publicados no Jornal de Letras. Sobre estes magníficos Pretextos, escreve Helder Macedo, poeta, romancista, ensaísta e professor catedrático jubilado da Universidade de Londres, King’s College, onde foi titular da Cátedra Camões até 2004: “o título (…) desde logo sugere que ao falar de uma coisa estou a falar de outras”. A maioria são pretextos para falar de escritores e de pintores e partilhar os seus interesses: literatura, teatro, ópera ou política. A inteligência, a vasta cultura, os invejáveis dons de observação e análise, a fina ironia e a clareza da escrita de Helder Macedo convertem a leitura destes textos numa experiência profundamente enriquecedora. A residir há várias décadas na Inglaterra, primeiro como “um português exilado em Londres” e agora como “um português que mora em Londres”, vejamos o que diz o autor sobre essa condição: “Continuarei a ser até ao fim um escritor que só pode ser português. (…) Prefiro imaginar o Portugal que recordo e escrever sobre ele, seja o da semana passada quando lá estive seja o que já não há e que talvez conheça melhor por não estar em Portugal, por notar melhor as diferenças e as semelhanças quando lá vou. Foi também assim que percebi que não há tal coisa como a identidade nacional, que só há pessoas e circunstâncias. Mudadas as circunstâncias, as pessoas também mudam. Os portugueses ficaram o povo mais belo do mundo logo a seguir ao 25 de Abril. E olha agora, excepto alguns sobreviventes, excepto algumas mulheres mais persistentes.” Caminho
Maya Angelou
Reúnam-se em Meu Nome
Maya Angelou, figura fundamental da cultura afro-americana e dos direitos civis nos EUA, incentivada pelo seu amigo, o escritor James Baldwin, publicou o seu primeiro volume autobiográfico, Sei Porque Canta o Pássaro na Gaiola, em 1969. A obra constitui um dos mais impressionantes documentos humanos do século XX, sobre a experiência de uma mulher negra vítima de dupla discriminação, de género e de raça. É também um exemplo notável de capacidade de superação face à adversidade. Este segundo de seis volumes da sua extensa e brilhante autobiografia decorre no pós-guerra. Maya, entre a adolescência e a idade adulta, sofre sucessivos fracassos amorosos, gere um bordel que não tem capacidade de manter, regressa ao Arkansas da infância que é forçada a abandonar, vê frustrada uma carreira no exército e outra nos palcos como bailarina, acabando por se envolver no submundo de San Francisco, “caminhando à beira do abismo”. Porém, com uma “dignidade luminosa” (James Baldwin), recusa a paciente filosofia do Sul negro: “Vai com calma, tens um longo caminho pela frente e é sempre a descer”. A jovem mãe e mulher negra procura a coragem para provar ao mundo que, apesar das agressões da vida, “eu era igual ao meu orgulho e maior do que as minhas pretensões.” Antígona
A Mais Frágil da Moradas
Poemas à Memória de Eduardo Lourenço
Eduardo Lourenço foi um dos mais importantes pensadores portugueses dos últimos 100 anos. A sua reflexão e diálogo permanente com a poesia e com os poetas foi um dos eixos que marcaram fortemente a sua obra. Segundo Jorge Maximiano e Nuno Júdice, responsáveis pela organização e edição do presente tributo, “a criação poética foi para ele, na esteira dos grandes pensadores e poetas como Höderlin, não só a arte suprema como também um espaço de liberdade na linguagem, uma vez que na sua perspectiva ‘só a palavra poética é libertação do mundo’”. Este volume, que celebra o seu centenário de nascimento, reúne poemas de Luís de Camões, Antero de Quental, Fernando Pinto do Amaral, Hélia Correia, Jorge Reis-Sá, Luís Quintais, Nuno Júdice ou Tatiana Faia. Vários destes poemas são dedicados a Eduardo Lourenço, caso de Ensaio 1, de António Carlos Cortez, composto após a intervenção do grande pensador num congresso dedicado a Carlos de Oliveira: “(…) Falou da dimensão trágica do homem / da humanidade feita livro/ do livro feito poema e do sentido / que a vida da poesia pode ter / se o canto ondeando torna vivo / o confronto com a esfinge até doer”. Guerra & Paz
Ana María Shua
Deuses e Heróis da Mitologia Grega
“Nos desenhos animados, nos filmes de aventuras, nas estatuas e nos edifícios, os mitos gregos e romanos estão presentes e saúdam-nos (ou perseguem-nos) todos os dias”, escreve Ana María Shua. Por tal razão, a autora, nascida em 1951, em Buenos Aires, sentiu uma grande vontade de ler e estudar esses mitos para os voltar a contar “à maneira do século XXI”. Este livro é o resultado da sua paixão pela mitologia greco-romana, pelos seus heróis e deuses, “mas também pelos seus monstros, com as sua múltiplas cabeças, o seu bafo de fogo, os seus cabelos de serpente”. Figuras que considera “estranhas e maravilhosas”, mas simultaneamente “familiares e próximas”. A obra estrutura-se em quatro partes: Assim começou o Universo; Histórias de Heróis e Heroínas (que inclui as aventuras de Perseu, Herácles, Jasão e Teseu); A Guerra de Troia; Os Deuses do Olimpo. De uma forma acessível, mas cuidada, resume os grandes mitos da Antiguidade, fábulas exemplares essenciais para a compreensão dos grandes acontecimentos históricos e de muita da literatura e arte contemporâneas. A edição de Deuses e Heróis da Mitologia Grega surge enriquecida pelas ilustrações de João Moreno. Fábula
Manuel Carvalho Coutinho
A Biblioteca, uma segunda casa
“Quem não lê, não quer saber; quem não quer saber, quer errar”, escreveu Padre António Vieira, o “Imperador da Língua Portuguesa” como lhe chamou Fernando Pessoa. Mas como ler sem poder de compra ou sem a possibilidade de acesso direto aos livros? Em Portugal, 303 bibliotecas municipais, integradas numa rede nacional criada em 1987, procuram cumprir o desígnio estatal de promoção da leitura junto de todos, das crianças aos idosos, de forma aberta e inclusiva. Este livro, de autoria de Manuel Carvalho Coutinho, investigador do Centro de Estudos de Comunicação e Cultura da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, retrata 21 destas bibliotecas fora da cidade de Lisboa, no continente e nas ilhas. Procura reproduzir a experiência de observação do seu funcionamento quotidiano e os testemunhos de bibliotecários, técnicos e leitores. Ao longo das viagens que fez no âmbito desta obra, o autor concluiu que “uma boa Biblioteca nunca existe verdadeiramente, pois há sempre novos desafios no horizonte e mais trabalho para desenvolver. (…) é um projecto em constante movimento e crescimento, dito de sucessos e insucessos, trabalho e dedicação. (…) As bibliotecas são sobretudo espaços feitos para nós e que existem para nós. O conhecimento e a cultura que lá se encontra espera-nos.” Fundação Francisco Manuel dos Santos
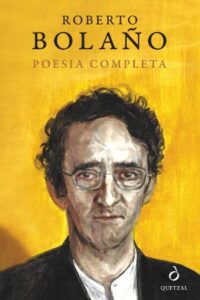
Roberto Bolaño
Poesia Completa
“Neste país de latifundiários, a literatura é uma extravagância e saber ler não é nenhum mérito”. Desta forma se referiu ao Chile, seu país de origem, o escritor Roberto Bolaño (1953-2003) no romance Nocturno Chileno. Romancista e poeta, impôs-se como um dos mais importantes autores latino-americanos do nosso tempo. Prisioneiro político do regime de Pinochet, refugiou-se no final dos anos 70 em Barcelona. Bolaño cultivava a poesia como uma forma de arte superior: “A poesia é mais corajosa do que ninguém”, escreveu. Para ele, poesia e prosa não eram duas, mas muitas coisas sempre em movimento associando registos completamente diferentes: poemas escritos em prosa, histórias em verso e outros fragmentos que dificilmente se podem catalogar num ou noutro campo. Muitos dos seus poemas são profundamente autobiográficos, repletos de poetas e artistas famintos, errantes, solitários, magoados, mergulhados na noite, à beira da penúria. Como nos três versos de A ética, tão representativos do autor: “Estranho amoroso mundo: suicídios e assassinatos/ não existe dama magnética, Gaspar, mas Medo/ e a velocidade necessária daquele que não que sobreviver.” Quetzal
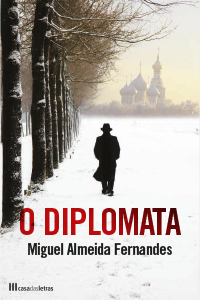
Miguel Almeida Fernandes
O Diplomata
Numa altura em que as guerras Rússia-Ucrânia e Israel-Palestina estão na ordem do dia, este romance de estreia do jornalista Miguel Almeida Fernandes (n. 1954) não podia ser mais atual, apesar do seu início remontar aos anos de 1960. Filho de uma família abastada, Diogo Meneses sempre ambicionou uma carreira diplomática, mas “debatia-se com uma grande contradição. Ser diplomata era ser funcionário público e servir um regime que detestava, colocava-lhe enormes problemas de consciência”. Com o 25 de Abril, a situação política em Portugal mudou e Diogo ingressa no Gabinete Estratégico do Ministério dos Negócios Estrangeiros, tendo acompanhado missões diplomáticas a países como a Jordânia, Moçambique, Hungria ou Rússia, onde vive intensamente o desmoronar do império soviético. A par da sua carreira, em muitos momentos marcada pelo perigo – Diogo chega mesmo a ser acusado de conspiração pelo KGB – e pelos habituais jogos de bastidores e trocas de favores entre países com interesses em comum, Meneses tenta manter uma relação amorosa com Helena, que conhece desde a faculdade, e que outrora sonhou ser professora, mas que atualmente é modelo em Roma. Quando os dois começam a falar em casamento e Helena pondera a carreira universitária, Diogo é nomeado embaixador e o futuro dos dois mantém-se incerto e em aberto. [Sara Simões] Casa das Letras
Há uma casa evidentemente burguesa e vários casais. O ambiente é de festa, mas depressa fica ensombrado pelo desenrolar de um jogo social (no caso, o das 20 questões). O álcool começa a incendiar os ânimos e o insulto ganha cada vez maior protagonismo. Sim, é Edward Albee puro e duro aquele que se encontra em A Senhora de Dubuque, peça estreada em 1980 na Broadway sem grande sucesso, mas que, nos últimos anos, tem merecido especial atenção, sobretudo no circuito off-Broadway e no West End londrino, destacando-se a produção dirigida por Anthony Page, em 2007, com Maggie Smith e Catherine McCormack.
Motivado pela vontade de voltar a trabalhar com Cucha Carvalheiro e Manuela Couto, atrizes com quem partilhou o palco durante vários anos na Comuna, Álvaro Correia descobriu em A Senhora de Dubuque “uma peça que parece ressoar de uma maneira mais forte, hoje, do que na época em que foi escrita”. E, atenção, Albee terá andado a escrevê-la “ao longo de uma década, desde finais dos anos 60 [do século XX], os anos da presidência de Nixon, passando entretanto pelo Watergate, que pôs em causa a confiança na democracia, e pelo fim da guerra do Vietname.”
O então presidente norte-americano Richard Nixon é mesmo uma espécie de assombração que perpassa toda a peça. Ele não só é referido ocasionalmente pelas personagens, como parece ser a presença oculta que propicia todo o clima de descrença e de tensão que se vive naquele microcosmos burguês do Connecticut, onde se desenrola a ação. “Julgo que toda a peça levanta a questão da perda da identidade – quem sou, como me defino -, funcionando como um espelho sobre os valores de uma América em decadência”, sublinha o encenador.
Como se não bastasse, e aqui fala-se de hoje, destes nossos dias, a misteriosa Elizabeth (Cucha Carvalheiro), “senhora de Dubuque”, é profética quando, lamentando o destino da América, “terra confusa” como diz, profere: “Um verdadeiro Nixon virá um dia (…)”.

Albee não chegou a ver a América de Trump, nem “este mundo de líderes fracos” em “tempos particularmente difíceis”, mas as suas obras pressentiram tudo isto. É a convicção de Álvaro Correia quando descortina neste “teatro de múltiplas camadas” um retrato do país mais poderoso do mundo – e “a maior democracia” – a partir da decadência das suas elites intelectuais. O declínio do Tio Sam através de “uma burguesia consumida pelo álcool, invariavelmente destrutiva e que se insulta sem piedade”. Como refere Correia, “esta peça é, a par de A Delicate Balance, aquela que em Albee nos oferece a melhor metáfora sobre o nosso declínio civilizacional.”
A melhor maneira de apresentar essa metáfora é através da morte, e A Senhora de Dubuque é uma peça sobre uma mulher a morrer, um marido que cuida e uma misteriosa personagem que surge, “quem sabe se do inferno”, para encaminhar a alma da mulher moribunda. Em volta, “instala-se o caos, a crueldade, a tensão permanente e a risibilidade.”

Estamos, portanto, numa casa de gente abastada, em meados dos anos 70 do século passado (a tradução de João Paulo Esteves da Silva, e consequentemente o espetáculo, mantêm o rigor do tempo). Jo (Manuela Couto) e Sam (Fernando Luís), os donos da casa, recebem dois casais de amigos: Fred (Renato Godinho) e a nova namorada, Carol (Benedita Pereira), e Edgar (Álvaro Correia) e Lucinda (Sandra Faleiro).
Com o avançar da noite, Jo começa a ridicularizar os convidados e o marido, e o final da festa emerge numa tensa animosidade entre os anfitriões e os convidados. Nessa altura, já se percebeu que Jo está gravemente doente, padecendo de um cancro terminal.
Quando todos se retiram, surgem na casa Elizabeth e o seu companheiro negro, Oscar (Alberto Magassela). Com Jo a repousar no quarto, Sam surpreende-se com aquela inesperada presença e interpela-os sobre o porquê de ali estarem. Elizabeth anuncia ser a mãe de Jo, mas Sam sabe muito bem que a também anunciada “senhora de Dubuque” não o é. Ela é um “anjo da morte, inspirada na figura de Hécate, deusa grega a quem se atribuiu ser senhora das encruzilhadas. E está ali para encaminhar Jo para a morte.”
Com cenografia e figurinos de Nuno Carinhas e desenho de luz de Manuel Abrantes, A Senhora de Dubuque estreia a 29 de fevereiro na Sala Carmen Dolores do Teatro da Trindade INATEL.
A ideia desta exposição, produzida em parceria com a família do artista, “é homenagear SAM (1924-1993), um autor que foi muito importante e muito conhecido nas décadas de 1970, 80 e inícios dos anos 90, mas que, depois, foi completamente esquecido, até pela internet, que é uma coisa muito estranha hoje em dia”, revela Tiago Guerreiro, comissário da mostra.
Dividida em duas partes – a primeira fica patente até dia 24 de março e a segunda de 26 de março a 19 de maio – a exposição permite apreciar o humor que transborda da obra de SAM, humor esse muitas vezes subtil, outras absurdo, muitas vezes social e outras até existencial.

Na primeira parte, a mostra reúne cerca de 40 cartoons reimpressos, feitos entre 1973 e 1992, e publicados em diferentes periódicos ou álbuns, que abordam temas como o pré e o pós-25 de Abril, problemas sociais, jogos de palavras e personagens marcantes da sua obra, bem como algumas estatuetas com representações de Margueritte e do Guarda Ricardo, personagem que nasce em 1971 no Notícias da Amadora. Ali, também se podem ver quatro Filmezinhos do Sam, uma série de pequenos filmes concebidos pelo artista que passaram em horário nobre no Canal 1 da RTP no final da década de 80.
“Na segunda parte da exposição, vão substituir-se todos os prints e livros por cerca de 40 desenhos originais, e estes Filmezinhos por outros filmes – alguns deles inéditos -, que integram a coleção particular do artista, e que, neste momento, pertence à família do SAM”, avança Tiago Guerreiro.
Mas, o humor e sátira de SAM não se ficaram pelos cartoons e desenhos. Eles também encontraram expressão nas artes plásticas, através da criação de objetos absurdos, tais como funis, cadeiras, torneiras ou enxadas que se metamorfoseiam e ganham novos significados.

Recorde-se que, pensando nas décadas cinzentas do Estado Novo, o historiador José-Augusto França considerou que SAM introduziu “uma dimensão nova na arte portuguesa [nos anos 70]: o Humor”. Já o realizador António-Pedro Vasconcelos disse outrora que, falar de humor nos anos 70 do século XX, “era falar de Herman, de Miguel Esteves Cardoso e de SAM”.
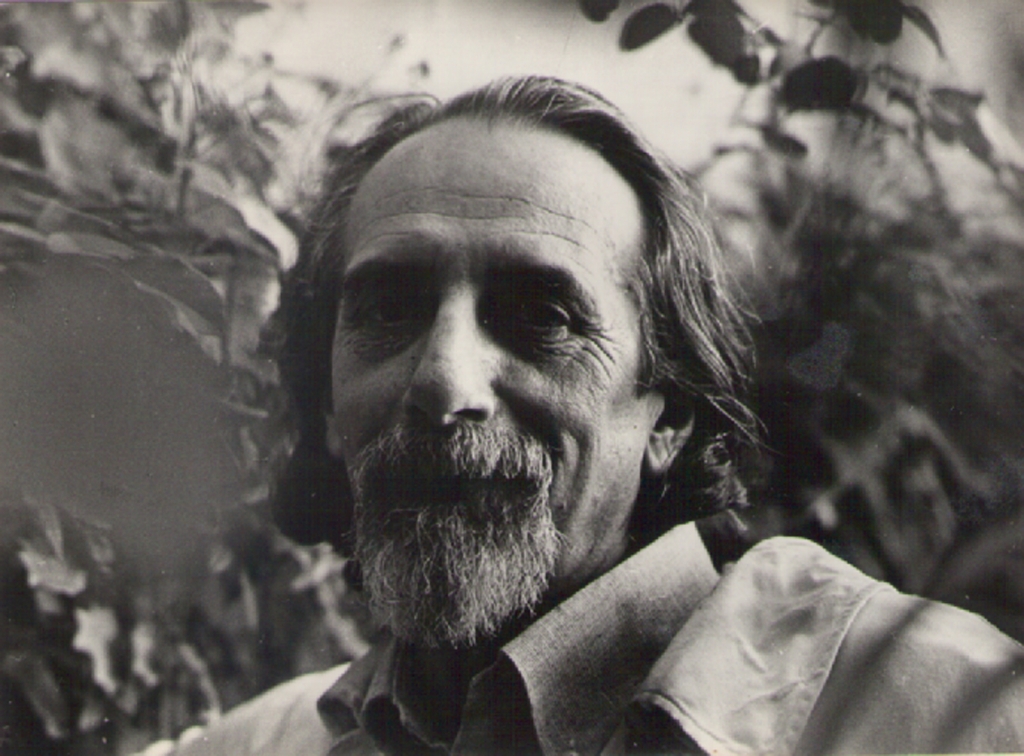
Falecido em 1993, o artista deixou um legado de seis mil cartoons (uma vasta coleção já que publicava quase semanalmente em jornais como o Expresso, Diário de Notícias, A Capital, Público e Jornal Novo), um milhar de objetos artísticos e dezenas de livros.
Afinal, ainda há canções de amor como havia antigamente, ao contrário do que cantava Rui Veloso num tema de grande sucesso de 1995. E, para o provar, o Festival Montepio Às Vezes o Amor propõe-se celebrar o Dia dos Namorados com concertos que prometem espalhar o amor por 15 cidades, entre os dias 14 e 17 de fevereiro.
No ano passado, o festival apresentou, pela primeira vez, um conceito único, As Canções de Amor. Foi Jorge Palma o músico e compositor que aceitou o desafio de cantar as músicas de amor que marcaram a sua vida. Em 2024, será, precisamente, Rui Veloso a pensar num alinhamento único para o espetáculo que sobe ao palco do Sagres Campo Pequeno a 17 de fevereiro.

“Estou a preparar um repertório um pouco diferente. Vou cantar algumas das canções que costumo cantar, mas focar o alinhamento em canções ligadas ao amor e ao desamor. Porque, afinal, o que seria um sem o outro”, avança o artista. Para este concerto, o músico contará com uma convidada especial: “A Maro, de quem gosto muito, vai subir ao palco comigo. Ainda não escolhemos o que vamos cantar, mas, provavelmente, cantaremos uma canção dela e duas minhas.”
Para Luís Pardelha, da Produtores Associados, a principal ambição do evento é “construir um festival que consiga ir a mais sítios e ser realmente nacional, ir a cidades que nunca fomos e continuar a encher salas por lá”. “Esta descentralização é, também, uma forma de serviço público, de levar a cultura a cidades que, muitas vezes, ficam fora do programa ou das agendas de alguns artistas”, acrescenta.
Ana Bacalhau, Buba Espinho, Carolina de Deus e Ivandro estreiam-se nesta 10.ª edição, com concertos em Castelo Branco (dia 14), Lagoa (dias 14 e 15), Leiria (dia 14) e Braga (dia 14), respetivamente. Ainda no Dia dos Namorados, David Fonseca atua em Sintra, os GNR em Santa Maria da Feira, Jorge Palma em Aveiro, The Gift em Setúbal e Rui Veloso no Porto. A 16 de fevereiro, João Pedro Pais vai a Vila do Conde e, a 17, Gisela João e Justin Stanton apresentam-se nas Caldas da Rainha, os GNR sobem ao palco em Amarante, Jorge Palma no Peso da Régua, Raquel Tavares em Torras Novas e João Pedro Pais volta a tocar em Vila do Conde.
“Tenho nove anos. Até agora, tenho sido um menino-modelo”, lamenta o pequeno Victor, criança “terrivelmente inteligente” que, nas palavras do encenador João Pedro Mamede, está prestes a insurgir-se contra “o conformismo da sociedade que o rodeia”. O filho dos Paumelle, casal pequeno-burguês do início do século XX (a peça situa-se na noite precisa do dia 12 de setembro de 1909, em Paris), toma a decisão de se tornar um “homenzinho” e com isso cumprir o seu desejo insaciável de liberdade.
Para isso, Victor decide expor os alicerces corrompidos em que assenta o seu meio social, a partir dos pecados domésticos. Durante o jantar de aniversário, denuncia o pai adúltero e a comiseração materna, os falsos heroísmos e uma certa cultura de salão baseada em aparências. E ainda estabelece com Ester, a criança “amiga”, uma perversa e libidinosa relação.
A decisão de “matar a infância” significa o confronto de Victor, à procura de se emancipar em todas as dimensões humanas (incluindo a sexual), com o mundo conformista dos adultos. O conflito acaba por traduzir-se, contudo, na imersão num universo delirante e completamente inesperado.

Exercício surrealista, peça precursora do teatro do absurdo, Victor ou as crianças no poder tem a assustadora aparência de uma comédia, mas depressa se percebe que as tensões entre as personagens conduzem à tragédia. Adultério, hipocrisia, covardia, incesto, mentiras ocultadas por detrás dos mais nobres ideais são os ingredientes colocados pelo autor numa panela de pressão prestes a explodir. E, efetivamente, isso acaba por acontecer, mas com o perturbador prazer da transgressão que o autor cozinha numa agridoce perversidade.
Aquela que é a mais conhecida peça de Roger Vitrac (1899-1952), nome incontornável do movimento Dada e do surrealismo francês, chegou pela primeira vez aos palcos em 1928, dirigida por Antonin Artaud no Teatro Alfred Jarry, que ambos fundaram. Escrita entre os mais graves conflitos bélicos do século passado, a peça tem, precisamente, esse “eco da guerra”, que interessou a João Pedro Mamede quando decidiu escolher uma peça para assinalar a primeira década de percurso de Os Possessos, a companhia que fundou, em 2013, com Catarina Rôlo Salgueiro e Nuno Gonçalo Rodrigues.

Para além disso, Victor ou as crianças no poder tem “a melancolia” que faz com que se possa descortinar “o recorte necessário relativo à nossa contemporaneidade”, sublinha Mamede. Aqui, perante todo este absurdo, está o espelho de uma certa alienação e futilidade, reconhecível nestes tempos em que vivemos, “não entre guerras como o de Vitrac, mas no meio delas.”
Em coprodução com os Artistas Unidos, Victor ou as crianças no poder conta com interpretações de Henrique Gil, André Pardal, Ana Amaral, Catarina Rôlo Salgueiro, Isabel Costa, Rafael Gomes, Mia Tomé, Inês Reis, Leonardo Garibaldi, Leonor Buescu e a participação especial de António Simão. Em cena no Teatro da Politécnica até 24 de fevereiro.
paginations here