Dir-se-ia que Rupert e Alex teriam tudo para nunca resultar como casal. Ela é rebelde, ou como assume a própria Sara Barradas que lhe dá corpo e alma no espetáculo, “ela é disrupção”. Da incontinência verbal ao gosto pelas pequenas transgressões, Alex tem em Rupert o mais perfeito oposto: ele é a ordem, gosta de números (tanto que até é contabilista) e de ter as coisas nos sítios certos, jamais lhe passando pela cabeça ir contra as regras da sociedade e da família.
Como o amor não se explica, os opostos atraem-se com tamanha paixão que depressa estão a viver juntos e a discutir a cor com que vão pintar o quarto do bebé que esperam. E se será menino ou menina, e que nome lhe vão dar.
Chegado o grande momento, a felicidade contagiante dos emergentes papás é irremediavelmente assombrada pela perda. O bebé nasce morto e o caminho que se segue é profundamente doloroso, com Alex mergulhada na voragem da perda e a roçar a loucura, e Rupert a empreender um luto silencioso e paciente face a toda uma vida que se desmorona.

Se acreditares muito (no original, Anything Is Possible If You Think About It Hard Enough), peça da atriz e dramaturga britânica Cordelia O’Neill, é uma tragicomédia romântica distinguida em 2022 nos Offies (os prémios para as produções Off West End), que conquistou o encenador Flávio Gil, tanto do ponto de vista profissional como do pessoal.
“Foi das melhores peças recentes que li. É um texto cheio de camadas, que conforme fomos trabalhando íamos descobrindo, e que mesmo usando uma linguagem mais contemporânea é de uma enorme riqueza”, salienta o encenador. Por outro lado, o drama vivido por Alex e Rupert não é completamente estranho a Gil. “Pelos meus 10 anos, a minha mãe perdeu a Patrícia, filha que teve uma passagem muito breve pela vida, cerca de um mês e meio. De certo modo, ao encenar esta peça estou a fazer alguma catarse e a honrar a memória da Patrícia que está sempre comigo.”

Caracterizada por um ritmo vertiginoso e uma grande intensidade emocional, Se acreditares muito é um desafio para os atores. “A peça passa-se na cabeça de um pai que não chegou a sê-lo, com as memórias a sobreporem-se e a atropelarem-se umas às outras. Isso dá um ritmo frenético à peça, nomeadamente ao nível das emoções que os atores vivem e nos fazem viver ao longo de perto de hora e meia”, explica o encenador.
De certo modo, isto “é um exercício de resistência para dois atores”, sendo que o principal desafio “é levar todas essas emoções vividas para além do exercício” e fazer um espetáculo de teatro capaz de mexer com todo o tipo de emoções de uma plateia.
Sara Barradas julga mesmo ser “impossível não gostar da peça porque, de uma forma ou de outra, ela é capaz de nos tocar, independentemente de sermos alguém que perdeu um filho ou de sermos pais ou mães”. Diogo Martins acompanha a sua parceira em palco: “mesmo não sendo pai, tenho os meus sobrinhos, e a peça faz-nos lidar com a dor da perda e pensar naqueles de que tanto gostamos.”
Radiante por ter juntado “a equipa certa” para retirar do texto todas as potencialidades (destaque para o cenário modular, e nada realista, de Eurico Lopes), Flávio Gil confessa ainda a felicidade de ter contado, 20 anos depois de se terem conhecido nas filmagens de uma telenovela da TVI, com “dois dos melhores atores da nossa geração, a Sara e o Diogo”. E eles justificam plenamente a escolha, revelando uma cumplicidade pungente para dar vida a Alex e Rupert.
Quando Sílvia Real recorda o processo de criação, junto com Sérgio Pelágio, de Casio Tone, as memórias atravessam um oceano. “Em 1997 as nossas referências eram os hotéis-cápsula do Japão, o espaço em que nós os dois vivemos em Nova Iorque, essa experiência de seis meses em que estivemos a conceber este espetáculo, e habitávamos um espaço minúsculo. Foi a experiência de como nos adaptar a esse espaço, como perceber o que é essencial, que deu origem ao cenário da peça.”
A dupla tinha partido para os Estados Unidos, já com a encomenda do festival Danças na Cidade, dirigido à época por Mónica Lapa e Mark Deputter, na bagagem. E foi também naquela cidade norte-americana que Sílvia veio a observar o modelo humano que inspirou um ser muito particular, a Senhora Domicília.
“A personagem foi construída na observação de uma colega que estudava comigo em Nova Iorque, no Lee Strasberg Institute. Ela não gostava dos sons, não gostava dos cheiros, fugia do toque das pessoas, juntava uma série de fobias numa cidade como Nova Iorque, e escrevi imenso sobre ela, sobre quem seria esta pessoa.”
A peça estreou em Frankfurt. Depois veio para o Danças na Cidade, dando lugar a mais de 200 apresentações. Em 2003 surgiu um segundo capítulo, Subtone, e uma década depois, a trilogia concluía-se com Tritone.
O cenário original fora guardado num armazém na província que, com o passar do tempo, urgia desimpedir do material mais antigo para arranjar espaço para o mais recente. “Há um conjunto enorme de trabalhos que fizemos após o Casio Tone e a trilogia de que faz parte, uns que resolvemos melhor, outros pior, que foram muito intensos para mim, e que são pouco reconhecidos. Aquilo correspondeu a um período, depois passámos a outra coisa. Evoluímos para outras coisas enquanto artistas.”
Mas, com a chegada da pandemia, Sílvia Real lembrou-se da insistência da então diretora artística do São Luiz, Aida Tavares, que sempre que recebia a proposta de um novo espetáculo, lhe perguntava pelo Casio Tone: “quando é que repões?”
“Na altura da pandemia, a questão da solidão que todos vivemos fez-nos pensar na Dona Domicilia, um bocado neurótica e muito só”. E acrescenta Sérgio Pelágio: “Desde 1997 que nos cruzamos com pessoas do público ou programadores, adultos que viram o Casio Tone em crianças e pediam para que fizéssemos o espetáculo outra vez. Essa ‘pressão’ sempre existiu.”

Faltava ainda uma coincidência, um sinal particular, para que Sílvia Real e Sérgio Pelágio partissem para a reposição de Casio Tone, quase três décadas decorridas da estreia, com a motivação certa. “Quando decidimos repor o Casio Tone, pensámos que, para pegar nisto tudo, era preciso qualquer outra coisa que nos animasse, que fosse um estímulo, e surgiu a ideia de fazer um livro em torno deste espetáculo e da trilogia. Algo que ficasse. Um objeto com uma relevância própria.”
Há cerca de ano e meio, Pedro Pinto, artista e investigador em Estudos Críticos sobre o Corpo e a Sexualidade, regressou a Portugal para estar presente na despedida a Gil Mendo [coreógrafo e professor, falecido em 2022], e na homenagem organizada pela Real Pelágio com outras estruturas, que teve lugar na Culturgest. “Perguntámos se ele gostaria de escrever sobre o Casio Tone”, o que veio a dar origem a uma pesquisa profunda ao arquivo, sobre tudo o que diz respeito à trilogia. O resultado é um trabalho totalmente original que corresponde a uma motivação genuína para escrever um livro.
Casio Tone: Domicília dos dois lados do espelho, obra que será lançada na Sala Bernardo Sassetti do Teatro São Luiz, a 17 maio pelas 21h30 (logo depois do regresso de Casio Tone Reprise), dá o ponto de vista de Pedro Pinto sobre a personagem da Senhora Domicília, e é produto de um trabalho exaustivo, pormenorizado e rigoroso, “à la Domicília. Ele viu o espetáculo cinco ou seis vezes em vídeo antes de escrever.”

Ao tomarem contacto com o livro, tanto Sílvia Real como Sérgio Pelágio partiram para esta reposição com uma força muito diferente. Explica Sérgio Real que “o livro inclui uma parte que é arquivo, que também é forte porque reúne todo o trabalho que o Carlos Bártolo, enquanto gráfico, fez durante anos. E o resto é unicamente o texto de uma pessoa que esteve um ano focada a pesquisar as nossas coisas. Olhamos para a peça a partir de agora também com o olhar do Pedro Pinto.”
Com sessões para escolas a 15 e 16 de maio, e para o público em geral entre 17 e 19 deste mês, a Senhora Domicília pode ser vista no lugar que foi sempre o dela: um minúsculo apartamento onde original e réplica se confundem. Onde se mostra virtualmente capaz de reproduzir qualquer movimento, qualquer intenção, sem nunca nos dizer quem realmente é. “Reflexos da vida moderna”, remata-se na sinopse desta reprise.
De onde vem o teu amor pelo fado?
Sempre ouvimos muita música portuguesa em casa, especialmente fado. O meu pai também cantava, mas mais por brincadeira. Desde pequenos, eu e o meu irmão fomos recebendo estas sementes. No meu caso, acho que isto foi terreno fértil para me apaixonar por este género musical. Comecei a cantar com 11 anos, e foi uma coisa muito natural.
Como se deu a tua entrada nas casas de fado?
Em pequena frequentava uma escola de fado, que se chama Claf, onde havia um senhor que desenvolvia um trabalho inacreditável com fadistas que estavam a começar, em que tirávamos tons e aprendíamos fados. Ao fim de semana, ele ia buscar-me, levava-me a casas de fado, fazíamos uma espécie de roteiro para eu beber um bocadinho dessa experiência das casas de fado. Desde aí passei a ter um contacto muito mais próximo.
Que tipo de experiência se adquire numa casa de fados que não se consegue ter numa sala de espetáculos?
É completamente diferente, basta o facto de estar todos os dias em contacto com pessoas que fazem parte da minha irmandade musical: com os músicos, com outros colegas fadistas, com os colegas mais velhos… O fado vive muito da transmissão oral, isso é basilar para desenvolver qualquer aprendizado desta linguagem. Além disso, a casa de fados é quase como se fosse a nossa igreja, se olharmos para o fado de uma forma espiritual. Portanto, há muito este culto, há muito esta respiração logo à partida. Quem vai já leva este ambiente consigo e nós tentamos entregar este ambiente também. Ali é the real deal, não há como enganar.
Apesar de já andares nestas andanças há muitos anos, só agora lançaste o teu primeiro disco, Sabe Deus. Porquê?
Para já porque este caminho discográfico, especialmente no mercado da música em Portugal, é um caminho com bastante escolhos. Portanto, não é uma coisa muito fácil de furar e de se conseguir concretizar. Depois, acho que só a partir de determinada altura – acreditando que as coisas acontecem na altura certa – comecei a ganhar maturidade e mais consciência do que queria fazer e das coisas que tinha para dizer. Acho que é muito por isto que o disco só é apresentado agora, sendo que levou quatro anos a ser feito. Foi um trabalho muito laboratorial, de muitas experiências, com a pandemia pelo meio também.
Como descreverias este disco?
O ponto de partida é sempre o fado. É sempre o fado que faz este convite a outros géneros musicais, a outras sonoridades, para dialogarem. Não é um disco de fados, enganar-te-ia se dissesse que sim, mas é um disco que tem muito fado, não há como isso não acontecer. A semente de pensamento é uma fadista, portanto, logo aí, o mote é esse. Não é um disco de fados, mas é um disco com muito fado. Acho que é assim que o posso descrever.
Como é que surge o nome do Tiago Pais Dias para a produção do disco?
Vi um trabalho do Tiago de homenagem à Amália e achei muito interessante a energia que ele imprimiu no projeto. Combinámos uma reunião e começámos a desenvolver este trabalho.
O primeiro single, Vai Dar Banho ao Cão, aborda o tema do assédio, algo muito frequente na vida das mulheres. Gostas de falar de assuntos com que as pessoas se identifiquem?
Não é propositado. Na verdade, o Vai Dar Banho ao Cão surge na sequência de um episódio que me aconteceu numa noite de santos populares, e que me serviu de inspiração para escrever a canção. Como é que é possível, em pleno século XXI, que 99% das mulheres continuem a passar por situações de assédio? Isto passou-se na noite de Santo António. Estava cheia de calor e tive de vestir o casaco como medida profilática para não ser assediada. Obviamente que isto interfere com a minha liberdade. Estive a sofrer imenso com calor para não ter de aturar parvoíces.
Qual a história por trás do segundo single, Cortar os Impulsos?
Essa canção nasce de uma fase menos bonita. Acredito que às vezes até os momentos de dor são bonitos, mas numa fase mais frágil, e a Cortar os Impulsos fala exatamente dessa superação. Embora não parecendo, é uma canção de esperança.

O fado obedece a uma série de regras muito fechadas, nomeadamente em relação à forma como os fadistas se apresentam. Sentes algum preconceito em relação a isso?
Em relação às regras musicais e às métricas que fazem parte da linguagem, quando nos predispomos a escrever um fado tradicional ou a compor uma estrutura de fado tradicional, acho que essas regras musicais devem ser respeitadas. No meu caso, o propósito não é fazer fado tradicional, portanto liberto-me um bocadinho disso. Em relação à forma como os fadistas se apresentam, sejam mulheres ou homens, é uma herança deixada pelo Estado Novo, que cristalizou muito esta forma de a mulher ter de usar vestido preto e longo, xaile, e de os homens usarem fato. Antes do Estado Novo os fadistas vestiam-se com muito mais cores, até porque era uma camada da sociedade muito depauperada, portanto, usavam-se cores muito mais vivas. Na verdade, não quero saber se dizem se estou vestida de amarelo ou azul. Acho que não é isso que é importante, isso não diz muito sobre aquilo que faço.
Mas sentes que hoje há mais liberdade?
Acho que há um esforço por parte dos fadistas de romperem essas regras.
Há pouco público português nas casas de fados?
Não vejo com maus olhos que haja uma camada grande de turistas a ir às casas de fado. Pelo contrário, acho muito bonito podermos partilhar a música que se faz aqui neste pedacinho do mundo. Acho maravilhosa a experiência de pessoas que não fazem ideia do que é que nós estamos a dizer, se emocionarem, chorarem, se arrepiarem. Acho muito bonito de acontecer. Mas acho também que nós, portugueses, por tendência, não apoiamos muito a cultura e a arte do nosso próprio país sem que seja feita uma pré-validação externa.
Isso pode ter a ver com os preços que se praticam nas casas de fados?
Acho que é falaciosa essa ideia, porque todos os portugueses podem ir beber um copo a uma casa de fados depois do jantar. Isto é livre de acontecer, e a verdade é que os portugueses gastam muito dinheiro em futebol, por exemplo, e não é posta esta questão mais mensurável quando se fala de uma ida ao futebol. Acho que é mesmo falta estrutural de educação cultural.
O que estás a preparar para o concerto no Maria Matos?
Este espetáculo está a ser pensado de uma forma diferente de todos os concertos que dei até hoje, mesmo que em outros concertos já tenha cantado temas do disco. Neste concerto vão entrar todos os temas que estão no disco. Vai contar com convidados especiais, que estou muito feliz por estarem lá. E estou um bocadinho ansiosa pela positiva que este concerto aconteça, porque acho que vai ser muito bonito.
O disco saiu há muito pouco tempo. Já estás a pensar no que vem a seguir?
Já estou em estúdio a trabalhar noutras coisas. Parar é morrer.
Este ano, o Open Conventos começa no dia 22, com uma apresentação a organizadores e parceiros, seguindo-se, a 23, uma conferência na Brotéria (a partir das 17h), o centro cultural dos jesuítas portugueses, e a exibição do filme O Grande Silêncio de Philip Gröning, sobre a vida monástica no mosteiro de Grande Chartreuse, casa-mãe da Ordem dos Cartuxos (Convento de São Pedro de Alcântara, às 20h30).
A 24 e 25 de maio, antigos e atuais conventos e mosteiros abrem as portas ao grande público que pode ainda, através do site quovadislisboa.com, partir numa rota livre à descoberta de uma verdadeira rede constituída por este património único de Lisboa. Com a preciosa ajuda da Quo Vadis Lisboa, propomos um breve olhar sobre cinco importantes casas religiosas da capital que poderá ficar a conhecer em detalhe nesta edição do Open Conventos.

Mosteiro do Santíssimo Sacramento
Calçada do Combro, 84
Este exemplar majestoso do barroco joanino é, atualmente, a Igreja Paroquial de Santa Catarina e a sede do Comando Distrital da GNR. Começou a ser erigido em 1647, tendo recebido os 30 primeiros religiosos da Ordem de São Paulo Primeiro Eremita, proveniente da Serra de Ossa no Alentejo, em 1649. Poucos anos depois começou a ser construída a igreja, sagrada como templo em dezembro de 1680 numa cerimónia onde terá estado presente o rei D. Pedro II.
O Terramoto de 1755 provocou profundos danos na igreja, tendo a abóbada de pedra colapsado. O novo teto da nave e da sacristia recebeu uma monumental decoração em estuque da autoria do mestre estucador suíço Giovanni Grossi, destacando-se ainda as telas de André Gonçalves (c.1685 -1762) – artista importantíssimo no acervo da Casa Professa de São Roque – e de Vieira Lusitano (1699-1783). Em 1835, torna-se a Igreja Paroquial de Santa Catarina.
Para além dos tesouros expostos na sacristia, um painel de azulejos de inícios do século XVIII, representando episódios da vida de São Paulo Ermita, é um dos muitos atrativos para a visita.

Casa Professa de São Roque
Largo Trindade Coelho
Destinada a proteger a população de Lisboa da peste, D. Manuel manda vir de Veneza uma relíquia de São Roque. Para a acolher, é erigida, em 1506, uma ermida que, anos depois, doada aos jesuítas, dá origem à Casa Professa da ordem e à Igreja de São Roque, a partir da segunda metade do século XVI, sede da Companhia de Jesus.
Dentro do templo, o interior maneirista e barroco combina os melhores mármores, talha dourada, pintura, escultura e azulejaria, destacando-se a capela de São João Baptista, encomendada por D. João V a arquitetos romanos, construída em Roma e enviada para Lisboa em 1742. Quatro anos após o grande terramoto, que não terá danificado estruturalmente o edifício, o Marquês de Pombal promulga a “Lei dada para a proscrição, desnaturalização e expulsão dos regulares da Companhia de Jesus”. A Igreja, a Casa Professa e todo o riquíssimo acervo acabam doados, em 1768, à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
Classificado como monumento nacional em 1910, para além do templo, o edifício alberga atualmente o Museu de São Roque e a sua notável (e imperdível) coleção de arte sacra portuguesa.

Mosteiro de São Vicente de Fora
Largo de São Vicente
O atual edifício, em estilo maneirista, da autoria de Filippo Terzi e Juan de Herrera, foi mandado construir, em 1582, por D. Filipe I de Portugal. A denominação “de fora” justifica-se por se encontrar fora da antiga Cerca Moura, uma vez que o mandante do primeiro templo foi D. Afonso Henriques, profundo devoto de São Vicente, em 1147.
Ocupado por cónegos da Ordem Regrante de Santo Agostinho, desde a sua fundação até 1834, data da extinção das ordens religiosas, o mosteiro guarda na memória a passagem de Santo António, já que foi aqui que viveu os seus primeiros tempos enquanto monge. Atualmente, o edifício sedia os serviços da cúria diocesana e é o local onde o Cardeal Patriarca de Lisboa governa a diocese.
Para além da cúria, serviços administrativos e Tribunal Patriarcal, São Vicente de Fora alberga também um museu que procura registar os momentos mais importantes da história e do legado do Patriarcado de Lisboa. Imperdível em qualquer visita, o maravilhoso órgão oitocentista, o monumental baldaquino sobre o altar-mor da autoria de Machado de Castro, e a vista panorâmica de Lisboa e do Tejo a partir do terraço.

Convento de São Domingos de Lisboa
Largo de São Domingos
Numa das praças mais cosmopolitas da cidade ergue-se a Igreja Paroquial de São Domingos, templo pertencente ao primeiro convento dominicano de Lisboa, fundado em 1241. Nos terrenos da cerca do complexo, na chamada Horta dos Frades, foi construído, a partir de 1492, o Hospital Real de Todos os Santos.
Fortemente abalado pelo Terramoto de 1755, o Convento de São Domingos haveria de ser radicalmente alterado pelo projeto de reconstrução da Baixa, nomeadamente com a construção dos dormitórios no grande bloco que delimita a praça do Rossio. Após a extinção das ordens religiosas, no século XIX, a zona do convento foi parcialmente demolida com a abertura da Rua de Dom Antão de Almada e a Travessa Nova de São Domingos.
Embora tenha sofrido um violento incêndio em 1959, que destruiu praticamente todo o interior e a cobertura, a atual Igreja de São Domingos destaca-se, sobretudo, pela herança simbólica, uma vez que dali saíram em procissão os condenados às fogueiras da Inquisição, mas também ali se celebraram alguns dos casamentos e batizados reais.

Mosteiro dos Jerónimos
Praça do Império
Classificado como património mundial da UNESCO em 1983, é incontornável não falar do grandioso mosteiro sem mencionar os dois portais manuelinos, as abóbadas das naves da igreja, o retábulo maneirista da capela-mor e o seu sacrário barroco em prata, ou o seu claustro com uma profusão de decorações minuciosas com elementos marítimos e exóticos. E, claro, os túmulos reais e os de Luís Vaz de Camões e de Vasco Gama.
Mandado erguer por decisão de D. Manuel em 1496 para os monges da Ordem de São Jerónimo, o melhor exemplar da arquitetura religiosa manuelina, sob o traço de Diogo Boitaca, João de Castilho e Nicolau de Chanterenne, sucedeu a uma pequena ermida dedicada a Santa Maria de Belém – aliás, a denominação da igreja atual é precisamente esta -, mandada construir alguns anos antes pelo Infante D. Henrique, junto à antiga praia de Belém.
Consta que demorou mais de 100 anos a construir, canalizando durante o período áureo dos Descobrimentos boa parte da chamada “Vintena da Pimenta”, ou seja, o equivalente a 70 quilogramas de ouro por ano.
ATELIER reúne cerca de quatro centenas de trabalhos que pertecem ao seu acervo pessoal…
Esta exposição chama-se Atelier porque a totalidade das obras que aí se poderão ver é proveniente, exclusivamente, dos meus fundos, do meu património, do meu atelier. Não há nenhuma obra que pertença a qualquer outro tipo de coleção. Trata-se de 50 anos de trabalho. Na verdade, em termos cronológicos são um bocadinho mais, vão desde o princípio dos anos 1970, quando eu tinha 15 anos, até anteontem, ou, se calhar, até daqui a duas semanas, porque ainda estou a fazer coisas para a exposição. Não consigo evitar. Portanto, de momento, terei provavelmente cerca de 400 obras, talvez um pouco mais. [até à data da publicação desta entrevista, o número de obras já ascendia às 1500]
Como é que um artista constitui um acervo pessoal? Quais são os critérios que presidem a essa seleção?
É muito intuitivo. Muitos artistas fazem as obras individualmente, fazem uma coisa, depois fazem outra, e outra e por aí fora. Quando trabalho, faço-o sempre por séries. Por exemplo, se decidir fazer jarras de flores, eu não faço uma, faço 20 ou 30. Depois, há umas que não resistem ao exame e que acabam por se transformar noutra coisa. Das que sobram, há algumas que me tocam de modo particular e, essas, guardo para mim. Aliás, há uma piada feita por alguns conhecedores que diz que eu guardo sempre o melhor para mim e que vendo o que acho que não é o melhor. Claro que tenho sempre que contradizer essa afirmação, dizendo que não faço nada que não seja bom. Mas há, efetivamente, entre as coisas que são boas, umas que me tocam mais. Portanto, não há um método, nenhum processo, nenhum sistema, não há parâmetros, há apenas uma relação interior, emocional e forte, que faz com que se escolha esta obra e não aquela.
A maior parte das obras apresentadas nunca foram expostas. Porque só agora resolveu mostrá-las?
Eu não sei se é a maioria, mas há muitas obras que nunca foram mostradas. Talvez porque gostasse tanto delas que nunca as deixei sair do atelier. Mas também há outras que foram exibidas em exposições dentro e fora de Portugal e que, contudo, continuam a ser parte do meu acervo. O que pretendo é mostrar trabalhos que tenham esses dois tipos de vivência ou de viagem. Essa proximidade confere uma riqueza particular às peças, que, se calhar, é mais palpável para mim, porque nem toda a gente sabe quais foram as que saíram ou as que nunca saíram, mas, ao olhar para elas, faço uma filigrana que me faz passear no meu tempo.
Há algum discurso interno nesta retrospetiva? Pretende mostrar, essencialmente, a diversidade do seu trabalho ou há um fio condutor que une esta grande quantidade de obras?
O fio condutor existe, há um e é só um, que sou eu. O artista plástico conhecido como Pedro Cabrita Reis é o fio condutor desta exposição retrospetiva sobre os seus 50 anos de carreira. E porque é que eu insisto nisto, que parece uma piada, uma ironia? Por uma razão muito simples: não há nenhuma arquitetura construtiva desta exposição enquanto projeto. Não há uma narrativa cronológica, não há convivências formais, não há proximidades históricas, não há alinhamentos disciplinares, ou seja, não há um pavilhão de pintura, outro de escultura e outro de desenho. Tal como não há um dos anos 1970 a 1975, 1975 a 1980… Estas obras vivem na sua disparidade de formas, de tempos, de dimensões, de disciplinas, vivem todas ao lado umas das outras, pavilhão após pavilhão, nos oito que constituem o terreno da minha exposição, numa área de cerca de 3.000 metros quadrados. Porquê? Porque interessa-me construir, junto das pessoas que visitam a exposição, esta sensação de quase labirinto, de um encantamento que permite a qualquer momento começar a ler, a reler, a abandonar a leitura e passar para outra parede. Portanto, não há ambições nenhumas de ordem pedagógica. Há apenas a ambição profunda de estabelecer um laço emocional fortíssimo e duradouro entre o visitante, seja ele de que idade for, e as obras.

O seu trabalho é muito heterogéneo e desenvolve-se em vários meios, como a pintura, a escultura, o desenho, a gravura, a fotografia, a instalação, entre outros. Ao fim de 50 anos de produção artística, quais podem ser consideradas as características predominantes e identificadoras do seu trabalho?
Se começássemos por falar num plano meramente intelectual, espiritual ou crítico, essa disparidade é baseada numa coisa muito importante: a curiosidade permanente em relação àquilo que me rodeia. Nada mais pregnante do que a ligação com aquilo que é inesperado da vida do dia-a-dia. Passear na rua e ver um pneu encostado a uma porta pode ser determinante para mais tarde se realizar uma obra fundamental. Mas, tal como esse pneu, também se podem ver as sombras projetadas de um vaso de flores da vizinha do primeiro andar, que nos transporta diretamente para uma pintura, um desenho, uma aguarela. E se, do outro lado da rua, aparecer um grupo de miúdos acabados de sair da escola, aos gritos, às gargalhadas, às risotas e a cantar, essa situação induz, com certeza, pensamentos que se podem, mais tarde, vir a transformar em obras. Isto no plano daquilo que são as causas da inspiração. Se formos para um terreno um pouco mais árido, mais formal, sou conhecido por ter sempre utilizado materiais que pertencem a universos afastados das artes plásticas. A construção, o ferro, os tijolos, a pedra, o cimento… Também sou conhecido pela tal curiosidade pela comunidade, pela sociedade, pela cidade que, diariamente, nos deixa à disposição milhões de obras de arte ainda não feitas, já implicadas em objetos e coisas que se vêem. Uma mesa que só tem três pernas, ou uma cadeira que de repente tem as costas partidas, ou um chapéu de chuva sem pano. Tudo isso constitui um universo também importante, um universo de pretextos e motivações, que me levou a fazer muitas esculturas com aquilo que se chama cientificamente “materiais encontrados”. Mas eu, na verdade, sou um pintor e sempre pintei. Desenho praticamente todos os dias desde que me lembro. E a pintura sempre teve uma presença particular e, nos últimos dois, três anos, essa presença dilatou-se. Pinto como nunca pintei, mais, maior e, porque não dizê-lo, melhor. E estou a gostar.
A prática do autorretrato, recorrente na sua obra, corresponde a uma necessidade constante de introspeção?
Se fosse introspeção… Eu olho-me nos meus autorretratos de uma forma distanciada. Olho para eles como olho para uma escultura feita com pneus. Aquilo que está ali representado parece-se com um tal Pedro Cabrita Reis, mas esse mesmo Pedro Cabrita Reis, que é autor dessa obra que se parece com ele, não encara aquilo como um autorretrato. Os autorretratos têm, historicamente, esta espécie deste peso mítico de serem momentos de introspeção emocional do artista que se autorretrata. E os comentários de ordem crítica ou historiográfica andam sempre todos em torno da mesma questão: “o olhar, o não olhar”, “ele pintou este autorretrato depois da morte da sua primeira filha” ou “pintou este autorretrato quando conseguiu fugir e foi viver para um sítio”… Isso são sempre perspetivas de aproximação de ordem psicológica ou emocional. Portanto, são sempre relativamente românticas. Eu gosto de desenhar corpos humanos, gosto de desenhar cabeças, e faço isso com muita intensidade desde sempre. E, já agora, o modelo mais fácil que eu tenho sou eu por uma razão muito simples: porque já sei que sou baixo, gordo, careca, tenho uns olhos muito grandes e má cara. Portanto, sabendo isso tudo de antemão, não tenho que estar a olhar para o modelo para fazer, já me sai naturalmente. Ou seja, os meus autorretratos, se tivessem alguma ambição de ordem psicológica, seria, por um lado, retratarem a minha maldade, ou, por outro, disfarçarem-na o melhor possível.
No seu entender, a que se deve o reconhecimento internacional da sua obra?
Ao meu trabalho, claro. Faço parte da primeira geração de artistas jovens a seguir ao 25 de Abril. Não havia nada para nós, a não ser um vazio enorme para preencher. E quando não se tem nada, isso tanto pode ser tremendo como maravilhoso. Tremendo porquê? Veja-se o caso dos espanhóis: qualquer jovem artista espanhol tem atrás dele Velázquez, Miró, Picasso, El Greco, por aí fora. Os portugueses não têm nada disso. Têm dois poetas, ou tinham. Um chamava-se Luís de Camões e o outro Fernando Pessoa. No domínio daquilo que se convencionou designar como artes plásticas, que agora mais modernamente é “artes visuais”, o terreno estava vazio. Tudo era possível construir, não havia referências. Construímos à nossa medida, desenhado com aquilo que queríamos, com todos os riscos que isso acarreta, imperfeições, perdas e ganhos, quedas e levantar de novo. Na década de 90, de repente, irromperam dezenas de artistas e foi realmente um momento de grande intensidade e alegria criativa. Pois bem, o país é pequeno e a economia é precária. Não estão criadas as condições para o aparecimento de estruturas que apoiam a prática dos artistas: galerias, comércio, colecionadores, instituições, museus, publicações… Não havia nada dessa infraestrutura. Então, desde os anos 60, há sucessivas vagas de emigrações. Os artistas precisavam, acima de tudo, de ar para respirar, coisa que não havia durante a ditadura. E referências, museus para ver. Para um artista, ver um museu é como ir à escola, é para aprender. Ir ver uma pintura de Ticiano ou de Matisse é como ir a um pequeno seminário organizado por si próprio, para si próprio. Porque o país tinha mudado a seguir ao 25 de Abril, a geração dos anos 80, à qual eu pertenço, ficou. Dos artistas conhecidos, nenhum saiu e ficou lá por fora. Nos anos 90, volta o fenómeno de sair do país. Não só para conseguir ter outras condições de trabalho, mas, acima de tudo, para conseguir aquilo que é mais importante para um artista, que é a visibilidade da sua obra. Isso representa ter acesso ao circuito de exposições, museus e galerias, onde o artista português expõe, ao lado de outros artistas, em museus reconhecidos internacionalmente como sérios e legitimadores de trabalho. Portanto, no meu caso, o que eu faço é viajar, conhecer pessoas que se interessam pelo meu trabalho. Depois, há uma grande dose de aleatoriedade. Às vezes, as coisas podem correr bem mas, na maior parte das vezes correm mal. No entanto, o somatório do correr bem e do não correr bem acaba por representar aquilo que é sair de Portugal sem nunca ter saído de Portugal.
Não se surpreenda se, a partir de quinta-feira pelas oito da noite, no Largo de São Domingos, deparar com um pequeno mercado. Trata-se não de um mercado convencional, como aquele que costuma instalar-se na vizinha Praça da Figueira, mas aquilo que Patrícia Portela considera ser um “mercado de ideias”. Ou, para fazer justiça ao título e ao ano em que se comemoram 50 anos do 25 de Abril, o Mercado das Madrugadas.
Cumprindo o desejo de assinalar estas cinco décadas de democracia com uma peça de teatro no espaço público, a autora e encenadora idealizou então um encontro livre com o público num mercado-performance onde se propõe fazer “uma ocupação da praça através do canto, da música, da dança e das ideias.”
Em cada banca, há artistas-feirantes a quem cabe convocar “as pessoas a pensarem os próximos 50 anos de Abril”. “Não é olhar para trás, mas para a frente, com a experiência e as histórias que já temos, e pensar como é que a partir daqui será possível fazer uma revolução adaptada à atualidade”, numa resposta a novos desafios, “como os ecológicos, os económicos e ideológicos”, sublinha Patrícia Portela.

Como ponto de partida na criação de Mercado das Madrugadas, a autora desafiou cada membro do elenco a recordar “um dia em que cada um tenha pensado que o mundo iria mudar para melhor”. O exercício proposto a um elenco composto por atores de três gerações só poderia ser profundamente inspirador para começar a erguer uma grande festa da liberdade.
“Temos uma geração que viveu o 25 de Abril, uma geração que nasceu no 25 de Abril e uma geração que tem agora 20 anos e que embora mais distante [da revolução] tem o futuro nas mãos”, nota a autora, reforçando a felicidade de “ver pessoas tão diferentes a juntarem-se e a partilhar uma ideia comum de mudança e vontade de tornar o mundo um lugar melhor.”
Lança-se então o desafio para, entre “um chá que lave a alma, um pudim das madrugadas ou umas bolacha da revolta com salicórnia“, ponha um cravo ao peito e venha discutir, pensar, dançar e festejar a liberdade de o poder fazer sem amarras numa das mais cosmopolitas praças da cidade. Patrícia Portela quer que, pelo menos ao longo dos próximos dias, o Largo de São Domingos seja um espaço de afetos e de histórias partilhadas, capaz de nos levar a pensar nas “revoluções que ainda temos de fazer nos próximos 50 anos.”
Mercado das Madrugadas é um espetáculo de acesso livre, com Ana Rocha, Beatriz Teodósio, Célia Fechas, David Costa, Diogo Dória, Elsa Bruxelas, Fred Botta, João Grosso, Miguel Abras, Miguel Baltazar, Mónica Coteriano, Sara Alexandra e Vânia Rovisco, e os coros Menor e Coro Câmara de Cascais, Relâmpago de Aveiro e Gemas d’Aveiro.
Estudaste Direito, depois jazz, até te tornares numa das mais relevantes vozes nacionais. A música aconteceu por acaso?
Sempre achei que a música ia estar presente na minha vida de uma forma mais informal. Em minha casa cantava-se música do Alentejo. Acho que aprendi a cantar antes de aprender a falar e aconteceu a mesma coisa com o meu filho, que também cantou antes de falar. Durante muito tempo olhava para a música como um hobbie que um dia, romanticamente, talvez pudesse tornar-se mais do que isso, mas nunca foi uma escolha assumida, até aos meus 19 anos.
Havia a preocupação de ter um “canudo” [expressão coloquial para referir diploma de um curso superior] noutra área?
Os meus pais sempre me deram muito apoio, mas naturalmente que isso era uma preocupação. Naquela fase, o “canudo” era muito importante, mas acho que agora as pessoas começam a valorizar outro tipo de experiências. Quando quis desistir de Direito, a minha mãe disse “mas não vais para o vazio, tens de ir estudar qualquer coisa”. Lembro-me de terem ficado preocupados, mas nunca me puseram essa pressão. Depois, quando acabei o curso, ficaram um bocadinho mais descansados.
A tua carreira musical iniciou-se no jazz, mas atualmente tens uma sonoridade mais pop. Em que altura do percurso percebeste que era este o teu som?
No fundo, a música que escrevia foi-me mostrando isso. Quando comecei a compor estava em Amesterdão, só convivia com músicos de jazz, estava a estudar esse estilo de música, mas obviamente que as minhas referências vinham da adolescência, de cantautores que ouvia, como a Sheryl Crow ou a Joni Mitchell. Quando comecei a estudar jazz, tinha a ideia de que era o que estava mais próximo, em termos de estudo, da música que queria fazer. Entretanto percebi que era todo um mundo. Acabou por ajudar-me muito ao dar-me ferramentas que ainda hoje utilizo para compor. No fundo, quando se aprende a improvisar – que é uma coisa muito do jazz – o que estamos a fazer é quase compor em tempo real, seguindo certas regras, conhecendo a harmonia, etc. Essa consciência veio quando percebi que estava a tratar canções que já eram pop, como se fossem canções de jazz. E, portanto, agora era preciso produzi-las (e fazer arranjos) enquanto canções pop. Não pensei “agora vou fazer pop”, pensei “esta música não é jazz, o que é que isto é?” E fui atrás disso. Acho que os rótulos podem ser um bocado perigosos e limitadores. Este disco tem claramente um lado A e um lado B: um lado mais pop e um lado mais sombrio.
Fazes parte dos Cassete Pirata, projeto que tem uma onda um bocadinho mais rock. É fácil passares do teu registo habitual para uma sonoridade mais rock?
O rock também foi sempre uma influência para mim. Aliás, este disco tem aqui um bocadinho de indie rock. Acho que o meu primeiro álbum, Avesso (2014), era uma grande mistura de sonoridades e, apesar de ter um lado mais jazzístico, também tinha um lado mais rock, mais sombrio. Depois fiz esta viagem à pop e percebi como conciliar o meu lado mais melancólico com música que me puxasse para cima. Percebi qual é o equilíbrio perfeito para uma canção ficar no ouvido, mas ao mesmo tempo não ser 100% feliz, porque a vida não é assim. A minha música tem feito essa viagem e não tem sido assim tão consciente. Sempre gostei de ouvir muitas coisas e sempre tentei compor sem pensar muito sobre o assunto. Só depois é que olho para o que compus e tento perceber qual foi o caminho que a música fez.

O novo disco chama-se Vergonha na Cara. O que é que quiseste transmitir com este trabalho?
Não foi consciente, mas acabei por perceber que havia uma linha condutora. Os meus discos são sempre, primeiramente, para mim, para eu resolver as coisas que tenho a resolver. Só depois é que começo a pensar que as pessoas vão ouvi-los. São sempre muito autobiográficos e refletem uma luta com os meus conflitos interiores. Um deles foi a superação da timidez, daí esta necessidade de regressar à adolescência – que é um período tão importante para a definição da nossa personalidade – e ter percebido que passei uma grande fase do meu crescimento sem ser muito vocal em relação ao que eram as minhas opiniões. Fui uma adolescente tímida, que ouvia as opiniões dos outros sem ter muita confiança na sua própria voz. Anos depois, olho para trás e percebo que essa característica não desapareceu totalmente. Daí a necessidade de perceber que já tenho idade para não ter vergonha daquilo que sou e do que quero ser. Esse foi o tema principal, mas abordo outros temas como a autenticidade nesta era digital. As redes sociais, por exemplo, são um excelente mecanismo para divulgarmos o nosso trabalho, mas também têm um lado de não sabermos o que é verdade e o que não é, da forma como se comunica e de como se ignora o sofrimento real dos outros porque se vive muito da aparência. Há uma canção sobre isso, a Alibi. Preocupa-me imenso o estado da nossa saúde mental, porque é humano gostar de validação e muitas vezes as redes sociais alimentam-se dessa necessidade.
Há aqui uma vontade de reconciliação com o passado?
Sim, sem dúvida nenhuma. De reconciliação e de reencontro. E eu sinto mesmo que me reencontrei muito neste disco.
E nesse processo terapêutico não tens receio de te expores demasiado?
Isso é uma coisa que também me preocupa, porque depois tenho de estar num palco a olhar para o público enquanto canto, mas ainda não houve nenhuma situação em que sentisse que fui longe demais. A vulnerabilidade é muito importante na arte, mas é um equilíbrio difícil. Estar demasiado vulnerável também vai impedir-me de expressar convenientemente e de passar as mensagens que quero. Tive uma professora em Amesterdão que dizia que o sofrimento é uma coisa que nos emociona e que cria empatia, cria ligação com o objeto artístico. Por outro lado, ninguém quer sofrer comigo no palco. Há aqui um ponto em que o sofrimento vai impedir a comunicação de funcionar (a não ser que sejas a Elis Regina e que estejas a cantar o Atrás da Porta). Por exemplo, a canção Nascer do Zero fala sobre o processo de transformação de alguém que chega a um palco e tem de ser mais do que aquilo que é no dia-a-dia. É um momento catártico que tem o seu lado de adrenalina, mas também pode ser aterrador, é um salto de fé. É como saltar e confiar que o paraquedas vai abrir.
Que compositora és hoje?
Sou mais segura e confio muito mais nos meus instintos. Uma coisa que este percurso me tem mostrado é que, sem as pessoas, sem uma equipa que trabalhe connosco, não somos ninguém. Tenho tido a sorte de trabalhar com pessoas absolutamente fantásticas, dos músicos aos produtores. Acho que tive alguma visão na escolha das pessoas para fazer este disco comigo. A começar pelo Tony (António Vasconcelos Dias), que foi o principal produtor do disco e que é também o diretor musical. É uma pessoa com quem estou muito alinhada, com quem é muito prazeroso trabalhar, que me desafiou imenso. Depois também trabalhei com o Ben Monteiro, que produziu o primeiro single e me devolveu a confiança na minha voz, que me puxou até ao limite em termos vocais. O artista tem constantemente de evoluir e é muito tentador, quando fazemos algo que achamos que funcionou, tentar repetir essa fórmula de sucesso. Obviamente que também me debato com isso. Sei que provavelmente nunca mais vou fazer uma canção como a Leva-me a Dançar. Andei à procura de canções na mesma onda, mas não dá para repetir, a canção tem de ser espontânea. Por outro lado, tinha saudades de poder falar mais abertamente da melancolia, mesmo que a música refletisse isso esteticamente. Acho que a artista que sou hoje acaba por ser uma fusão do lado que estava mais presente no três primeiros discos, um lado mais solar, e o outro, que dá mais espaço à voz, à emoção e à tristeza. Isso também faz parte de mim e era um lado que estava mais esquecido artisticamente. Estou muito orgulhosa deste disco, acho que encontrei até agora a minha expressão artística mais perfeita.
Quando escreves para outras pessoas também usas as mesmas referências autobiográficas ou tentas viajar até ao universo do outro?
Normalmente viajo até ao universo da pessoa. Por exemplo, no caso da Carminho, que foi das primeiras pessoas para quem compus, imaginei mesmo a voz dela a cantar. Escrevi a canção O Menino e a Cidade, e mais tarde apercebi-me que é uma imagem que li num livro de Chico Buarque, e a Carminho também tem essa ligação ao Brasil. Ela adorou a canção, mas pensei que estava só a ser simpática, até que a veio a gravar quase dois anos mais tarde. Quando a ouvi pensei que era exatamente assim que a tinha imaginado. Percebi que não podia escrever tudo para mim e que escrever para outras pessoas me ia dar a liberdade de poder canalizar outros estilos de música, dos quais também gosto, para outras pessoas. Tento conhecer a história da pessoa para não mandar uma canção muito ao lado, para que se possa identificar com a canção, mas acho que nesse processo acabamos sempre por ir buscar a nossa experiência e as nossas referências. É inevitável, há de ter sempre qualquer coisa de autobiográfico. Acho que a única exceção – que é uma canção que poderia ter sido eu a gravar, mas que acabei por dar a outra pessoa (que a interpretou incrivelmente, a Diana Castro) – foi a Ginger Ale. Era uma canção muito pessoal, que falava exatamente sobre aquilo que eu estava a viver quando a escrevi e com a qual, felizmente, ela também se identificava. De resto, das canções que escrevi para outras pessoas – com esta exceção – nunca senti que queria gravar nenhuma.
O disco sobe ao palco do B.leza este mês. Estás ansiosa por apresentá-lo ao vivo?
Estou com muita vontade de cantar estas canções ao vivo. Ainda para mais, o Tony vai tocar connosco e acho que o som da banda vai crescer com isso. Tenho sempre crianças a ver os meus concertos, porque algumas das canções são mais pop – apesar de eu não ter o intuito, quando componho, de o fazer para crianças – mas tenho algumas saudades de ver mais adultos nos meus concertos. Acho que este álbum tem mais essa dimensão, tem outra carga emocional.

Manuel Alegre
Memórias Minhas
Em reação à célebre frase de Octavio Paz, “Os grandes poetas não têm biografia, têm destino”, escreve Manuel Alegre: “É bonito, mas é uma treta. O destino, se é que há destino, está dentro da biografia. E dentro desta a escrita”. Daí este livro. Uma biografia concebida como “uma espécie de legitima defesa. Ou se conta o que nele está ou outros contarão outros contos em sentido inverso”. Contudo, Memórias Minhas é muito mais do que um relato individual. É, como testemunha Alberto Martins: “um deslumbrante caminhar por dias e lugares que se cruzam com tempos únicos da nossa história contemporânea. Uma vida – uma geração – a rebeldia, a resistência, a guerra, a cadeia, o exílio, a Voz da Liberdade, a festa dos verdes anos, amores e desamores. E ainda, (…) o luminoso 25 de Abril que mudou o destino (…)”. Uma belíssima evocação da vida de alguém que faz da escrita o que lhe dá “na real gana” e concebe a criação de um poema como “acto de resistência e libertação”. Uma obra que não olha apenas para o passado, mas que reflete sobre o presente: “Mais do que de economistas, este é um tempo que precisa de filósofos, poetas e profetas. Mesmo que a folha branca seja o deserto em que têm de pregar contra o ruído do mundo – em busca da música perdida.” LAE Dom Quixote
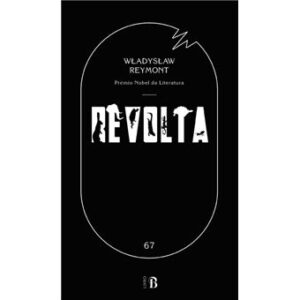
Wladyslaw Reymont
Revolta
“Uma obra que senti no meu coração que seria fundamental escrever apagou, de um momento para o outro, toda uma carreira”. Wladyslaw Reymont (1867-1925), um dos escritores polacos mais importantes do séc. XX, oriundo de uma família nobre empobrecida, desempenhou vários ofícios dentro e fora do país. O conhecimento da realidade do cidadão comum impeliu-o a escrever histórias sobre as dificuldades das classes baixas e a desumanização do capitalismo industrial. Quando recebe o Prémio Nobel de Literatura, em 1924, já Revolta, crítica da Revolução Bolchevique escrita dois anos antes, o tinha tornado persona non grata na Rússia. Os seus livros são proibidos durante décadas e a venda dos direitos de autor para o estrangeiro bloqueados. Revolta narra a insurreição liderada por Rex, cão maltratado, que junta os animais da quinta, e todos os que anseiam pela liberdade, num êxodo em direção à “Terra Prometida, onde não há humanos”. Face aos tormentos da viagem, cresce o saudosismo do cativeiro e da submissão aos antigos donos. Revolta foi escrita um quarto de século antes de Animal Farm de George Orwell, contudo, a vibrante evocação da natureza – ora luminosa e acolhedora, ora tenebrosa e hostil –, o fôlego narrativo, a riqueza e a complexidade emocional dos protagonistas, contribuem para situar a obra nos antípodas do reducionismo orwelliano. LAE E-Primatur

Bruno Amaral de Carvalho
A Guerra a Leste – 8 Meses no Donbass
“Quando a Rússia decidiu intervir na Ucrânia, já havia uma guerra civil a desenrolar-se desde 2014. Ninguém me contou. Eu estive lá.” As palavras são do jornalista português Bruno Amaral de Carvalho, que por três ocasiões – primeiro em 2018 e, por duas vezes, após a escalada do conflito, em 2022 e 2023 – foi testemunha in loco daquele que é, na opinião do major-general Carlos Branco no prefácio à obra, o “maior acontecimento geopolítico do pós-Guerra Fria, determinante nos termos da nova Ordem mundial que aí vem”. Ao longo de mais de duas centenas de páginas, o único repórter português a cobrir os acontecimentos do outro lado do conflito – isto é, junto das tropas russas, das milícias separatistas e das populações russófonas do Donbass –, cruza reportagem com crónica de guerra, oferecendo um contributo fundamental para uma perspetiva bem mais distendida dos acontecimentos do que aquela que tem sido comumente apresentada nos média. Também por essa razão, não imune à controvérsia, A Guerra a Leste vem preencher uma lacuna no panorama editorial português, até aqui profícuo em visões unívocas para um conflito demasiado complexo para simplificações espúrias. FB Caminho
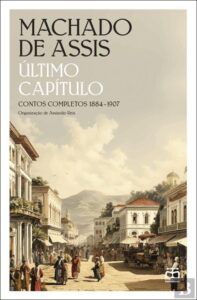
Machado de Assis
Último Capítulo
Na advertência a Várias Histórias, recolha de contos datada de 1896, escreve Machado de Assis: “As palavras de Diderot que vão por epigrafe no rosto desta coleção servem de desculpa aos que acharem excessivos tantos contos. É um modo de passar o tempo. (…) O tamanho não é o que faz mal a este género de histórias, é naturalmente a qualidade; mas há sempre uma qualidade nos contos que os torna superiores aos grandes romances, se uns e outos são medíocres: é serem curtos”. Os contos de Machado de Assis foram escritos diretamente, de modo consistente e abundante, para revistas, jornais e almanaques e as suas múltiplas qualidades culturais, literárias e sociais, que seguem o padrão de desenvolvimento do conto moderno, fazem dele um mestre da ficção curta. Último Capítulo é o primeiro de quatro volumes que reúnem a produção contística completa do autor. Cada volume contém um determinado período da sua escrita, seguindo uma ordem de publicação cronológica invertida, facultando ao leitor a possibilidade de compreender o auge da sua obra e depois, gradualmente, ir conhecendo a sua evolução, as suas raízes e as fontes de inspiração. LAE E-Primatur
Byung-Chul Han
A Crise da Narração
“Na modernidade tardia, que é a era digital, disfarçamos a mudez e a ausência de sentido da vida pelo gesto permanente de post, like e share. O ruído comunicativo e informativo cala o vazio inquietante da vida. A crise atual não consiste na escolha entre viver ou contar. Mas antes na escolha entre viver ou publicar”. Apoiando-se em citações do filósofo judeu alemão Walter Benjamin (1892-1940) sobre a modernidade, período que corresponde, entre outros fenómenos, à invenção do cinema, Byung-Chul Han estabelece um paralelismo com o nosso tempo, a modernidade tardia, e a dominância das redes sociais, que mobilizam a partilha de instantes, em tempo presente, das nossas vidas, desprovidos do recuo analítico e das conexões lacunares da memória, essenciais à narração. A Crise da Narração dá conta do indivíduo atual, menos investido na narração e redenção do seu tempo passado, e pertencente a uma comunidade de seres isolados que trocaram os valores da narração por uma corrente de informações que se diluem e geram um esquecimento coletivo. As narrativas da modernidade tardia “assemelham-se, em grande medida, à informação. Tal como esta, são efémeras, arbitrárias e consumíveis. Não conferem estabilidade à vida.” RG Relógio D’Água
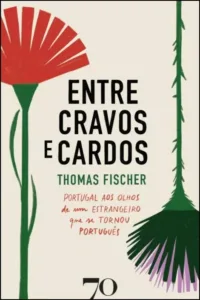
Thomas Fischer
Entre Cravos e Cardos
Aos 19 anos, no chamado Verão Quente de 1975, ao volante de um carocha verde, o alemão Thomas Fischer visitou Portugal pela primeira vez, seduzido pela Revolução dos Cravos e pelo seu clima exaltante de liberdade. A partir de 1983 passou a residir em Portugal. Quando em 2020 adquiriu a nacionalidade portuguesa, uma amiga enviou-lhe a seguinte mensagem: “Agora não comeces a chegar atrasado a todo o lado”. Jornalista de profissão, licenciado em Economia e Sociologia, acompanhou sempre de perto a atualidade política, económica e social do país. Neste livro, o autor alia os seus conhecimentos sobre a realidade portuguesa às suas experiências pessoais no país para, através de vários episódios reveladores, analisar o que na sua perspetiva correu bem e mal, passados 50 anos do 25 de Abril. Thomas reconhece os esforços para recordar a revolução e os seus protagonistas, mas considera que “nem sempre se presta a mesma atenção aos valores de Abril”. Somos ainda em muitas áreas “marcados pelo desenrascanço, pelo endividamento e pela emigração”, uma sociedade definida “pela desigualdade, por altos níveis de pobreza” e, ao mesmo tempo, “um paraíso para estrangeiros abastados”. E conclui: “Amar Portugal pode ser difícil, mas não deixa de ser um caso de amor aquilo que tenho com Portugal. Os Amores são assim.” LAE Edições 70

Judith Butler
A Pretensão de Antígona
Antígona é a protagonista da tragédia homónima de Sófocles, estreada em 441 a.C., em Atenas. Apesar da sua condição de mulher na Grécia antiga, segue a voz da consciência contra a vontade de Creonte, rei de Tebas. Através da sua coragem, tornou-se no símbolo perene de revolta feminina contra o poder e as leis dos homens. Judith Butler, uma das principais figuras teóricas contemporâneas do feminismo e da teoria queer, afirma: “Comecei há uns anos a pensar em Antigona ao perguntar-me o que teria acontecido a todo esse empenho feminista de confrontar e desafiar o Estado”. Nesta obra, propõe uma nova leitura do legado de Antígona, a célebre insurgente de Sófocles. Ao interrogar-se sobre as formas de parentesco que lhe poderiam ter permitido viver, confrontando o parentesco e o poder do Estado, a autora associa os intrépidos atos de Antígona às reivindicações das pessoas com relações de parentesco ainda por reconhecer, e demonstra como o parentesco heteronormativo continua a decidir o que deve, ou não, ser uma “vida vivível”. Procura recuperar, deste modo, o significado revolucionário desta figura clássica, integrando-o numa política sexual progressista. LAE Orfeu Negro
Mais Alto! é um concerto em viagem, pelo tempo e pelo espaço, onde se descobrem algumas das canções que uniram pessoas e que precisam de ser cantadas bem alto, para se fazerem ouvir. Porque há assuntos sobre os quais não se pode falar através de sussurros, mas sim, alto e bom som!
No ano em que se celebram os 50 anos da revolução de 25 de Abril, o concerto, que tem subido aos palcos de todo país procurando levar mais longe a ideia de que todos juntos, cantando bem alto, conseguimos atingir objetivos comuns, regressa com novas versões de canções conhecidas que cristalizam ideais democráticos e de liberdade, bem como canções de protesto.

“Nós fazemos versões de músicas que tenham algum cariz reivindicativo, e fazemo-lo para um público jovem. Essas músicas são comentadas pela Isabel Minhós ou pelo João Vaz Silva, a explicar o porquê, a contextualizar, a tentar mostrar a razão de ser destas canções”, explica o músico Afonso Cabral, que assume voz, teclado e baixo.
São músicas que fizeram sonhar, suspirar, conspirar… e talvez revolucionar todos os homens e mulheres que viviam atrás desta porta fechada que era Portugal, que, diz-se, até à revolução de 1974 era um país cinzento e triste.
“Apesar de Mais Alto! ser um concerto comentado de canções de intervenção, não se trata só de cantigas que associamos necessariamente ao 25 de Abril. Há essas, da autoria de José Mário Branco, Sérgio Godinho ou Zeca Afonso, mas também temos compositores mais nossos contemporâneos, como o Luís Severo ou o Benjamim”, reforça Francisca Cortesão (voz, guitarra acústica e guitarra elétrica), adiantando que “é, no fundo, um concerto para explicar qual é a importância da música nas revoluções e a importância das revoluções na música.”

Além dos espetáculos ao vivo, este mês é lançado, também, um livro-disco (Louva-a-Deus Edições) com algumas das canções que têm vindo a integrar o espetáculo. As músicas, as letras e as histórias (e a História) por detrás destas canções são algumas das surpresas que os leitores e ouvintes ali irão encontrar.
O primeiro single do livro-disco, que conta com textos de Isabel Minhós Martins (exceto as letras de músicas) e com as ilustrações de Bernardo P. Carvalho, já chegou às plataformas digitais. Chama-se Comida e é uma versão de um clássico dos brasileiros Titãs.
Os próximos espetáculos de Mais Alto!, que Afonso Cabral promete serem “divertidos e centrados nas canções do disco-livro”, estão agendados para os dias 27 de abril, às 16h30 e às 18h30, e 28 de abril, às 11h30 e às 16h30, no LU.CA – Teatro Luís de Camões. O lançamento do livro-disco acontece a 28 de abril, às 17h30 (depois do concerto). No dia 11 de maio, a banda atua no Auditório da Reitoria da Universidade Nova de Lisboa.
Estão a ouvir bem, ou é preciso pôr mais alto?
 José Fanha
José Fanha
Era uma vez o 25 de Abril
José Fanha viveu o 25 de Abril de 1974 com a mesma intensidade, emoção e espanto de muitos outros jovens de então. Com o passar dos anos, percebeu que os jovens de hoje pouco sabem acerca desses dias distantes. “As memórias são muito importantes. Tanto as das coisas boas como as das coisas más. Nós não podemos perder a memória e eu acho que nós falhámos, enquanto país, na transmissão da memória do 25 de Abril em relação aos mais novos. Eles não sabem o que era a vida antes de Abril”, diz o autor. Poeta e escritor, Fanha é, acima de tudo, um contador de histórias. E foi por isso que resolveu contar a história de como era Portugal antes da Revolução dos Cravos, como se desenrolaram os dias do 25 de Abril e como surgiu o Movimento das Forças Armadas que o fez acontecer. “Eu tinha 23 anos quando foi o 25 de Abril. Portanto, tenho uma data de histórias para contar. E este livro foi muito isso. Foi contar as histórias de antes e contar o espanto do que foi aquele dia. Foi um dia maravilhoso. É um grande orgulho que tenha sido a primeira revolução da história a não ter mortos. E ser a primeira revolução em que se põe uma flor no cano da espingarda. Uma coisa maravilhosa, não é?”, acrescenta. Arquiteto de formação, José Fanha tem obra espalhada por diversos géneros: romance, teatro, cinema, televisão e literatura infantojuvenil. Tem corrido o país desenvolvendo uma atividade intensa como contador de histórias. Nuvem de Letras

João Pedro Mésseder e Alex Gozblau
Romance do 25 de Abril
E se um menino se chamasse Portugal? Ou então: pode o Portugal do antes do 25 de Abril ser comparado a um menino? Ora, por que não? Ouçam, pois, a sua história: como cresceu e sofreu e lutou até, já adulto, ver realizado um sonho. E que sonho foi esse? O da liberdade, é claro. Mas imaginou também uma democracia e uma justiça que julgou possíveis no seu país à beira-mar. Esse país onde hoje o mesmo menino, homem feito agora, continua atento a sonhar com um mundo melhor. Editorial Caminho

José Jorge Letria e Hélder Teixeira Peleja
O meu primeiro 25 de Abril
Esta é a história de um Abril muito especial. Do Abril (o de 1974) que pôs fim à guerra colonial, à censura e aos muitos medos de todos os dias e de todas as horas. O dia 25 daquele mês foi um dia emocionante e único, que deu a Portugal um prestígio mundial invejável. A história, deste dia, ao ser contada, ganha um H maiúsculo porque se tornou mesmo História, com datas, grandes personagens e muitos sonhos para cumprir. Dom Quixote
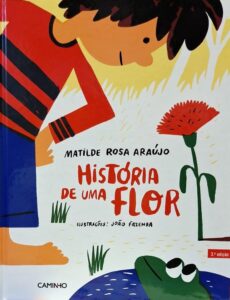
Matilde Rosa Araújo e João Fazenda
História de uma flor
Abordando temas como a liberdade, a celebração do 25 de Abril e a democracia, este livro conta a história de uma flor. Esta flor estava num canto escuro da terra sem sol que lhe desse cor, sem um olhar que a tocasse, sem as mãos do vento que a fizessem estremecer. Nas ruas havia flores vermelhas por toda a parte. No peito das mulheres, dos homens, nos olhos das crianças, nos canos silenciosos das espingardas. Nem era uma guerra, nem uma festa. Era o mundo de coração aberto. Editorial Caminho
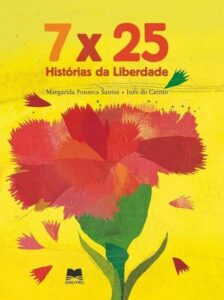
Margarida Fonseca Santos e Inês do Carmo
7 X 25 – Histórias da Liberdade
Este conjunto de sete contos onde as personagens principais falam na primeira pessoa são narrativas carregadas de simbologia: o semáforo que travou a revolução durante uns minutos, o lápis da censura que, de repente, se vê como um elemento criativo nas mãos de uma criança, a G3, o portão da prisão de Caxias, o megafone… Este livro oferece aos mais novos uma visão subjetiva daquilo que se passou nas primeiras horas do dia 25 de abril de 1974, fazendo o contraste entre a opressão e a liberdade. Gailivro
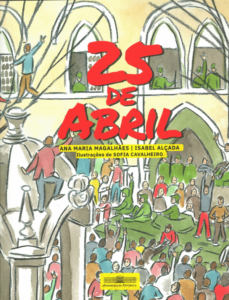
Ana Maria Magalhães, Isabel Alçada e Sofia Cavalheiro
25 de Abril
Parte integrante de um conjunto de publicações da Assembleia da República que leva ao conhecimento dos mais jovens os acontecimentos mais marcantes da nossa história, este número, dedicado ao 25 de Abril, relata através de textos e de imagens, a conjuntura que antecedeu e ditou a Revolução de Abril, bem como o período conturbado que se seguiu. Aqui, são abordados temas como a guerra colonial, a ditadura, a PIDE e os presos políticos, a democracia e o ato eleitoral. Assembleia da República
Raquel Costa
25 Mulheres. Uma Revolução no feminino
Este livro reúne 25 perfis femininos no caminho pela liberdade, dando a conhecer as histórias de 25 mulheres contadas pela sua voz. Esta viagem à sociedade portuguesa do início dos anos de 1970 espelha as contradições da condição feminina, com as quais ainda nos debatemos hoje, meio século depois. O que mudou? Como mudou? Como nos víamos na altura? Como nos vemos agora? Tal como o caminho para a liberdade, este é um livro em permanente construção. Oficina do Livro
paginations here
